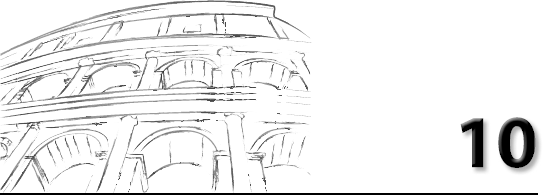
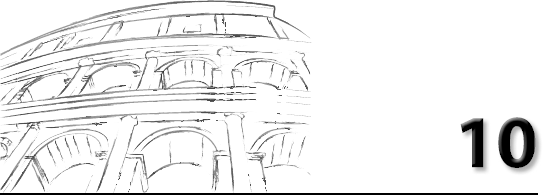
Sumário: 10.1. Introdução – 10.2. Meios de solução dos conflitos: 10.2.1. Introdução; 10.2.2. Jurisdição; 10.2.3. Equivalentes jurisdicionais – 10.3. Tutela específica das obrigações de fazer e não fazer: 10.3.1. Introdução; 10.3.2. Tutela jurisdicional; 10.3.3. Procedimento previsto pelo art. 84 do CDC – 10.4. Competência: 10.4.1. Introdução; 10.4.2. Competência da Justiça; 10.4.3. Competência territorial; 10.4.4. Competência do juízo – 10.5. Intervenções de terceiros: 10.5.1. Introdução; 10.5.2. Denunciação da lide; 10.5.3. Chamamento ao processo – 10.6. Litisconsórcio alternativo e o Código de Defesa do Consumidor – 10.7. Inversão do ônus da prova: 10.7.1. Ônus da prova; 10.7.2. Regras de distribuição do ônus da prova (art. 333 do CPC); 10.7.3. Inversão do ônus da prova; 10.7.4. Momento de inversão do ônus da prova; 10.7.5. Inversão da prova e inversão do adiantamento de custas processuais.
Conforme ficou claro na parte da presente obra que cuida dos aspectos materiais do direito do consumidor, existe uma nítida disparidade de condições entre ele e o fornecedor, sendo todo o arcabouço legislativo material criado para equilibrar a relação entre eles. As normas são protetivas porque, invariavelmente, consideram a situação de desvantagem do consumidor, não sendo o diploma legal chamado “Código de Defesa do Consumidor” sem razão.
No plano do direito processual, era natural que se desse o mesmo fenômeno, com a criação de normas procedimentais protetivas ao consumidor, até porque, conforme ensina a melhor doutrina a respeito do tema, “sem essas garantias processuais, os direitos materiais tornam-se normas programáticas sem maior contato com a realidade e o cotidiano dos cidadãos. Não basta, portanto, garantir a defesa do consumidor no plano material; é preciso garanti-la também no plano processual”1.
O tratamento diferenciado destinado no plano do direito material ao consumidor é ainda mais justificável no plano do direito processual em razão da tradicional diferença entre as espécies de litigantes formadas por consumidores e fornecedores. Enquanto os primeiros são chamados de litigantes eventuais, porque não participam de processos judiciais com frequência2, os segundos são chamados de litigantes habituais (ou contumazes), porque são frequentes clientes do Poder Judiciário, invariavelmente no polo passivo das demandas.
Conforme dados de pesquisa divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no mês de março do ano de 2011, a respeito dos maiores litigantes no Poder Judiciário brasileiro, se nota com clareza a presença de fornecedores como litigantes habituais. Dos dez maiores litigantes da lista, cinco são instituições financeiras e um é empresa de telefonia. Os bancos respondem por 38% das ações judiciais em trâmite e as empresas de telefonia por 6%, dando uma exata dimensão da quantidade de ações consumeristas e da presença constante desses fornecedores em tais demandas.
A existência de um litigante habitual contra um litigante eventual já causa um desequilíbrio entre as partes, considerando-se que, no primeiro caso, existe uma organização montada para atuação nos litígios judiciais, além de serem acostumados aos seus meandros e à frequente demora para a concessão de uma tutela jurisdicional definitiva. O consumidor, pouco afeito ao mundo judicial, é invariavelmente alguém que não está acostumado com o processo, e tampouco tem uma organização fixa para enfrentar as complexidades, demora e custos advindos da batalha judicial.
Some-se a isso a frequente disparidade econômica entre ambos, característica que permite ao fornecedor suportar o exorbitante tempo que uma ação judicial pode tomar e os custos gerados por ela de forma muito mais confortável que o consumidor. Preparado, acostumado e com folga patrimonial para aguentar o processo, o fornecedor, como litigante contumaz, ou habitual, sempre estará em posição de vantagem sobre o consumidor.
A regra de que a lei deve tratar todos de forma igual (art. 5.º, caput e inciso I, da CF) aplica-se também ao processo, devendo tanto a legislação como o juiz no caso concreto garantir às partes uma “paridade de armas” (art. 125, I, do CPC), como forma de manter equilibrada a disputa judicial entre elas. A isonomia no tratamento processual das partes é forma, inclusive, de o juiz demonstrar a sua imparcialidade, porque demonstra que não há favorecimento de qualquer uma delas.
O princípio da isonomia, entretanto, não pode se esgotar num aspecto formal, pelo qual basta tratar todos igualmente que estará garantida a igualdade das partes, porque essa forma de ver o fenômeno está fundada na incorreta premissa de que todos sejam iguais. É natural que, havendo uma igualdade entre as partes, o tratamento também deva ser igual, mas a isonomia entre sujeitos desiguais só pode ser atingida por meio de um tratamento também desigual, na medida dessa desigualdade. O objetivo primordial na isonomia é permitir que concretamente as partes atuem no processo, dentro do limite do possível, no mesmo patamar. Por isso, alguns sujeitos, seja pela sua qualidade, seja pela natureza do direito que discutem em juízo, têm algumas prerrogativas que diferenciam seu tratamento processual dos demais sujeitos, como forma de equilibrar a disputa processual.
No caso do consumidor em juízo, a efetivação do princípio da isonomia real depende de um tratamento diferenciado, com proteções maiores dispensadas a ele, de forma que tenha condições equânimes de enfrentar o fornecedor. Nada mais do que tratar os desiguais desigualmente, na medida de suas desigualdades.
A defesa individual do consumidor em juízo não mereceu do legislador o mesmo cuidado que este despendeu para a defesa coletiva. Ainda que existam dispositivos comuns a essas duas formas de defesa, é inegável que a maior parte das normas processuais consumeristas diz respeito exclusivamente à tutela coletiva do consumidor. Tamanha a relevância do Código de Defesa do Consumidor para a tutela coletiva que o diploma legal faz parte do núcleo duro do microssistema coletivo, sendo, inclusive, aplicável a direitos coletivos lato sensu de outras naturezas que não a consumerista3.
De qualquer forma, a menor preocupação do legislador quanto à tutela jurisdicional individual do consumidor já é o suficiente para o apontamento de alguns dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que criam algumas prerrogativas processuais, sempre com o objetivo de facilitar o exercício de sua ampla defesa no caso concreto. Não há, entretanto, uma ação específica e exclusiva à disposição do consumidor, como também não está previsto na Lei 8.078/1990 um procedimento especialmente criado para a sua tutela individual. O que se tem são algumas regras legais que tratam de forma diferenciada o consumidor em sua atuação processual.
A opção do legislador por previsões esparsas, sem a criação de uma estrutura procedimental para a tutela individual do consumidor, fica clara na redação do art. 83 do CDC, que garante, para a defesa do direito do consumidor – individual e coletiva –, a utilização de todas as ações capazes de propiciar a adequada e efetiva tutela dos interesses consagrados no referido diploma. Ou seja, o consumidor pode se valer de todas as ações, procedimentos e espécies de tutela jurisdicional presentes no sistema processual, não existindo especificamente na Lei 8.078/1990 qualquer criação nesse sentido.
Por outro lado, reconhecendo-se a criação de um microssistema pelo Código de Defesa do Consumidor, e não havendo a criação de ações ou procedimentos específicos para a tutela individual do consumidor, é natural a constante aplicação das regras procedimentais constantes do Código de Processo Civil. O próprio art. 90 da Lei 8.078/1990 prevê essa aplicação naquilo que não contrariar as regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil.
Como são poucas as regras procedimentais previstas na Lei 8.078/1990 que regulamentam a atividade processual do consumidor individual em juízo, será natural uma frequente e constante utilização das normas consagradas no Código de Processo Civil, não sendo interessante nesta obra tratar de temas que não são de aplicação exclusiva à defesa individual dos direitos do consumidor em juízo. Dessa forma, o presente capítulo tem como pretensão abordar os aspectos diferenciais constantes na Lei 8.078/1990.
O sistema jurídico brasileiro disponibiliza às partes variadas formas de solução dos conflitos, sendo possível elencar a jurisdição, a autotutela, a autocomposição e a arbitragem. A pretensão, no presente capítulo, é analisar como essas diferentes formas de solução de conflitos aplicam-se ao direito do consumidor.
A jurisdição pode ser entendida como a atuação estatal visando à aplicação do direito objetivo ao caso concreto, resolvendo-se com definitividade uma situação de crise jurídica e gerando com tal solução a pacificação social. Note-se que neste conceito não consta o tradicional entendimento de que a jurisdição se presta a resolver um conflito de interesses entre as partes, substituindo suas vontades pela vontade da lei. Primeiro, porque nem sempre haverá conflito de interesses a ser resolvido, e segundo, porque nem sempre a atividade jurisdicional substituirá a vontade das partes, conforme será devidamente analisado em momento oportuno.
Há doutrina que prefere analisar a jurisdição sob três aspectos distintos: poder, função e atividade4. O poder jurisdicional é o que permite o exercício da função jurisdicional, que se materializa no caso concreto por meio da atividade jurisdicional. Essa intersecção é natural e explicável por tratar-se de um mesmo fenômeno processual, mas, ainda assim, é interessante a análise conforme sugerido, porque com isso tem-se uma apuração terminológica sempre bem-vinda. É importante não confundir as expressões “poder jurisdicional”, “função jurisdicional” e “atividade jurisdicional”.
Entendida como poder, a jurisdição representa o poder estatal de interferir na esfera jurídica dos jurisdicionados, aplicando o direito objetivo ao caso concreto e resolvendo a crise jurídica que os envolve. Há tempos se compreende que o poder jurisdicional não se limita a dizer o direito (juris-dicção), mas também de impor o direito (juris-satisfação). Realmente, de nada adiantaria a jurisdição dizer o direito, mas não reunir condições para fazer valer esse direito concretamente. Note-se que a jurisdição como poder é algo que depende essencialmente de um Estado organizado e forte o suficiente para interferir concretamente na esfera jurídica de seus cidadãos.
Tradicionalmente, a jurisdição (juris-dicção) era entendida como a atuação da vontade concreta do direito objetivo (Chiovenda), sendo que a doutrina se dividia entre aqueles que entendiam que essa atuação derivava de a sentença fazer concreta a norma geral (Carnelutti) ou criar uma norma individual com base na regra geral (Kelsen). Contemporaneamente, notou-se que tais formas de enxergar a jurisdição estavam fundadas em um positivismo acrítico e no princípio da supremacia da lei, o que não mais atendia às exigências de justiça do mundo atual. Dessa forma, autorizada doutrina passa a afirmar que a jurisdição deveria se ocupar da criação, no caso concreto, da norma jurídica, resultado da aplicação da norma legal à luz dos direitos fundamentais e dos princípios constitucionais de justiça. Reconhece ainda essa nova visão da jurisdição que não adianta somente a edição da norma jurídica (juris-dicção), sendo necessário tutelar concretamente o direito material, o que se fará pela execução (juris-satisfação)5.
Como função, a jurisdição é o encargo atribuído pela Constituição Federal, em regra, ao Poder Judiciário – função típica –, e, excepcionalmente, a outros Poderes – função atípica –, de exercer concretamente o poder jurisdicional. A função jurisdicional não é privativa do Poder Judiciário, como se constata nos processos de impeachment do Presidente da República realizados pelo Poder Legislativo (arts. 49, IX, e 52, I, da CF), ou nas sindicâncias e processos administrativos conduzidos pelo Poder Executivo (art. 41, § 1.º, II, da CF), ainda que nesses casos não haja definitividade. Também o Poder Judiciário não se limita ao exercício da função jurisdicional, exercendo de forma atípica – e bem por isso excepcional – função administrativa (p. ex., organização de concursos públicos) e legislativa (p. ex., elaboração de Regimentos Internos de tribunais)6.
Como atividade, a jurisdição é o complexo de atos praticados pelo agente estatal investido de jurisdição no processo. A função jurisdicional se concretiza por meio do processo, forma que a lei criou para que tal exercício se fizesse possível. Na condução do processo, o Estado, ser inanimado que é, investe determinados sujeitos do poder jurisdicional para que possa, por meio da prática de atos processuais, exercer concretamente tal poder. Esses sujeitos são os juízes de direito, que, por representarem o Estado no processo, são chamados de “Estado-juiz”.
Como se verifica em praticamente todas as espécies de conflitos de interesses, aqueles que envolvem o consumidor e o fornecedor são em sua maioria resolvidos por meio da jurisdição. A cultura do processo (litigiosidade) existente entre os operadores do Direito, bem como na população em geral, leva a maioria das crises jurídicas consumeristas ao Poder Judiciário, na busca de uma solução impositiva do juiz que resolva o conflito de interesses. O aspecto positivo para o consumidor é que em sua tutela serão cabíveis quaisquer espécies de ação judicial, nos termos do art. 83 do CDC, bem como cabe ao juiz a facilitação da defesa dos interesses do consumidor em juízo, nos termos do art. 6.º, VIII, do mesmo diploma legal.
O Estado não tem, por meio da jurisdição, o monopólio da solução dos conflitos, sendo admitidas pelo Direito outras maneiras pelas quais as partes possam buscar uma solução do conflito em que estão envolvidas. São chamadas de equivalentes jurisdicionais ou de formas alternativas de solução dos conflitos. Há três espécies reconhecidas por nosso direito: autotutela, autocomposição e arbitragem.
É a forma mais antiga de solução dos conflitos, constituindo-se fundamentalmente pelo sacrifício integral do interesse de uma das partes envolvida no conflito em razão do exercício da força pela parte vencedora. Por “força” deve-se entender qualquer poder que a parte vencedora tenha condições de exercer sobre a parte derrotada, resultando na imposição de sua vontade. O fundamento dessa força não se limita ao aspecto físico, podendo-se verificar nos aspectos afetivo, econômico, religioso etc.
É evidente que uma solução de conflitos resultante do exercício da força não é a forma que se procura prestigiar num Estado democrático de direito. Aliás, pelo contrário, a autotutela lembra as sociedades mais rudimentares, nas quais a força era sempre determinante para a solução dos conflitos, pouco importando de quem era o direito objetivo no caso concreto. Como, então, a autotutela continua a desempenhar papel de equivalente jurisdicional ainda nos tempos atuais?
Primeiro, é preciso observar que a autotutela é consideravelmente excepcional, sendo raras as previsões legais que a admitem. Como exemplos, é possível lembrar a legítima defesa (art. 188, I, do CC); apreensão do bem com penhor legal (art. 1.467, I, do CC); desforço imediato no esbulho (art. 1.210, § 1.º, do CC). A justificativa é de que o Estado não é onipresente, sendo impossível estar em todo lugar e a todo momento para solucionar violações ou ameaças ao direito objetivo, de forma que em algumas situações excepcionais é mais interessante ao sistema jurídico, diante da ausência do Estado, a solução pelo exercício da força de um dos envolvidos no conflito.
Segundo, e mais importante, a autotutela é a única forma de solução alternativa de conflitos que pode ser amplamente revista pelo Poder Judiciário, de modo que o derrotado sempre poderá judicialmente reverter eventuais prejuízos advindos da solução do conflito pelo exercício da força de seu adversário. Trata-se, portanto, de uma forma imediata de solução de conflitos, mas que não recebe os atributos da definitividade, sempre podendo ser revista jurisdicionalmente.
De qualquer forma, tem rara aplicação no campo consumerista, podendo ser lembrada como exemplo o direito do hoteleiro em manter a bagagem do cliente que não quita sua conta no momento de sair do hotel. A raridade de sua existência no sistema de solução de conflitos é uma boa notícia para o consumidor, porque, sendo uma forma de solução baseada na força de uma das partes, é presumível que o fornecedor seja sempre o vencedor da disputa, dada a reconhecida hipossuficiência do consumidor nesta relação jurídica.
A autocomposição é uma interessante e cada vez mais popular forma de solução dos conflitos sem a interferência da jurisdição, estando fundada no sacrifício integral ou parcial do interesse das partes envolvidas no conflito, mediante a vontade unilateral ou bilateral de tais sujeitos. O que determina a solução do conflito não é o exercício da força, como ocorre na autotutela, mas a vontade das partes, o que é muito mais condizente com o Estado democrático de direito em que vivemos. Inclusive, é considerada atualmente um excelente meio de pacificação social, porque inexiste no caso concreto uma decisão impositiva, como ocorre na jurisdição, valorizando-se a autonomia da vontade das partes na solução dos conflitos.
A autocomposição é um gênero, do qual são espécies a transação – a mais comum –, a submissão e a renúncia. Na transação há um sacrifício recíproco de interesses, sendo que cada parte abdica parcialmente de sua pretensão para que se atinja a solução do conflito. Trata-se do exercício de vontade bilateral das partes, visto que, quando um não quer, dois não fazem a transação. Na renúncia e na submissão, o exercício de vontade é unilateral, podendo até mesmo ser consideradas soluções altruístas do conflito, levando em conta que a solução decorre de ato da parte que abre mão do exercício de um direito que teoricamente seria legítimo. Na renúncia, o titular do pretenso direito simplesmente abdica de tal direito, fazendo-o desaparecer juntamente com o conflito gerado por sua ofensa, enquanto na submissão o sujeito se submete à pretensão contrária, ainda que fosse legítima sua resistência.
Cumpre observar que, embora sejam espécies de autocomposição, e por tal razão formas de equivalentes jurisdicionais, a transação, a renúncia e a submissão podem ocorrer também durante um processo judicial, sendo que a submissão, nesse caso, é chamada de reconhecimento jurídico do pedido, enquanto a transação e a renúncia mantêm a mesma nomenclatura. Verificando-se durante um processo judicial, o juiz homologará por sentença de mérito a autocomposição (art. 269, II, III, V, do CPC), com formação de coisa julgada material. Nesse caso, é importante perceber que a solução do conflito deu-se por autocomposição, derivada da manifestação da vontade das partes, e não da aplicação do direito objetivo ao caso concreto (ou ainda da criação da norma jurídica), ainda que a participação homologatória do juiz tenha produzido uma decisão apta a gerar a coisa julgada material. Dessa forma, tem-se certa hibridez: substancialmente, o conflito foi resolvido por autocomposição, mas formalmente, em razão da sentença judicial homologatória, há o exercício de jurisdição.
Atualmente, nota-se um incremento na autocomposição, em especial na transação, o que, segundo parcela significativa da doutrina, representa a busca pela solução de conflitos que mais gera a pacificação social, uma vez que as partes, por sua própria vontade, resolvem o conflito e dele saem sempre satisfeitas. Ainda que tal conclusão seja bastante discutível, por desconsiderar no caso concreto as condições que levaram as partes, ou uma delas, à autocomposição, é inegável que o tema “está na moda”.
A mediação é forma alternativa de solução de conflitos fundada no exercício da vontade das partes, mas não se confunde com a autocomposição, porque, enquanto nesta haverá necessariamente um sacrifício total ou parcial dos interesses da parte, naquela, a solução não traz qualquer sacrifício aos interesses das partes envolvidas no conflito. Para tanto, diferente do que ocorre na autocomposição, em especial a transação, a mediação não é centrada no conflito em si, mas sim em suas causas.
A mera perspectiva de uma solução de conflitos sem qualquer decisão impositiva e que preserve plenamente o interesse de ambas as partes envolvidas no conflito torna a mediação ainda mais interessante que a autocomposição em termos de geração de pacificação social.
Por outro lado, diferente do conciliador, o mediador não propõe soluções do conflito às partes, mas as conduz a descobrirem as suas causas de forma a possibilitar sua remoção e assim chegarem à solução do conflito. Portanto, as partes envolvidas chegam por si sós à solução consensual, tendo o mediador apenas a tarefa de induzi-las a tal ponto de chegada. O sentimento de capacidade que certamente será sentido pelas partes também é aspecto que torna a mediação uma forma alternativa de solução de conflitos bastante atraente.
Não existe qualquer vedação à solução do conflito consumerista por meio da autocomposição, que ocorre, em regra, por meio da transação e, mais raramente, pela mediação. Ainda que se reconheça a natureza de ordem pública e interesse social das normas previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 1º da Lei 8.078/1990, não parece haver resistência doutrinária séria a respeito da disponibilidade do direito do consumidor individualmente considerado. Dessa forma, qualquer forma de solução do conflito que dependa da vontade do consumidor é legítima.
Registro, entretanto, que, no campo da autocomposição, a forma preferível para a solução do conflito, ainda que nem sempre possível, é a mediação. A solução pela autocomposição, em especial a transação, pode não trazer a tal almejada pacificação social, propagandeada aos quatro cantos como efeito natural da transação (também chamada rotineiramente de conciliação). As ostensivas campanhas capitaneadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como a que tem como título “conciliar é legal”, devem ser analisadas com cuidado no campo consumerista.
A pacificação social tem como objetivo precípuo a solução da chamada “lide sociológica”7. De nada adianta resolver o conflito no aspecto jurídico, se no aspecto fático persiste a insatisfação das partes, o que naturalmente contribui para a manutenção do estado beligerante entre elas. A solução jurídica da demanda deve necessariamente gerar a pacificação no plano fático, em que os efeitos da jurisdição são suportados pelos jurisdicionados. Daí a visão de que a transação é uma excelente forma de resolver a “lide sociológica”, porque o conflito se resolve sem a necessidade de decisão impositiva de um terceiro8. No direito consumerista, entretanto, alguns fatores devem ser levados em consideração.
É certo que, em toda transação, as partes envolvidas no conflito devem sacrificar alguma parcela de seu interesse inicial, sem o que não se chega a qualquer solução consensual baseada em sucumbências recíprocas. O problema, em meu entender, é a enorme disparidade existente na maioria das vezes entre fornecedor e consumidor, o que leva a distorções na transação e, por consequência, apesar de resolver o conflito jurídico, fica longe da pacificação social.
Deve se considerar que o fornecedor não só tem o poder econômico em seu favor, como, sendo um litigante contumaz, pode aguentar a absurda demora de um processo judicial. O consumidor, por sua vez, é um litigante eventual, não estando acostumado com as incertezas e demoras do processo. Além disso, invariavelmente não tem condição econômica para suportar anos e anos à espera do reconhecimento e satisfação de seu direito em juízo. Não se discute que o aspecto econômico e da demora no processo são integrantes de qualquer transação, entre quaisquer sujeitos, em qualquer lugar do mundo. Sujeitos em posição econômica assemelhada e que saibam que a solução judicial será fornecida em pouco tempo têm menor disposição para transacionar, mas ainda assim podem preferir a transação. No Brasil, entretanto, as diferenças econômicas entre fornecedores e consumidores é tão significativa, e o processo demora tanto para chegar a um desfecho, que muitas vezes o consumidor é impelido a fazer uma transação que não lhe agrada completamente, firme no princípio de que “é melhor um acordo ruim do que um processo bom”.
Quero deixar claro que não sou contra a transação como forma de solução de conflitos nas relações consumeristas, mas que não me deixo levar pela onda de entusiasmo desenfreado pelas alegadas qualidades dessa forma de resolução. Certamente é uma visão romântica, até mesmo ingênua, mas prefiro entender que, se o processo funcionasse de maneira mais adequada, e os consumidores não se encontrassem em situação de dificuldade financeira – quando não de penúria –, as transações poderiam ser mais justas, obtendo-se nesse caso a tão desejada pacificação social.
De qualquer forma, em razão das distorções indicadas, prefiro a mediação nos conflitos consumeristas, porque nesse caso será possível a solução do conflito sem o sacrifício do interesse do consumidor, o que, por si só, gera uma maior probabilidade de resolver a chamada “lide sociológica”.
O PLNCPC mostra sua grande preocupação com os equivalentes jurisdicionais já em seu art. 3º. No caput do dispositivo, repete-se a promessa constitucional consagrada no art. 5º, XXXV, da CF, de que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Conforme já defendido com a devida profundidade, o princípio da inafastabilidade da jurisdição deve ser analisado à luz do acesso à ordem jurídica justa, o que certamente não será afetado pelo PLNCPC, bem ao contrário.
Nos três parágrafos há previsão dos chamados “meios alternativos” de solução dos conflitos. Registro que não concordo com a parcela doutrinária que prefere renomear a autocomposição e a mediação como “meios adequados” de solução dos conflitos, porque adequado é resolver o conflito, não se podendo afirmar a priori ser um meio mais adequado do que outro. Se esses são os meios adequados, o que seria a jurisdição? O meio inadequado de solução de conflitos? Compreendo que atualmente não seja mais apropriado falar em meios alternativos, o que daria uma ideia de subsidiariedade a tais meios de solução de conflitos, mas certamente chamá-los de meios adequados não parece mais conveniente. Por isso será preferível chamá-los simplesmente de equivalentes jurisdicionais.
De qualquer forma, no § 1º está prevista a possibilidade da arbitragem, na forma da lei. No § 2º tem-se a recomendação de que o Estado promova, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, enquanto o § 3º prevê que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por magistrados, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.
O PLNCPC, entretanto, não ficou apenas em disposições principiológicas, em especial no que se refere às formas consensuais de solução de conflitos. Há um capítulo inteiro destinado a regulamentar a atividade dos conciliares e dos mediadores judiciais (arts. 166-176), inclusive fazendo expressamente a distinção entre conciliação (melhor teria sido usar autocomposição) e mediação.
Nos termos do art. 166, § 3º, do PLNCPC, o conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não tiver havido vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Já o § 4º do mesmo artigo prevê que o mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que tiver havido vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos.
Os princípios que devem nortear a conciliação e a mediação estão previstos no art. 167, caput, do PLNCPC: independência, imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada.
Em razão do sigilo que deve nortear o trabalho do conciliador e do mediador, as informações produzidas no curso do procedimento não podem ser utilizadas para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes (§ 1º), estando o conciliador e o mediador proibidos de divulgar e impedidos de depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação (§ 2º). A melhor doutrina lembra que o caráter de sigilo não é absoluto, devendo ser aplicado o art. 1º, I, Anexo III, da Resolução do CNJ 125, que afasta o sigilo na hipótese de expressa autorização das partes, violação à ordem pública ou às leis vigentes.
Nos termos do § 3º, não ofende o principio da imparcialidade a aplicação de técnicas negociais, com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. O dispositivo garante o ativismo do mediador e conciliador, de forma a não se tornar um mero espectador do debate entre as partes. E o § 4º prevê que a autonomia de vontades se estenda inclusive no tocante à definição das regras procedimentais a serem adotadas na conciliação ou mediação.
Segundo o art. 166, caput, do PLNCPC, deverão os tribunais criar centros judiciários de solução consensual de conflitos, que ficarão responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, bem como pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. E, nos termos do § 1º, caberá ao tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça, definir a composição e a organização de tais centros. Já o art. 168 prevê que os tribunais manterão cadastro de conciliadores e mediadores e das câmaras privadas de conciliação e mediação, que conterá o registro dos habilitados, com indicação de sua área profissional.
Como se pode notar, nem sempre haverá uma vinculação direta do conciliador ou mediador com o Poder Judiciário, considerando-se a possibilidade de utilização de membros que componham uma câmara privada. Essa circunstância só será possível se o tribunal não optar pela criação de um quadro próprio de conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público, conforme lhe faculta o art. 168, § 2º, do PLNCPC.
Segundo o art. 175 do PLNCPC, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como: (I) dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública; (II) avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da administração pública; (III) promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta.
Apesar de existirem requisitos para que um sujeito possa ser cadastrado no Tribunal como conciliador ou mediador (art. 168, § 1º), não há no PLNCPC qualquer exigência expressa para o cadastramento das câmaras privadas de conciliação e mediação, havendo apenas uma contrapartida prevista no art. 170, § 2º, com a determinação pelo tribunal do percentual de audiências não remuneradas com o fim de atender aos processos em que haja concessão dos benefícios da assistência judiciária.
Dos sujeitos que pretendam se cadastrar no Tribunal, passando a integrar os quadros dos centros judiciários de solução consensual de conflitos, o art. 168, § 1º, do PLNCPC exige ao menos uma capacitação mínima, adquirida por meio de curso realizado por entidade credenciada ou pelo próprio tribunal, conforme parâmetro curricular mínimo definido pelo Conselho Nacional de Justiça.
Uma vez efetivado o registro, o art. 168, § 2º, determina que o diretor do foro onde atuará o conciliador ou o mediador receba os dados necessários para sua inclusão em lista, para efeito de distribuição alternada e aleatória, observado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional. Nos termos do art. 172, no caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador ou mediador informará o fato ao centro, preferencialmente por meio eletrônico, para que, durante o período em que perdurar a impossibilidade, não haja novas distribuições.
E a atuação dos conciliadores e mediadores poderá ser acompanhada porque o art. 168, § 3º, exige que do cadastro constem todos os dados relevantes de sua atuação, como número de causas de que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes. Com uma publicação ao menos anual dessas informações, será possível não só avaliar o trabalho feito, bem como colher dados estatísticos que demonstrem a sua produtividade.
As causas de exclusão do cadastro estão previstas no art. 174 do PLNCPC. Será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que: (I) agir com dolo ou culpa na condução da conciliação ou da mediação sob sua responsabilidade, ou violar qualquer dos deveres decorrentes do art. 167, §§ 1º e 2º; (II) atuar em procedimento de mediação ou conciliação, apesar de impedido ou suspeito. A exclusão depende de decisão proferida em processo administrativo (§ 1º), podendo o juiz coordenador do centro de conciliação e mediação ou o juiz da causa afastar temporariamente o conciliador e mediador pelo prazo máximo de cento e oitenta dias, por decisão fundamentada, informando o fato imediatamente ao tribunal para instauração do respectivo processo administrativo (§ 2º).
Registre-se que qualquer sujeito que se mostre capacitado poderá atuar como conciliador ou mediador, mas, sendo esse sujeito advogado, o art. 168, § 5º, prevê o impedimento do exercício da advocacia nos juízos em que exerça suas funções. E o art. 173 do PLNCPC prevê que o conciliador e o mediador ficam impedidos, pelo prazo de um ano, contado do término da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes, o que é importante para se evitar o aliciamento de clientes.
No caso concreto, cabe às partes a escolha, de comum acordo, do conciliador, do mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação (art. 169, caput), sendo que nesse caso o escolhido não precisa estar cadastrado junto ao tribunal (art. 169, § 1º). Somente quando não houver acordo entre as partes haverá distribuição entre os cadastrados no registro do Tribunal (art. 169, § 2º). Em qualquer das hipóteses, por acordo das partes ou por imposição do juízo, desde que haja tal necessidade, não só é possível como, nos termos do art. 169, § 3º, é recomendável a designação de mais de um mediador ou conciliador.
O conciliador e mediador não devem atuar em caso de impedimento, devendo tal circunstância ser imediatamente comunicada para que seja indicado outro sujeito para o trabalho (art. 171, caput, do PLNCPC). E, uma vez já iniciado os trabalhos, deve ser a atividade interrompida e o conciliador ou mediador substituído (art. 171, parágrafo único, do PLNCPC).
A realização do trabalho desenvolvido pelo conciliador ou mediador é, em regra, remunerada, na forma prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (art. 170, caput). Não há, entretanto, óbice para a realização de trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal (art. 170, § 1º).
A arbitragem é antiga forma de solução de conflitos fundada, no passado, na vontade das partes de submeterem a decisão a um determinado sujeito que, de algum modo, exercia forte influência sobre elas, sendo, por isso, extremamente valorizadas suas decisões. Assim, surge a arbitragem, figurando como árbitro o ancião ou o líder religioso da comunidade, que intervinha no conflito para resolvê-lo imperativamente.
Atualmente, a arbitragem mantém as principais características de seus primeiros tempos, sendo uma forma alternativa de solução de conflitos fundada basicamente em dois elementos: (i) as partes escolhem um terceiro de sua confiança que será responsável pela solução do conflito de interesses; e (ii) a decisão desse terceiro é impositiva, o que significa que resolve o conflito independentemente da vontade das partes.
A Lei de Arbitragem (Lei 9.307/1996) disciplina essa forma de solução de conflitos, privativa dos direitos disponíveis. Registre-se posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que admite a arbitragem em contratos administrativos envolvendo o Estado, tomando-se por base a distinção entre direito público primário e secundário. Nesse entendimento, para a proteção do interesse público primário (bem da coletividade), o Estado pratica atos patrimoniais, pragmáticos, cuja disponibilidade em prol da coletividade admite a solução por arbitragem.9
Após alguma vacilação na doutrina e jurisprudência, venceu a tese mais correta de que a arbitragem não afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5.º, XXXV, da CF/1988. O Supremo Tribunal Federal corretamente entendeu que a escolha entre a arbitragem e a jurisdição é absolutamente constitucional, afirmando que a aplicação da garantia constitucional da inafastabilidade é naturalmente condicionada à vontade das partes10. Se o próprio direito de ação é disponível, dependendo da vontade do interessado para se concretizar por meio da propositura da demanda judicial, também o será o exercício da jurisdição na solução do conflito de interesse.
Questão interessante a respeito da arbitragem diz respeito a sua genuína natureza de equivalente jurisdicional. Ainda que a doutrina majoritária defenda tal entendimento11, é preciso lembrar que importante parcela doutrinária defende a natureza jurisdicional da arbitragem, afirmando que, atualmente, a jurisdição se divide em jurisdição estatal, por meio da jurisdição, e jurisdição privada, por meio da arbitragem12. Para se ter uma ideia da confusão nesse tocante, bem como da pouca importância prática, registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça que ora trata a arbitragem como equivalente jurisdicional e ora como espécie de jurisdição privada13.
Para a corrente doutrinária que entende ser a arbitragem uma espécie de jurisdição privada, existem dois argumentos principais: (i) a decisão que resolve a arbitragem é atualmente uma sentença arbitral, não mais necessitando de homologação pelo juiz para ser um título executivo judicial (art. 475-N, IV, do CPC), o que significa a sua equiparação com a sentença judicial; (ii) a sentença arbitral torna-se imutável e indiscutível, fazendo coisa julgada material, considerando-se a impossibilidade de o Poder Judiciário reavaliar seu conteúdo, ficando tal revisão jurisdicional limitada a vícios formais da arbitragem e/ou da sentença arbitral, por meio da ação anulatória prevista pelos arts. 32 e 33 da Lei 9.307/1996.
Independentemente da natureza da arbitragem – solução alternativa de solução de conflitos ou jurisdição privada –, existe interessante polêmica a respeito do cabimento da arbitragem para a solução dos conflitos de natureza consumerista.
O art. 51, VII, do CDC, prevê ser nula de pleno direito a cláusula contratual que determine a utilização compulsória de arbitragem. Por outro lado, o art. 4.º, § 2.º, da Lei 9.307/1996, que regula a arbitragem e é posterior ao Código de Defesa do Consumidor, prevê que, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.
Aparentemente os dois dispositivos, ainda que interpretados em sua literalidade, podem conviver, até porque nem todo contrato consumerista é de adesão e vice versa. Assim, todo contrato consumerista, de adesão ou não, jamais poderia conter uma cláusula compromissória, enquanto os contratos de adesão não consumeristas só poderiam conter tal espécie de cláusula com os cuidados previstos no art. 4.º, § 2.º, da Lei 9.307/1996. A solução, entretanto, não é tão simples.
Antes de se passar propriamente à análise de como combinar da melhor forma possível os dois dispositivos legais, é importante lembrar, como faz a maioria da doutrina, que a exigência legal contida no art. 4.º, § 2.º, da Lei de Arbitragem é uma ilusão, porque, sendo o contrato de adesão, as cláusulas serão todas impostas ao aderente. Ainda que se destaque a cláusula, ou mesmo se estabeleça sua redação em separado, sendo o contrato de adesão, será difícil imaginar que a vontade do aderente foi determinante para sua formulação. Seriam, portanto, cuidados ineptos a tutelar efetivamente o aderente.
Nesse sentido as lições de Alexandre Freitas Câmara:
“Vale lembrar, porém, que no contrato de adesão o aderente simplesmente se submete às cláusulas impostas pelo proponente, o que leva a crer que, em muitos casos, o contrato só será celebrado se o aderente assinar também o documento anexo que institui a cláusula compromissória (ou dê sua assinatura ou visto especialmente para a cláusula compromissória constante, em negrito, do instrumento de contrato).”14
Deve-se descartar inicialmente a regra de hermenêutica que determina a prevalência da norma mais nova sobre a mais antiga, até mesmo porque as normas do Código de Defesa do Consumidor têm natureza de ordem pública, nos termos do art. 1.º da Lei 8.078/1990. Ademais, conforme já exposto, não são normas que versam rigorosamente sobre o mesmo tema, havendo, quando muito, pontos de contato entre ambas.
Não é difícil imaginar a razão de ser da regra prevista no art. 51, VII, do CDC. Sendo o fornecedor aquele que tem mais força na relação contratual, é fácil presumir a imposição ao consumidor não só da cláusula compromissória, como também a escolha do árbitro e a forma de solução a ser dada ao conflito, que poderá até mesmo seguir a regra da equidade, nos termos dos arts. 2.º e 11, II, da Lei 9.307/1996. A respeito do tema, vale a transcrição das lições de Joel Dias Figueira Jr.:
“Havemos ainda de assinalar que o problema objeto desta análise não reside propriamente no instituto jurídico da arbitragem, mas sim na sua inadequação, ou melhor, na pouca ou imperfeita compatibilidade para solucionar os conflitos de consumo, em face das regras e princípios orientadores dessas relações, notadamente o desequilíbrio que se constata em quase a totalidade dos contratos, em que o consumidor aparece como parte desproporcionalmente mais fraca em relação ao produtor ou fornecedor, por razões multifacetadas (...)”15.
Ainda que se desvirtue parcialmente o contrato de adesão, há corrente doutrinária que entende ser compatível a aplicação do art. 4.º, § 2.º, da Lei de Arbitragem, ainda que excepcionalmente, a contratos de adesão consumeristas. A excepcional hipótese seria contemplada por se estabelecer uma arbitragem voluntária, o que seria suficiente para afastar a aplicação do art. 51, VII, do CDC, que prevê ser nula de pleno direito apenas a cláusula que estabelece compulsoriamente a arbitragem no contrato de adesão.
Para Luiz Antonio Rizzatto Nunes, quando o consumidor for pessoa jurídica de grande porte e negociar, por meio de seu corpo de advogados ou assessoria jurídica as condições da cláusula compromissória, não se poderia apontar qualquer nulidade na avença entre as partes. Para o jurista, “esse é o mínimo da equivalência necessária entre as partes para que se possa discutir de forma equilibrada e consciente as cláusulas contratuais relativas à arbitragem”16.
Não vejo como discordar de tais lições, embora seja necessário se considerar que a situação descrita é de extrema raridade. O mais comum é o consumidor ser praticamente obrigado a assinar o contrato, sendo esse de adesão ou não. E nesses casos, que são os mais comuns, deve se considerar nula de pleno direito a cláusula compromissória?
O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que, sendo a cláusula imposta ao consumidor, o que ordinariamente se verifica nos contratos de adesão, aplica-se o art. 51, VII, do CDC, admitindo a nulidade de pleno direito da cláusula compromissória17. No mesmo sentido existem lições doutrinárias, sempre preocupadas com a imposição de vontade unilateral do fornecedor, a afastar a jurisdição como forma de solução dos conflitos consumeristas18. Mas já há decisão daquele tribunal que entende ser inviável apenas a celebração de cláusula compromissória, de forma que o compromisso arbitral pode ser livremente celebrado.19
Por outro lado, existe corrente doutrinária que defende a inaplicabilidade da regra prevista no art. 51, VII, do CDC, sempre que restar comprovado que a cláusula não foi imposta unilateralmente pelo fornecedor. Para Nelson Nery Jr., o art. 4.º, § 2.º, da Lei de Arbitragem “não é incompatível com o CDC, art. 51, VII, razão pela qual ambos os dispositivos legais permanecem vigorando plenamente. Com isso queremos dizer que é possível, nos contratos de consumo, a instituição de cláusula de arbitragem, desde que obedecida, efetivamente, a bilateralidade na contratação e a forma da manifestação da vontade, ou seja, de comum acordo (gré à gré)”20.
Acredito que as lições só têm aplicação prática nos contratos consumeristas que não sejam de adesão, nos quais excepcionalmente a vontade do consumidor na formulação das cláusulas é respeitada. Não vejo praticamente como crível um contrato de adesão em que o fornecedor tenha dado liberdade contratual ao consumidor-aderente tão somente no tocante à cláusula arbitral. Insisto que, na praxe forense, os contratos de adesão consumeristas não deixam qualquer brecha para criação por parte do consumidor, que ou assina o contrato como lhe é apresentado ou simplesmente deixa de assinar.
Por essa razão, prefiro a corrente doutrinária que defende a possibilidade de afastamento do art. 51, VII, do CDC, a depender do caso concreto. Ainda que o consumidor não tenha tido qualquer participação na formulação da cláusula arbitral, caso tenha consciência do que representa a solução pela via arbitral e, no momento de solução do conflito, não se oponha à solução por esse meio alternativo, não vejo porque considerar nula de pleno direito a cláusula contratual.
Nas felizes palavras de Joel Dias Figueira Jr., “em linha de princípio, a cláusula compromissória cheia ou vazia inserida em contrato de adesão ou padrão, com a observância dos parcos e insignificantes requisitos assinalados no § 2.º do art. 4.º da LA, é válida e eficaz entre as partes contratantes se e quando o consumidor concordar, em tempo oportuno, isto é, quando surgido o conflito entre as partes e o objeto for o inadimplemento do mesmo contrato, em instituir o juízo arbitral, mediante definição bilateral, voluntária e equitativa do termo de compromisso a ser firmado, conforme art. 10 da Lei 9.307/1996”21.
Exatamente por essa razão, entendo não ser aplicável o art. 51, VII, do CDC ao compromisso arbitral, que, diferentemente da cláusula compromissória22, depende da vontade de ambas as partes, depois de já instaurado o conflito entre elas. Nesse caso, mesmo derivando a crise jurídica de um contrato de adesão consumerista, o fornecedor não poderá impor ao consumidor a celebração do compromisso arbitral. Como o consumidor é capaz, ainda que hipossuficiente, podendo inclusive renunciar ao seu direito material, não vejo como impedir que opte livremente pela arbitragem na solução de seu conflito23.
Em síntese conclusiva, entendo que a cláusula arbitral imposta pelo fornecedor no contrato de adesão não deve ser considerada nula de pleno direito, mesmo diante da previsão do art. 51, VII, do CDC. Melhor será permitir ao consumidor escolher entre seguir na arbitragem ou rumar para o processo jurisdicional, hipótese em que o juiz decidirá pela nulidade da cláusula arbitral e julgará normalmente a demanda judicial. Esse entendimento, inclusive, preserva o consumidor quando o fornecedor alegar a nulidade de pleno direito da cláusula para escapar da arbitragem, ainda que desejada pelo consumidor.
O título III, do CDC, intitulado “Da defesa do consumidor em juízo”, trata de temas referentes tanto à defesa individual como coletiva do consumidor, havendo dispositivos que são voltados exclusivamente à tutela coletiva, como é o caso dos arts. 81, parágrafo único, 82 e 87, e outros que podem ser aplicados tanto à tutela coletiva como à tutela individual, como é o caso do art. 81, caput, 83, 84, 88 e 90. No presente capítulo se desenvolverá a análise do art. 84 do CDC, que, no ano de 1990, foi considerado uma interessante inovação no tocante à tutela inibitória no âmbito do direito consumerista.
Registre-se que, quatro anos após a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.952/1994 alterou a redação do art. 461 do CPC, dando a esse dispositivo o mesmo teor do art. 84 do CDC. Interessante notar que, tratando do mesmo tema, mas de forma mais ampla, já que aplicável a qualquer processo judicial, independentemente da natureza da relação jurídica de direito material discutida, o art. 461 do CPC passou por modernização que estranhamente não atingiu o art. 84 do CDC. Essa circunstância faz com que, mesmo tratando-se de direito consumerista, seja indispensável a aplicação do art. 461 do CPC no tocante às novidades que não estão contidas no art. 84 do CDC.
Por tutela jurisdicional entende-se a proteção prestada pelo Estado quando provocado por meio de um processo, gerado em razão da lesão ou ameaça de lesão a um direito material. Como se pode notar desse singelo conceito, a tutela jurisdicional é voltada para o direito material, daí ser correta a expressão “tutela jurisdicional de direitos materiais”. Assim como a jurisdição, a tutela jurisdicional é una e indivisível, mas academicamente permite-se sua classificação em diversas espécies, bastando para tanto a adoção de diferentes critérios, interessando ao presente capítulo especificamente dois deles.
Tomando-se por base o critério da coincidência de resultados gerados pela prestação da tutela jurisdicional com os resultados que seriam gerados pela satisfação voluntária da obrigação, a tutela jurisdicional pode ser classificada em tutela específica e tutela pelo equivalente em dinheiro. Na primeira, a satisfação gerada pela prestação jurisdicional é exatamente a mesma que seria gerada com o cumprimento voluntário da obrigação, enquanto na segunda a tutela jurisdicional prestada é diferente da natureza da obrigação e, por consequência, cria um resultado distinto daquele que seria criado com a sua satisfação voluntária.
A tutela específica é preferível à tutela pelo equivalente em dinheiro, porque essa espécie de tutela é a única que entrega ao vitorioso exatamente aquilo que ele obteria se não precisasse do processo, em razão do cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor. É a consagração do antigo brocardo consagrado por Chiovenda, de que o processo será tanto melhor quanto mais aproximar seus resultados daqueles que seriam gerados pelo cumprimento voluntário da obrigação (princípio da maior coincidência possível). Ocorre, entretanto, que a preferência da tutela específica sobre a tutela pelo equivalente em dinheiro está condicionada à vontade do demandante, que poderá optar pela segunda espécie de tutela se assim desejar, bem como diante da impossibilidade material de obtenção da tutela específica24. Para parcela da doutrina, ainda que possível, a tutela específica pode ser excluída quando não for justificável ou racional em razão de sua excessiva onerosidade25.
O art. 84, do CDC, tanto em seu caput como no § 1.º, demonstra de forma clara a opção do legislador pela tutela específica, reservando à tutela reparatória uma posição secundária no âmbito da satisfação judicial de obrigações. O § 1.º, em especial, prevê que a conversão em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente ao cumprimento voluntário da obrigação, sendo que o Superior Tribunal de Justiça também permite a conversão quando a obtenção da tutela específica for extremamente onerosa ao devedor.
Tratando-se de obrigação inadimplida de fazer e de não fazer, espécies de obrigações tuteladas pelo dispositivo legal comentado, é possível a tutela ser prestada tanto de forma específica como pelo equivalente em dinheiro, sendo essencial verificar a natureza do inadimplemento. Sendo o inadimplemento definitivo, o que significa dizer que não existe mais a possibilidade de cumprimento da obrigação, a única tutela jurisdicional possível será a tutela pelo equivalente em dinheiro. Caso ainda exista a possibilidade de cumprimento, quando haverá somente um retardamento no cumprimento da prestação, a tutela poderá ser prestada de forma específica, desde que esse ainda seja o interesse do credor.
Adotando-se o critério da natureza jurídica dos resultados jurídico-materiais, a tutela jurisdicional é dividida em duas espécies: tutela preventiva (tradicionalmente chamada de inibitória) e tutela reparatória (ressarcitória), sendo a primeira uma tutela jurisdicional voltada para o futuro, visando evitar a prática de ato ilícito, enquanto a segunda está voltada para o passado, visando o restabelecimento patrimonial do sujeito vitimado pela prática de um ato ilícito danoso.
A tutela preventiva é sempre voltada para o futuro, com o porvir, tendo como objetivo impedir a prática de um ato ilícito, o que pode ocorrer de três formas:
(a) evitar a prática originária do ato ilícito, ou seja, impedir em absoluto a ocorrência de tal ato, hipótese na qual a tutela reparatória será conhecida como tutela inibitória pura;
(b) impedir a continuação do ato ilícito, na hipótese de ato ilícito continuado;
(c) impedir a repetição de prática de ato ilícito.
Importante notar que, mesmo que exista ato ilícito já praticado, a tutela preventiva não é voltada para essa realidade, que já faz parte do passado e, portanto, será objeto da tutela reparatória. Sempre voltada para o futuro, a tutela preventiva não diz respeito e tampouco gera seus efeitos sobre aquilo que já ocorreu. A tutela preventiva, apesar de reconhecer o passado, é sempre voltada para o futuro, deixando o já ocorrido a cargo da tutela reparatória. É interessante anotar, inclusive, que a tutela preventiva e a tutela reparatória podem ser objeto de pretensão de um mesmo demandante num mesmo processo. O Ministério Público pode pedir a condenação do réu a parar com a poluição e a reparar o meio ambiente já lesado pela prática do ato ilícito, enquanto uma empresa pode pedir a proibição de veiculação de propaganda ofensiva a seu nome, bem como a condenação pelos danos já suportados pela propaganda já veiculada.
A tese da tutela inibitória funda-se na exata definição de ato ilícito, cuja prática se pretende evitar. Durante muito tempo, condicionou-se a prestação de tutela jurisdicional à existência de um dano, o que até se justificava à época em que se imaginava ser a tutela reparatória a única existente. A dificuldade pode ser facilmente percebida pelo art. 186 do CC, que, ao conceituar o ato ilícito, indica a necessidade da presença de três elementos: contrariedade ao direito, culpa ou dolo e dano. A imprecisão do dispositivo é evidente, considerando-se que o ato ilícito é tão somente o ato contrário ao direito, sendo alheios ao seu conceito os elementos da culpa ou dolo e do dano. O art. 186 do CC não conceitua o ato ilícito, descreve os elementos necessários para a obtenção da tutela reparatória.
Dessa forma, a tutela reparatória, sempre voltada para o passado, buscando a reparação do prejudicado, demanda ao menos dois elementos: ato contrário ao direito e dano, considerando-se que mesmo na tutela reparatória a culpa ou o dolo podem ser dispensados na hipótese de responsabilidade objetiva. A tutela inibitória, sempre voltada para o futuro, buscando evitar a prática do ato ilícito, preocupa-se exclusivamente com o ato contrário ao direito, sendo-lhe irrelevante a culpa ou o dolo e o dano26.
Cumpre lembrar a tese inteligentemente defendida por Marinoni, que diferencia a tutela inibitória da tutela de remoção do ilícito, reconhecendo que ambas são tutelas preventivas, voltadas para o futuro. Para o processualista paranaense, existe uma diferença entre efeitos continuados do ato ilícito e a prática continuada do ilícito. Na hipótese de o ato ser continuado, é possível imaginar uma tutela que impeça sua continuação, sendo o caso de tutela inibitória. Por outro lado, é possível que o ato ilícito faça parte do passado, não mais existindo, o que não se pode afirmar quanto aos seus efeitos, que continuam a ser gerados. Nessa hipótese, não se pode falar em evitar a continuação do ato, porque o ato ilícito já foi praticado na sua totalidade, por exemplo, no caso de uma propaganda enganosa que já foi realizada e continua a gerar seus efeitos. Será o caso de tutela de remoção do ilícito27.
A exata determinação do que seja tutela inibitória é de extrema importância para o art. 84 do CDC, porque existe uma indissolúvel relação entre a tutela específica, consagrada no dispositivo consumerista ora comentado, e a tutela inibitória. Na realidade, a tutela inibitória é sempre tutela específica porque, ao evitar a prática do ato ilícito, mantém-se o status quo, conseguindo o demandante a criação de uma situação que será exatamente a mesma que seria criada caso o demandado tivesse voluntariamente deixado de praticar o ato ilícito. O resultado da tutela inibitória sempre será idêntico àquele que seria criado com o voluntário cumprimento da obrigação28.
O art. 84 do CDC, exatamente como faz o art. 461 do CPC, não cria um novo procedimento no sistema processual, apenas prevê algumas técnicas procedimentais para a efetiva tutela do titular de direito que tenha como objeto obrigações de fazer e não fazer. São, entretanto, regras de extrema relevância que merecem análise mais aprofundada.
O art. 84, caput, prevê nas obrigações de fazer e não fazer a possibilidade de o juiz conceder a tutela específica ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento da obrigação. Como demonstra a melhor doutrina, o texto legal faz parecer que tutela específica e resultado equivalente são espécies diferentes de tutela jurisdicional, quando, na realidade, a liberdade concedida ao juiz para a obtenção do resultado prático equivalente é voltada justamente para a obtenção da tutela específica dos direitos materiais29.
O dispositivo legal ora comentado, portanto, não prevê duas espécies de tutela jurisdicional, mas apenas duas maneiras de se atingir a desejada tutela específica da obrigação. Quando menciona a tutela específica, quer dizer o acolhimento do pedido do autor, exatamente como formulado na petição inicial, e quando menciona o resultado prático equivalente ao adimplemento, apenas permite ao juiz que conceda algo que não foi expressamente pedido pelo autor, mas que gerará no plano prático a mesma situação que seria gerada com o acolhimento do pedido.
Como ensina a melhor doutrina, o dispositivo não prevê duas diferentes espécies de tutela, apenas excepciona o princípio da correlação consagrado no art. 460 do CPC:
“Outra importantíssima ressalva à limitação da tutela jurisdicional aos termos do pedido está no art. 461, caput, do Código de Processo Civil, que disciplina a tutela jurisdicional relativa às obrigações de fazer ou de não fazer (v. também art. 84, CDC). Esse é o significado do poder-dever, atribuído ao juiz, de determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento”30.
No tocante a execução de decisão judicial executável que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer e de não fazer, o art. 550 do PLNCPC pretende substituir o art. 461 do CPC/1973, o que deve também afetar o art. 84 do CDC.
A redação do caput de cada dispositivo é diferente: enquanto no art. 461 há previsão de que o juiz pode conceder a tutela específica ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, no art. 550 há previsão de que o juiz pode adotar medidas executivas para a efetivação da tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. A redação atual de fato é ruim, mas a do art. 550 do PLNCPC não parece muito melhor.
O texto do art. 461 do CPC faz parecer que tutela específica e resultado equivalente são espécies diferentes de tutela jurisdicional, quando, na realidade, a liberdade concedida ao juiz para a obtenção do resultado prático equivalente é voltada justamente para a obtenção da tutela específica dos direitos materiais.31 O texto do art. 550 do PLNCPC parece resolver esse problema, mas, ao centralizar a liberdade do juiz na execução da obrigação, parece vincular o juiz ao pedido do autor, não admitindo, dessa forma, que o juiz conceda tutela diferente da pedida, ainda que dela resulte um resultado prático ao que seria gerado com o acolhimento do pedido.
Ainda que o texto do projeto de lei não seja feliz ao centralizar a execução da obrigação, naturalmente posterior a sua fixação em sentença, continuo a acreditar que a norma permitirá a conclusão no sentido de excepcionar-se o princípio da adstrição nos pedidos condenatórios de obrigação de fazer e não fazer, podendo o juiz conceder tutela diferente daquela pedida pelo autor, desde que sua efetivação gere, na prática, um resultado equivalente ao que seria gerado com o acolhimento da tutela pedida expressamente pelo autor.32
A conversão da obrigação em perdas e danos prevista no art. 84, § 1.º, CDC, nada mais é que a substituição da tutela específica pela tutela pelo equivalente em dinheiro. Segundo o dispositivo legal, existem duas causas dessa conversão: a vontade do credor e a impossibilidade material de satisfação da obrigação em sua forma específica.
Quando a causa de conversão da obrigação em perdas e danos for da vontade do credor, fica claro o princípio dispositivo que ainda é predominante no processo civil brasileiro, por mais poderes que venham sendo atribuídos aos juízes no exercício de sua função jurisdicional. Compreende-se que a melhor forma possível de tutela é a específica, mas essa circunstância não é o suficiente para impor ao titular do direito a obtenção dessa espécie de tutela, podendo, portanto, por qualquer razão, preferir receber o equivalente em dinheiro.
Como bem lembrado pela doutrina, “segundo o § 1.º do art. 461, o autor pode pleitear desde logo as perdas e danos. A hipótese salvaguarda a vontade do autor e indica que a obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente (mesmo quando possível) nem sempre é impositiva para o Magistrado”33.
Apesar de o art. 84, § 1.º, do CDC expressamente mencionar o autor como titular da vontade da conversão em perdas e danos, que só existirá quando já houver processo em trâmite, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de admitir a conversão mesmo antes da propositura da ação:
“Processo civil. Dação de imóveis em pagamento de dívida contraída. Obrigação de fazer, e não de dar coisa certa. Conversão, por opção do autor, em perdas e danos. Possibilidade. Inteligência do arts. 880 e 881 do CC/1916, e 461, § 1.º, do CPC. A obrigação, assumida pela construtora de um empreendimento imobiliário, de remunerar a proprietária do terreno mediante a dação em pagamento de unidades ideais com área correspondente a 25% do total construído qualifica-se como obrigação de fazer, e não como obrigação de dar coisa certa. Como consequência, o inadimplemento dessa obrigação, representado pelo acréscimo de área ao imóvel sem o conhecimento da proprietária e, consequentemente, sem que lhe tenha sido feito o correspondente pagamento, dá lugar à incidência dos arts. 461, § 1.º, do CPC, e 880 e 881, do CC/1916, possibilitando a escolha, pelo credor, entre requerer o adimplemento específico da obrigação ou a respectiva conversão em perdas e danos. A quitação, dada pelo credor mediante escritura pública, da obrigação de dação em pagamento de 25% da área construída no imóvel, não pode abranger os acréscimos de áreas feitos posteriormente sem o conhecimento do credor. A interpretação da quitação, dada pelo Tribunal de origem, não pode ser revista nesta sede em função do que determina a Súmula 5/STJ. O pedido de ‘declaração da reformulação do projeto inicial’ de um edifício é declaração de fato, e não de relação jurídica, de forma que o seu não acolhimento encontra-se em consonância com a regra do art. 4.º do CPC. A formulação de pedido sucessivo deve ser levada em consideração no momento da fixação dos honorários advocatícios. Recurso especial da ré não conhecido, e recurso especial do autor provido para o fim de restabelecer a sentença no que diz respeito aos honorários advocatícios” (STJ – REsp 598.233/RS – Terceira Turma – Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro – Rel. para o acórdão Min. Nancy Andrighi – j. 02.08.2005 – DJ 29.08.2005, p. 332).
Já havendo processo em trâmite, a preferência do autor pela obtenção de tutela pelo equivalente em dinheiro pode se expressar tanto durante a fase de conhecimento como na fase/processo de execução. No primeiro caso, será admitida a eventual adaptação da causa de pedir, excepcionando-se até mesmo o rigor da regra prevista no art. 264 do CPC. No segundo caso, bastará a realização de uma liquidação incidental para a determinação do valor devido, seguindo-se a partir desse momento o procedimento da execução por quantia certa34.
Como segunda causa para a conversão da obrigação em perdas e danos, o art. 84, § 1.º do CDC, prevê a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Nas obrigações de fazer e de não fazer, o essencial é verificar a natureza do inadimplemento. Sendo o inadimplemento definitivo, o que significa dizer que não existe mais a possibilidade de cumprimento da obrigação, a única tutela jurisdicional possível será a tutela pelo equivalente em dinheiro. Caso ainda exista a possibilidade de cumprimento, quando haverá somente um retardamento no cumprimento da prestação, a tutela poderá ser prestada de forma específica, desde que esse ainda seja o interesse do credor.
A impossibilidade pode surgir antes da propositura da ação, de forma que o credor já ingresse com processo que tenha como objeto uma obrigação de pagar quantia certa, inclusive execução com base em título executivo que tenha como objeto obrigação de fazer ou de não fazer35. A impossibilidade também poderá ser consequência de fato ou ato ocorrido durante o trâmite procedimental, tanto na fase de conhecimento como na de execução. A respeito do tema, as corretas lições de Cássio Scarpinella Bueno, que, apesar de terem como objeto o art. 461 do CPC, são totalmente aplicáveis ao art. 84 do CDC:
“É possível ao autor pedir as perdas e danos no lugar da tutela específica da obrigação de fazer ou não fazer ou cumular os pedidos nos moldes do art. 289 (cumulação eventual) no caso de, supervenientemente à propositura da ação, o específico comportamento já não ser mais passível de obtenção. Mesmo sem pedido na inicial, a condenação em perdas e danos não é extra petita se, durante a ação, tornar-se impossível a obrigação pleiteada. Prevalecem, para a hipótese, as regras dos arts. 633 e 643, parágrafo único, bem assim o art. 462”36.
Registre-se, por fim, a existência de corrente doutrinária que aponta para uma terceira causa para a conversão em perdas e danos, além das duas consagradas no texto legal. Para essa parcela da doutrina, ainda que possível, a tutela específica pode ser excluída quando não for justificável ou racional em razão de sua excessiva onerosidade37. Nesse caso, ainda que a vontade do autor seja a obtenção da tutela específica, o juiz poderá converter a obrigação em perdas e danos. Há decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
“Recurso especial. Civil. Processual civil. Locação. Violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. Súmula 284/STF. Súmulas 5 E 7/STJ. Inaplicabilidade. Contrato de locação. Natureza. Irrelevância para a concessão de tutela específica. Arts. 461 e 461-A do diploma processual. Norma plúrima de aplicação conjunta. Óbices fáticos e contratuais ao cumprimento específico. Conversão em perdas e danos. Cálculo na forma de lucros cessantes. Cabimento. Desnecessidade de prova pericial. Prazo total de 10 anos. Manutenção dos critérios fixados na sentença. Honorários advocatícios. Fixação sobre o valor da condenação. (...) 5. Todavia, no caso, há dois óbices fáticos ao cumprimento específico da obrigação, quais sejam, a instalação de outra loja com o mesmo objetivo no mesmo local (hall do Hotel Marriott no Rio de Janeiro) e a informação lançada pelo acórdão recorrido de que no local em que seria instalada a loja da recorrente há hoje um Bar em funcionamento. 6. Ademais, em consonância com o primeiro óbice fático apontado, tem-se que há dois contratos firmados com cláusula de exclusividade, com o mesmo objetivo, pela mesma contratante com locatários diversos, denotando a impossibilidade contratual de se determinar o cumprimento da obrigação específica. 7. Portanto, o cumprimento específico da obrigação, no caso, demandaria uma onerosidade muito maior do que o prejuízo já experimentado pela recorrente, razão pela qual não se pode impor o comportamento que exige o ressarcimento na forma específica quando o seu custo não justifica a opção por esta modalidade de ressarcimento, devendo, na forma do que determina o art. 461, § 1.º, do Código de Processo Civil, ser convertida a obrigação em perdas e danos. Doutrina (...)” (STJ – REsp 898184/RJ – Sexta Turma – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – j. 24.06.2008 – DJE 04.08.2008).
A doutrina majoritária divide a tutela de urgência em duas espécies: tutela cautelar e tutela antecipada. Na realidade, no âmbito da tutela de urgência, também é necessário destacar a importância da liminar, termo equivocado que pode ser utilizado como espécie de tutela de urgência satisfativa ou para designar o momento de concessão de uma espécie de tutela de urgência.
Valendo-se da origem no latim (liminaris, de limen), o termo “liminar” pode ser utilizado para designar algo que se faça inicialmente, logo no início. O termo liminar, nesse sentido, significa limiar, soleira, entrada, sendo aplicado a atos praticados inaudita altera parte, ou seja, antes da citação do demandado. Aplicado às espécies de tutelas de urgência, a liminar, nesse sentido, significa a concessão de uma tutela antecipada ou de uma tutela cautelar antes da citação do demandado. A liminar assumiria, portanto, uma característica meramente topológica, levando-se em conta somente o momento de prolação da tutela de urgência, e não o seu conteúdo, função ou natureza38.
Por outro lado, é preciso reconhecer que, no momento anterior à adoção da tutela antecipada pelo nosso sistema processual, as liminares eram consideradas uma espécie de tutela de urgência, sendo a única forma prevista em lei para a obtenção de uma tutela de urgência satisfativa. Nesses termos, sempre que prevista expressamente em um determinado procedimento, o termo “liminar” assume a condição de espécie de tutela de urgência satisfativa específica39. Seriam, assim, três as espécies de tutela de urgência:
(a) tutela cautelar, genérica para assegurar a utilidade do resultado final;
(b) tutela antecipada, genérica para satisfazer faticamente o direito;
(c) tutela liminar, específica para satisfazer faticamente o direito.
Em feliz expressão doutrinária, a tutela antecipada é a generalização das liminares40. Pretendendo a parte obter uma tutela de urgência satisfativa e havendo uma expressa previsão de liminar no procedimento adotado, o correto é requerer a concessão dessa liminar, inclusive demonstrando os requisitos específicos para a sua concessão; não havendo tal previsão, a parte valer-se-á da tutela antecipada, que em razão de sua generalidade e amplitude não fica condicionada a determinados procedimentos. Em resumo: caberá tutela antecipada quando não houver previsão de liminar. Um excelente exemplo é a ação possessória: sendo de posse nova, cabe o pedido de liminar, porque previsto em lei (arts. 924 e 928 do CPC), mas sendo de posse velha, não há previsão legal de liminar, restando ao autor o direito à obtenção da tutela antecipada, desde que preenchidos os requisitos41. Naturalmente, sendo ambas as tutelas de urgência de mesma natureza, a aplicação do princípio da fungibilidade se impõe.
Como afirmado, sempre que exista a expressa previsão de liminar num determinado procedimento, estar-se-á diante de uma espécie de tutela de urgência satisfativa. Parece ser exatamente o que ocorre no art. 84, § 3.º, do CDC, que ao prever a possibilidade de concessão da tutela liminarmente ou após a realização de audiência de justificação prévia, dá a entender tratar-se de espécie de tutela de urgência específica das obrigações de fazer e não fazer no âmbito do direito consumerista.
A tentativa de se distinguir a liminar ora analisada da tutela antecipada tem um propósito claro: tratamento diferenciado quanto aos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência.
É bem verdade que não existe qualquer diferença entre o perigo de grave lesão de difícil ou incerta reparação previsto pelo art. 273, I, do CPC e o perigo de ineficácia do provimento final previsto no art. 84, § 3.º, do CDC. Apesar das diferenças nas nomenclaturas, as expressões representam exatamente o mesmo fenômeno: o tempo necessário para a concessão da tutela definitiva funcionando como inimigo da efetividade dessa tutela. Em outras palavras, tanto na liminar do art. 84, § 3.º, do CDC, quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do provável perecimento de seu direito.
Já no tocante ao outro requisito exigido para a concessão de tutela de urgência satisfativa, é possível se verificar importante diferença, o que pode embasar a conclusão de ser mais fácil no caso concreto ao consumidor a obtenção da liminar do que da tutela antecipada. A relevância do fundamento da demanda prevista no art. 84, § 3.º, do CDC, parece exigir menos da parte que a prova inequívoca da verossimilhança da alegação prevista no art. 273, caput, do CPC.
A interpretação literal do art. 273, caput, do CPC certamente levará o operador a uma conclusão no mínimo paradoxal, considerando-se que o termo inequívoco significa aquilo de que não se tem mais dúvida, que não admite mais discussão, o que é, naturalmente, incompatível com a ideia de verossimilhança, que cuida tão somente da aparência da verdade, e, evidentemente, nada tem de certo ou inequívoco, podendo vir a se demonstrar falsa a primeira impressão a respeito dos fatos. É nesse clima de aparente incompatibilidade entre os termos “inequívoca” e “verossimilhança” que deve ser interpretado o dispositivo legal ora comentado.
Não parece ser correto o entendimento de que a exigência de uma prova inequívoca demandaria a existência de uma prova no caso concreto, que já seria suficiente para o juiz decidir de forma definitiva a demanda judicial42. Esse entendimento, além de sacrificar a amplitude necessária para a aplicação da tutela antecipada – de urgência e sancionatória –, despreza por completo a segunda parte do requisito legal, que menciona expressamente a verossimilhança da alegação, ou seja, não exige do magistrado um juízo de certeza a respeito dos fatos, mas tão somente de probabilidade.
É preciso lembrar que a verdade é algo meramente utópico e inalcançável, não sendo diferente no processo judicial, no qual a melhor doutrina aponta que a certeza adquirida pelo juiz no momento da prolação de sua decisão definitiva decorre de uma aparência da verdade gerada justamente pela prova produzida. Ainda que não seja possível falar em obtenção da verdade para o julgamento definitivo, a questão da verossimilhança estará sempre ligada à mera alegação de fato, enquanto a aparência da verdade exigida para o julgamento definitivo estará fundada na prova efetivamente produzida no caso concreto43. Dessa forma, estar-se-ia diante de duas espécies diferentes de aparência da verdade:
(i) verossimilhança, bastando para tanto a alegação de um mero fato que aparente ser verdadeiro, e
(ii) verdade possível – ou quase-verdade –, decorrendo a aparência da verdade justamente das provas produzidas no processo.
Na hipótese do requisito ora analisado, é preciso observar que o legislador fica no meio-termo entre exigir do autor apenas a verossimilhança de sua alegação, ou desde já toda a prova necessária para preencher o requisito da quase verdade, exigido como forma de legitimação da decisão definitiva a ser proferida no processo. Parece haver duas exigências diversas no requisito legal ora analisado: em primeiro lugar, deverá existir uma alegação de fato que aparentemente seja verdadeira, tomando-se por base para essa análise as máximas de experiência, ou seja, aquilo que costuma ocorrer. Em segundo lugar, se exigirá uma prova que corrobore a alegação que já parece ser verdadeira, sem que com isso seja exigida do autor uma produção probatória exaustiva que aproxime o máximo possível o juiz da verdade, naquilo que parcela da doutrina convencionou chamar de verdade possível ou quase verdade.
Significa dizer que, além de a alegação parecer verdadeira, deverá existir uma prova forte suficiente para confirmar, ao menos na cognição sumária a ser realizada pelo juiz, que aquela alegação fática parece ser realmente verdadeira44. É evidente que aquilo que parece ser verdadeiro, mesmo que corroborado por uma prova, poderá se mostrar falso conforme a cognição do juiz se aprofundar no caso concreto. De qualquer forma, a existência de prova a corroborar a alegação de fato que por si só já parece ser verdadeiro gera uma grande probabilidade de a alegação realmente ser verdadeira, o que já é suficiente para a concessão da tutela antecipada.
A relevância da fundamentação da demanda não decorre de nenhuma prova formalmente perfeita que corrobore a alegação do autor, bastando que suas alegações, ainda que desprovidas de provas, convençam o juiz da probabilidade de sua vitória judicial. Parece, à evidência, algo menos robusto em termos de convencimento sumário do juiz que a prova inequívoca da verossimilhança da alegação. Seria, portanto, mais fácil ao consumidor pedir a tutela de urgência nas demandas que tenham como objeto as obrigações de fazer e não fazer, nos termos do art. 84, § 3.º, do CDC, e não do art. 273, caput e I, do CPC.
Curiosamente, entretanto, esse cuidado não é tomado, tratando-se da tutela de urgência nessas espécies de obrigação da mesma forma que genericamente se trata de todas as espécies de obrigação: tutela antecipada do art. 273 do CPC. O próprio Superior Tribunal de Justiça parece não fazer qualquer distinção, sendo comum a prolação de decisões que falam em tutela antecipada nas obrigações de fazer e não fazer:
“Processo civil. Execução de obrigação de fazer. Antecipação de tutela. Multa cominatória. CPC, art. 461, §§ 3.º e 4.º. Não cumprimento. Sentença de improcedência superveniente. Inexigibilidade da multa fixada em antecipação de tutela. I. A antecipação dos efeitos da tutela, conquanto produza efeitos imediatos à época do deferimento, possui a natureza de provimento antecipatório, no aguardo do julgamento definitivo da tutela jurisdicional pleiteada, que se dá na sentença, de modo que, no caso de procedência, a antecipação resta consolidada, produzindo seus efeitos desde o momento de execução da antecipação, mas, sobrevindo a improcedência, transitada em julgado, a tutela antecipada perde eficácia, cancelando-se para todos os efeitos, inclusive quanto à multa aplicada (astreinte). II. O instituto da antecipação da tutela implica risco para autor e réu, indo à conta e risco de ambos as consequências do cumprimento ou do descumprimento, subordinado à procedência do pedido no julgamento definitivo, que se consolida ao trânsito em julgado. III. A multa diária fixada antecipadamente ou na sentença, consoante CPC, art. 461, §§ 3.º e 4.º só será exigível após o trânsito em julgado da sentença que julga procedente a ação, sendo devida, todavia, desde o dia em que se deu o descumprimento. IV. Recurso Especial improvido” (STJ – REsp 1016375/RS – Terceira Turma – Rel. Min. Sidnei Beneti Moura – j. 08.02.2011 – DJE 21.02.2011).45
O PLNCPC não trata da liminar, mas torna uniforme o tratamento procedimental da tutela cautelar e da tutela antecipada, embora mantenha a diferença entre suas naturezas jurídicas: garantidora no primeiro caso e satisfativa no segundo. Segundo o art. 295, caput, inclusive, haverá mudança – desnecessária – do nome dessas tutelas: ambas passam a ser chamadas de tutela antecipada, que poderá ser satisfativa ou cautelar. A uniformização procedimental pode ser percebida nos requisitos para a concessão, nos poderes de o juiz conceder a tutela de urgência de oficio e nas formas procedimentais para o pedido antecedente e incidental.
Segundo a melhor doutrina, tutela específica “é aquela que confere ao autor o cumprimento da obrigação inadimplida, seja a obrigação de entregar coisa, pagar soma em dinheiro, fazer ou não fazer”46. Já tive a oportunidade de afirmar que, “se tomando por base o critério da coincidência de resultados gerados pela prestação da tutela jurisdicional com os resultados que seriam gerados pela satisfação voluntária da obrigação, a tutela jurisdicional pode ser classificada em tutela específica e tutela pelo equivalente em dinheiro. Na primeira, a satisfação gerada pela prestação jurisdicional é exatamente a mesma que seria gerada com o cumprimento voluntário da obrigação, enquanto na segunda, a tutela jurisdicional prestada é diferente da natureza da obrigação e, por consequência, cria um resultado distinto daquele que seria criado com a sua satisfação voluntária”47.
O princípio da atipicidade dos meios executivos permite que o juiz utilize meios executivos mesmo quando não exista expressa previsão legal a seu respeito. Nas palavras da doutrina, “tal princípio é consagrado na regra legal de que o juiz poderá, em cada caso concreto, utilizar o meio executivo que lhe parecer mais adequado para dar, de forma justa e efetiva, a tutela jurisdicional executiva. Por isso, não estará adstrito ao juiz seguir o itinerário de meios executivos previstos pelo legislador, senão porque poderá lançar mão de medidas necessárias – e nada além disso – para realizar a norma concreta.”48
O princípio da atipicidade dos meios executivos está consagrado nos arts. 84, § 5.º, do CDC. Como se pode constar da redação do dispositivo legal, o legislador, ao descrever medidas necessárias à obtenção da tutela específica, indica um rol meramente exemplificativo, o que é incontestável diante da expressão “tais como”, utilizada antes da indicação da “multa por atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva”.
No sentido de ser meramente exemplificativo o rol de meios executivos previstos em lei, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Processual civil. Administrativo. Recurso especial. Tratamento de saúde e fornecimento de medicamentos a necessitado. Obrigação de fazer. Fazenda Pública. Inadimplemento. Cominação de multa diária. Astreintes. Incidência do meio de coerção. Bloqueio de verbas públicas. Medida executiva. Possibilidade, in casu. Pequeno valor. Art. 461, § 5.º, do CPC. Rol exemplificativo de medidas. Proteção constitucional à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana. Primazia sobre princípios de direito financeiro e administrativo. Novel entendimento da E. Primeira Turma. 1. Ação Ordinária c/c pedido de tutela antecipada ajuizada em face do Estado do Rio Grande Sul, objetivando o fornecimento de medicamento de uso contínuo e urgente a paciente sem condição de adquiri-lo. 2. A função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância. 3. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento de medicamento a pessoa necessitada, cuja imposição das astreintes objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e consequentemente resguardar o direito à saúde. 4. ‘Consoante entendimento consolidado neste Tribunal, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juízo da execução, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Pública’ (AgRgREsp 189.108/SP – Rel. Min. Gilson Dipp – DJ 02.04.2001). 5. Precedentes jurisprudenciais do STJ: REsp 490.228/RS – DJ 31.05.2004; AgRgREsp 440.686/RS – DJ 16.12.2002; AGREsp 554.776/SP – DJ 06.10.2003; AgRgREsp 189.108/SP – DJ 02.04.2001; e AgRgAg 334.301/SP – DJ 05.02.2001. 6. Depreende-se do art. 461, § 5.º, do CPC, que o legislador, ao possibilitar ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas assecuratórias como a ‘imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial’, não o fez de forma taxativa, mas sim exemplificativa, pelo que, in casu, o sequestro ou bloqueio da verba necessária à aquisição de medicamento objeto da tutela indeferida, providência excepcional adotada em face da urgência e imprescindibilidade da prestação dos mesmos, revela-se medida legítima, válida e razoável. 7. Deveras, é lícito ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas. Máxime diante de situação fática, na qual a desídia do ente estatal, frente ao comando judicial emitido, pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo pôr em risco a vida do demandante. 8. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais. Não obstante o fundamento constitucional, in casu, merece destaque a Lei Estadual 9.908/1993, do Estado do Rio Grande do Sul, que assim dispõe em seu art. 1.º: ‘Art. 1.º O Estado deve fornecer, de forma gratuita, medicamentos excepcionais para pessoas que não puderem prover as despesas com os referidos medicamentos, sem privarem-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família. Parágrafo único. Consideram-se medicamentos excepcionais aqueles que devem ser usados com frequência e de forma permanente, sendo indispensáveis à vida do paciente’.9. A Constituição não é ornamental, não se resume a um museu de princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de suas normas. Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a exegese deve partir dos princípios fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse ângulo, merece destaque o princípio fundante da República que destina especial proteção à dignidade da pessoa humana. 10. Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. O meio de coerção tem validade quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. O Poder Judiciário não deve compactuar com o proceder do Estado, que, condenado pela urgência da situação a entregar medicamentos imprescindíveis à proteção da saúde e da vida de cidadão necessitado, revela-se indiferente à tutela judicial deferida e aos valores fundamentais por ele eclipsados. 11. In casu, a decisão ora hostilizada pelo recorrente importa na negativa de fixação das astreintes ou bloqueio de valor suficiente à aquisição dos medicamentos necessários à sobrevivência de pessoa carente, revela-se indispensável à proteção da saúde do autor da demanda que originou a presente controvérsia, mercê de consistir em medida de apoio da decisão judicial em caráter de sub-rogação. 12. Por fim, sob o ângulo analógico, as quantias de pequeno valor podem ser pagas independentemente de precatório e a fortiori serem, também, entregues, por ato de império do Poder Judiciário. 13. Recurso especial provido” (STJ – REsp 836.913/RS – Primeira Turma – Rel. Min. Luiz Fux – j. 08.05.2007 – DJ 31.05.2007).
Apesar de não existir uma gradação entre as medidas executivas à disposição do juízo para efetivar a tutela das obrigações de fazer e não fazer, a multa como forma de pressionar o executado a cumprir sua obrigação parece ter merecido posição de destaque, sendo também medida de extrema frequência na praxe forense. A valorização da multa pode ser percebida pela expressa menção a ela feita pela lei nos §§ 4.º e 5.º do art. 84 do CDC.
Aduz o art. 84, § 4.º, do CDC que o juiz poderá, inclusive de ofício, impor multa diária ao réu, enquanto o art. 84, § 5.º, do CDC prevê a aplicação da multa por tempo de atraso, sem nenhuma indicação da periodicidade. O art. 461, § 6.º, do CPC menciona a possibilidade de alteração do valor e/ou da periodicidade. Apesar de ser a periodicidade diária a mais frequente na aplicação da multa coercitiva, o juiz poderá determinar outra periodicidade – minuto, hora, semana, quinzena, mês –, bem como determinar que a multa seja fixa, única forma logicamente aceitável dessa medida de execução indireta nas violações de natureza instantânea. Apesar da omissão no art. 84 do CDC a respeito desse parágrafo, é indubitável sua aplicação às ações consumeristas.
A multa coercitiva passou a ser conhecida pelos operadores de direito como astreintes, em razão de sua proximidade com instituto processual do direito francês de mesmo nome. Não cumpre, neste momento, fazer a análise comparativa entre a multa do direito brasileiro e as astreintes do direito francês, que resultaria na constatação de que, apesar de próximas, têm diferenças importantes. A constatação empírica é que a utilização do termo astreintes se presta a designar a multa, cujas características principais serão neste capítulo analisadas.
Não existe nenhuma previsão legal referente ao valor da multa coercitiva, apenas mencionando o art. 84, § 4.º, do CDC a exigência de que seja suficiente ou compatível com a obrigação, e é melhor que assim seja. Tratando-se de medida de pressão psicológica, caberá ao juiz analisar as particularidades do caso concreto para determinar um valor que seja apto a efetivamente exercer tal influência no devedor, para que seja convencido de que a melhor alternativa é o cumprimento da obrigação.
A tarefa do juiz no caso concreto não é das mais fáceis. Se o valor não pode ser irrisório, porque, assim sendo, não haverá nenhuma pressão efetivamente gerada, também não pode ser exorbitante, considerando-se que um valor muito elevado também desestimula o cumprimento da obrigação. Valendo-se de uma expressão poética revolucionária, tem-se que endurecer sem perder a ternura.
Essa responsável liberdade concedida ao juiz na determinação do valor da multa faz com que não exista nenhuma vinculação entre o seu valor e o valor da obrigação descumprida49. Se tivesse natureza sancionatória ou compensatória, como ocorre com a cláusula penal, seria o valor limitado ao da obrigação principal, por expressa previsão do art. 412 do CC. Inclusive, nos Juizados Especiais Estaduais existe entendimento consolidado no sentido de que as astreintes não se limitam ao valor-teto de 40 salários mínimos, que se refere somente à pretensão principal do autor50.
Tendo natureza coercitiva, as astreintes sempre beneficiarão a parte que pretende o cumprimento da obrigação. É evidente que, na hipótese de a multa funcionar em sua tarefa de pressionar o obrigado, a parte contrária será beneficiada por sua aplicação, porque conseguirá a satisfação de seu direito em razão do convencimento gerado no devedor em razão da aplicação da multa. Ocorre, entretanto, que nem sempre a multa surte os efeitos pretendidos, e sempre que isso ocorre será criado um direito de crédito no valor da multa fixada. Nesse caso, não parece correto falar em quem será o beneficiado pela multa para aferir quem é o credor desse valor; melhor será falar em beneficiado pela frustração da multa e a consequente criação de um crédito.
Apesar da crítica de parcela da doutrina51, o legislador nacional entende que o credor do valor gerado pela frustração da multa será a parte para a qual não foi determinado o cumprimento da obrigação. Costuma-se afirmar que o beneficiado nesse caso é o demandante, mas não se pode descartar a possibilidade de o demandado ser credor, o que ocorrerá sempre que o demandante descumprir uma determinação para o cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer com aplicação de multa52. De qualquer forma, a multa não é revertida para o Estado, mas para uma das partes, geralmente o demandante.
Realmente, a opção do legislador não deve ser elogiada, em especial quando considerada a previsão do art. 84, § 2.º, do CDC, que determina que a multa não impede a indenização por perdas e danos. Nota-se que, na ocorrência de um efetivo dano em razão do descumprimento da obrigação, caberá à parte pedir a devida indenização, tendo que provar a existência do dano. Tornando-se credor do valor da multa frustrada, a parte tem um ganho patrimonial em detrimento do patrimônio da parte contrária, sem nenhum respaldo jurídico para legitimar tal locupletamento.
Apesar do alegado, o PLNCPC, no art. 551, § 2º, consagra expressamente ser a parte contrária titular do crédito decorrente da aplicação da multa.
Há doutrina minoritária que defende a inaplicabilidade das astreintes perante a Fazenda Pública, com o argumento principal de que o agente público, não tendo interesse direto na demanda, e sabendo que uma eventual aplicação de multa não atingirá seu patrimônio, não sofre pressão psicológica alguma diante da aplicação de uma astreinte. Sendo a função da multa coagir o devedor a cumprir a obrigação, essa corrente doutrinária entende que a sua aplicação é injustificável diante da Fazenda Pública53.
A sugerida inaplicabilidade encontra-se superada, sendo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça a aplicabilidade das astreintes quando o devedor da obrigação de fazer ou não fazer é a Fazenda Pública54, mesmo posicionamento da doutrina amplamente majoritária55. Concordo com a maioria, mas não deixo de me preocupar com as consequências da aplicação das astreintes à Fazenda Pública, porque, uma vez cobrado o valor da multa frustrada, o único contribuinte feliz com tal situação será o credor desse valor. As dívidas da Fazenda Pública são todas quitadas pelos contribuintes, sendo extremamente injusto que todos nós paguemos pelo ato de descumprimento pelo agente público de decisão judicial56. É claro que, se nossos agentes públicos atuassem em conformidade com os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, consagrados no art. 37, caput da CF/1988, a discussão nem seria posta, mas, pela crise ética que passa não só o Poder Público, como também a sociedade em geral, é mera utopia acreditar na desnecessidade da aplicação da multa.
Essa preocupação que tenho, entretanto, não é suficiente para legitimar a aplicação das astreintes ao próprio agente público. Parcela da doutrina entende que, nesse caso, a pressão psicológica aumentaria significativamente, porque o agente público passaria a temer pela perda de seu patrimônio particular57. Não se duvida de que a pressão aumentaria, mas as astreintes só podem ser dirigidas ao obrigado, reconhecido como tal na decisão que se executa. O agente público não é parte no processo, e dirigir as astreintes a ele caracteriza afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que o Superior Tribunal de Justiça não admite, podendo o agente público, entretanto, ser sancionado com a multa prevista no art. 14, parágrafo único, do CPC por ato atentatório à dignidade da jurisdição58.
O valor poderá ser modificado a qualquer momento pelo juiz, inclusive de ofício, desde que entenda que o valor fixado anteriormente não está efetivamente pressionando o devedor ao cumprimento da obrigação. Como a multa não serve como mero passatempo ou mero instrumento de penalização do devedor, cumpre ao juiz, levando em consideração as particularidades do caso concreto, aumentar ou diminuir o valor da multa sempre que percebê-la irrisória, ou excessiva. Também a periodicidade pode ser objeto de alteração, conforme expressa previsão do art. 461, § 6.º, do CPC.
Entendo que a previsão do art. 461, § 6.º, do CPC seja dirigida ao próprio juiz que fixou originariamente o valor e a periodicidade da multa, com o que se afasta do caso concreto a preclusão judicial, indevidamente chamada de preclusão pro iudicato. Alguma segurança jurídica, entretanto, deve-se exigir, de forma que a modificação do valor e/ou da periodicidade deve ser justificada por circunstâncias supervenientes, sendo o reiterado descumprimento da obrigação robusto indicativo de que a multa não está cumprindo com a sua função59. Apesar de não haver preclusão nesse caso, a parte terá o direito de recorrer contra a decisão que fixa a multa, podendo a revisão do valor ser realizada pelo tribunal em grau recursal. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, vem alterando o valor da multa quando o entende irrisório ou exorbitante60.
Questão interessante diz respeito à modificação do valor e/ou periodicidade da multa fixada em sentença transitada em julgado. Uma falsa compreensão da natureza e da função das astreintes pode levar o intérprete a acreditar que, nessa hipótese, haverá uma vinculação do juiz que conduz o cumprimento de sentença ao estabelecido na mesma sentença, em virtude do fenômeno da coisa julgada material. O equívoco de tal percepção é manifesto, porque a multa é apenas uma forma executiva de cumprir a obrigação reconhecida em sentença, naturalmente não fazendo parte do objeto, que se tornará imutável e indiscutível em razão da coisa julgada material61.
Outro tema de extrema relevância diz respeito à possibilidade de mudança do valor final da multa, no momento em que a tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente tornarem-se impossíveis, ou a vontade do devedor for a conversão em perdas e danos. Pode o juiz reduzir o valor que será executado pela parte? Seria possível aplicar o art. 461, § 6.º, do CPC a essa situação, ou o dispositivo legal limita-se a tutelar as situações em que a multa ainda está sendo aplicada62?
Há defensores da impossibilidade de o juiz diminuir o valor final gerado pela frustração da multa. Alguns doutrinadores simplesmente afirmam que não há base legal para o juiz retroativamente eximir parcial ou totalmente o devedor63, enquanto outros defendem a impossibilidade de o juiz fazer tal revisão com fundamento no direito adquirido da parte beneficiada com o direito de crédito advindo da frustração da multa64. O entendimento é interessante, mas entendo que não possa ser totalmente admitido.
Em meu entendimento, enquanto a multa mostrou concreta utilidade em pressionar o devedor, o valor obtido é realmente um direito adquirido da parte, não podendo o juiz reduzi-lo, ainda que instado a tanto pela parte contrária. Mas isso não significa que o valor calculado durante todo o tempo de vigência da multa seja efetivamente devido, porque, a partir do momento em que a multa teve o seu objetivo frustrado, perdendo a sua função, a sua manutenção passaria a ter caráter puramente sancionatório, com nítido desvirtuamento de sua natureza. O mais adequado é o juiz determinar, com eficácia ex tunc, a partir de quando a multa já não tinha mais utilidade, revogando-a a partir desse momento e calculando o valor somente relativamente ao período de tempo em que a multa mostrou-se útil. Reconheço que a determinação exata do momento a partir de quando a multa passou a ser inútil pode ser extremamente difícil, mas caberá ao juiz determiná-lo valendo-se do princípio da razoabilidade.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o valor final da multa frustrada pode ser reduzido pelo juiz para evitar o enriquecimento sem causa da parte65, mas esse entendimento não é correto, porque o enriquecimento sem causa não depende do valor da multa, verificando-se pela simples posição de credor da parte, como já afirmado. Há parcela doutrinária que entende que a diminuição de valor final exorbitante, decorrente do longo lapso temporal de vigência da multa, justifica-se no princípio da boa-fé e da lealdade processual, considerando haver abuso de direito na atitude do credor que deixa de requerer a conversão da obrigação de fazer e/ou não fazer em perdas e danos em tempo razoável, quando notar que a multa não está funcionando66.
O tema, entretanto, passa longe de ser tranquilo, existindo tanto doutrina67 quanto decisões do próprio Superior Tribunal de Justiça68 entendendo que, se o não cumprimento da decisão do juiz deu-se por resistência injustificada da parte, não há sentido em minorar o valor final da multa. Nesse entendimento, se o valor é alto, isso decorre da postura de afronta ou desleixo adotada pela parte, e, em razão disso, diminuir o valor da multa é contrariar a própria natureza da multa cominatória.
O art. 551, § 1º, do PLNCPC prevê que o juiz, de ofício ou a requerimento, pode modificar o valor e a periodicidade da multa, regra já existente no art. 461, § 6º, do CPC/1973, quando a multa se tornar insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para seu descumprimento. Acredito que esse rol seja meramente exemplificativo, em especial porque a multa como pressão psicológica só se justifica enquanto efetivamente pressionar o obrigado, sendo uma mera sanção processual se aplicada quando se constata sua ineficácia no cumprimento da obrigação.
A principal novidade, entretanto, é a previsão expressa no sentido de que a mudança do valor da multa só se aplica para o futuro. Primeiro, o dispositivo fala em “multa vincenda” e depois afirma expressamente que a mudança não terá “eficácia retroativa”. Significa dizer que o valor consolidado não poderá ser diminuído pelo juiz, em entendimento que contraria a posição majoritária da jurisprudência.69 O entendimento consagra o que a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça chamou de “indústria das astreintes”, quando o exequente abdica da satisfação de seu direito para manter a aplicação da multa durante longo espaço de tempo.
Acredito que o legislador, por exigir do juiz a indicação do tempo de duração da multa no momento de sua fixação, tenha imaginado que assim evitaria a eternização de sua aplicação, numa verdadeira poupança em favor do exequente.
A multa coercitiva pode ser aplicada tanto para pressionar o devedor a cumprir uma decisão interlocutória que concede tutela de urgência quanto para cumprir uma sentença que julga procedente o pedido do autor. Questão que causa séria divergência na doutrina pátria refere-se ao momento a partir do qual a multa torna-se exigível. Em outras palavras, a partir de qual momento a parte beneficiada com o crédito gerado pela frustração da multa poderá executá-lo?
Para parcela da doutrina, a multa é exigível a partir do momento em que a decisão que a fixa torna-se eficaz, ou porque não foi recorrida, ou porque foi impugnada por recurso sem efeito suspensivo70. Essa exigibilidade permitiria a execução imediata de crédito decorrente da multa frustrada fixada em decisão ainda não definitiva, inclusive a decisão interlocutória que concede a tutela antecipada, o que só pode ser compreendido com a possibilidade de execução provisória do crédito71.
Para essa corrente doutrinária, a necessidade de exigibilidade imediata resulta da própria função coercitiva da multa, porque a necessidade de aguardar a definitividade da decisão, que só ocorrerá com o advento da coisa julgada material, seria extremamente contrária à necessidade de pressionar efetivamente o devedor a cumprir a obrigação. Uma perspectiva de remota execução não seria suficiente para exercer a pressão psicológica esperada das astreintes72.
Para outra corrente doutrinária, deve-se aguardar o trânsito em julgado para que se possa exigir o crédito gerado pela frustração da multa. Essa corrente doutrinária entende que a mera ameaça de aplicação da multa, independentemente do momento em que o crédito gerado por sua frustração passará a ser exigível, já é suficiente para configurar a pressão psicológica pretendida pelo legislador73. Por outro lado, como só deve pagar a multa a parte definitivamente derrotada na demanda judicial – o que só será conhecido com o trânsito em julgado –, cabe aguardar esse momento procedimental para admitir a execução da multa74.
Concordo com a primeira corrente doutrinária porque, de fato, com o tempo que os processos demoram para atingir o trânsito em julgado, muito da natureza coercitiva da multa se perderá se a exigibilidade da cobrança do crédito gerado pela frustração da multa depender desse momento processual. Trata-se do tradicional e frequente choque entre a efetividade (exigibilidade imediata, sem saber ainda se a multa é definitivamente devida) e a segurança jurídica (exigibilidade após o trânsito em julgado da decisão que fixa a multa, quando se saberá definitivamente se a parte é ou não titular do direito de crédito).
O Superior Tribunal de Justiça, aparentemente confundindo definitividade com exigibilidade, vem corretamente entendendo que a multa fixada em decisão interlocutória pode ser executada imediatamente, mas conclui incorretamente que essa execução se dará por meio de execução definitiva75.
Apesar de ser preferível, nessa hipótese, prestigiar a efetividade da tutela jurisdicional em detrimento da segurança jurídica, dois apontamentos são indispensáveis.
Caso o legislador já tenha feito abstratamente a ponderação entre os dois interesses conflitantes e expressamente optado por um deles, não parece legítimo afastar a previsão legal. Dessa forma, na ação civil pública (art. 12, § 2.º, da Lei 7.347/1985), nas demandas regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (art. 213, § 3.º, da Lei 8.069/1990) e nas demandas reguladas pelo Estatuto do Idoso (art. 83, § 3.º, da Lei 10.741/2003), a multa só será exigível após o trânsito em julgado da decisão.
Admitindo-se a execução provisória do crédito decorrente da frustração da multa, e sendo, por meio de decisão definitiva, demonstrado não assistir razão à parte que teria sido beneficiada pela multa se a mesma tivesse funcionado, na hipótese em que a multa ainda não tiver sido cobrada, esta perderá seu objeto. Já tendo sido executada, com a satisfação do credor, caberá ação de repetição de indébito. Ainda que existisse uma decisão do juiz à época da fixação da multa que deveria ter sido cumprida, se posteriormente essa decisão mostrou-se contrária ao direito, não há mais nenhuma justificativa para a manutenção das consequências do inadimplemento da obrigação76.
As únicas regras previstas na Lei 8.078/1990 a respeito da competência das ações judiciais que tenham como objeto a relação consumerista estão consagradas nos arts. 93 e 101, I do diploma legal. A primeira diz respeito às ações coletivas e a segunda, às ações individuais, mas ambas têm um ponto em comum: são regras de competência de foro, territoriais, portanto, ainda que a primeira seja de natureza absoluta e a segunda, de natureza relativa.
Significa dizer que não existe qualquer norma legal que preveja a competência de Justiça e tampouco de juízo, sendo por essa razão necessária a busca, em outros diplomas legais, de regras que sejam capazes de regular essas espécies de competência nas relações consumeristas. A competência de Justiça é prevista na Constituição Federal, enquanto a competência de juízo é determinada por leis de organização judiciária, em ambos os casos se tratando de competência absoluta pela matéria ou pela pessoa.
A primeira tarefa a ser examinada no tocante à competência para as ações de natureza consumerista é fixar a competência da Justiça.
Em primeiro lugar, excluem-se as chamadas justiças especializadas, que têm sua competência sempre determinada pela matéria. A Justiça Trabalhista, com competência prevista no art. 114 da CF/1988, a Justiça Eleitoral, com competência prevista no art. 121 da CF/1988, e a Justiça Militar, com competência fixada no art. 125 da CF/1988, jamais serão competentes para causas que envolvem relação de consumo, justamente porque as matérias que determinam sua competência são de outra natureza.
Não sendo a causa de competência de alguma das justiças especializadas, a competência será da justiça comum, dividida em Justiça Federal e Justiça Estadual. Parece não haver maiores questionamentos sobre o fato de que o grande palco de atuação das causas consumeristas é a Justiça Estadual, na qual se concentra a maioria das demandas judiciais dessa natureza. A Justiça Federal, entretanto, não pode ser descartada como competente para o julgamento de ações envolvendo conflitos de interesses entre consumidores e fornecedores.
A competência da Justiça Federal de primeiro grau é prevista pelo art. 109 da CF/1988, sendo determinada tanto pela matéria (ratione materiae) como pela pessoa (ratione personae).
É natural que se imagine que, nas hipóteses de competência fixada pela matéria, não haja relação de consumo, até porque seriam outras as matérias que determinariam a competência da Justiça Federal. O pensamento é correto nas hipóteses previstas nos incisos V-A (“causas relativas a direitos humanos”), X (“execução da carta rogatória, após o exequatur, e da sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização”) e XI (“a disputa sobre direitos indígenas”).
Mas na hipótese prevista pelo inciso III do art. 109 da CF/1988 o tema não será resolvido de forma tão tranquila. Serão de competência da Justiça Federal as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional, sendo possível, ainda que raro, que o contrato mencionado pelo dispositivo constitucional tenha natureza consumerista. Como bem lembra a doutrina, são variadas as espécies de contratos internacionais:
“Os contratos internacionais, igualmente expressando convergência de vontades, podem tratar dos mais variados assuntos (sociais, econômicos, tecnológicos, entre outros), devendo sempre objetivar a concreção do interesse público, a efetivação dos princípios constitucionais e o cumprimento das avenças internacionais. Podem ser citados os contratos de transporte marítimo, de tarifas aplicáveis às operações entre países signatários de acordos a elas relativos, de importação e trânsito de mercadorias estrangeiras, de responsabilidade por danos ecológicos, entre outros”77.
Seria mais fácil imaginar tal situação num contrato celebrado entre a União e uma empresa estrangeira, mas, como já restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode confundir empresa estrangeira com organismo internacional78. De qualquer forma, mesmo tratando-se de contrato firmado com organismo internacional, é possível, ainda que rara, a existência de relação de consumo, conforme exposto anteriormente.
Sendo a competência da Justiça Federal determinada pela pessoa, a matéria passa a ser irrelevante, sendo naturalmente possível que envolva matéria consumerista. Em especial na hipótese de competência prevista no art. 109, I, da CF/1988, que justifica a maior parte das ações em trâmite perante a Justiça Federal.
O dispositivo legal se refere à União, entidade autárquica e empresa pública federal. A jurisprudência, entretanto, se consolidou no sentido de também incluir as fundações federais como entes aptos a exigir a competência da Justiça Federal. As pessoas jurídicas de direito público da administração indireta mencionadas já seriam o suficiente para compreender a possibilidade de relações de consumo serem objeto de processos de competência da Justiça Federal. A pesquisa de 2011 realizada pelo CNJ a respeito dos 100 maiores litigantes da Justiça Brasileira aponta os bancos com 18% dos processos em trâmite perante a Justiça Federal, em sua absoluta maioria em decorrência da participação da Caixa Econômica Federal, que é o segundo maior litigante nacional, envolvida em 8,50% das ações em trâmite.
Por outro lado, apesar de não existir expressa previsão no art. 109, I, da CF/1988 a esse respeito, é tranquilo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela inclusão em tal dispositivo legal dos conselhos de fiscalização profissional79 e das agências reguladoras federais80. Nesses casos, entretanto, como bem demonstra a doutrina, é mais comum a existência de ações coletivas na defesa do consumidor:
“De fato, hoje é possível colecionar diversas ações civis públicas promovidas pelos entes legitimados em face da Anatel, Aneel, ANP, ANS, e mesmo a Superintendência de Seguros Privados (Susep) e Banco Central do Brasil (Bacen), autarquias federais de outrora. O objeto litigioso do processo é, via de regra, a regulamentação fruto do poder regulatório que fere o Código de Defesa do Consumidor”81.
O mesmo ocorre com a presença na demanda do Ministério Público Federal. Mantenho o entendimento de que a simples presença do Ministério Público Federal seja suficiente para determinar a competência da Justiça Federal, mas é preciso reconhecer o entendimento contrário consolidado no Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na ausência de personalidade jurídica do Ministério Público. Afirma-se que o Ministério Público Federal é um órgão da União e, como tal, está incluído no termo “União” expressamente previsto pelo art. 109, I, da CF/1988. Dessa forma, ainda que se admita um litisconsórcio entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, a demanda deverá tramitar perante a Justiça Federal, por decorrência de interpretação extensiva do rol de sujeitos previstos no art. 109, I, da CF82. De qualquer forma, a exemplo das demandas que envolvem as agências reguladoras, a presença do Ministério Público Federal interessa às ações coletivas consumeristas.
Não se tratando de competência da Justiça Federal, a competência da Justiça Estadual será residual. A competência da justiça comum é residual, determinado pelo que não for de competência das justiças especializadas. Na justiça comum, a competência da Justiça Estadual é residual, determinada pelo que não for de competência da Justiça Federal. Ainda que residual, a maior parte das demandas que têm como objeto uma relação consumerista são de competência da Justiça Estadual.
A competência territorial é aquela que determina o foro competente, ou seja, a circunscrição territorial competente para o julgamento da demanda: na Justiça Estadual é a Comarca e na Justiça Federal a Seção Judiciária.
O foro comum previsto pelo ordenamento brasileiro, em tradição seguida universalmente,83 é o do domicílio do réu. Segundo o art. 94, CPC, essa regra somente se aplica aos processos fundados em direito pessoal e direito real sobre bens móveis, afastando a aplicação quando se tratar de imóveis, caso em que o foro competente é o da situação da coisa, conforme estabelece o art. 95 do CPC. Dessa forma, as demandas fundadas em direto pessoal sobre móvel, direito pessoal sobre imóvel e direito real sobre móvel têm como regra de foro comum o domicílio do réu.
Apesar de adotar como regra o foro do local do domicílio do réu, partindo da premissa de que, sendo esse sujeito “atacado” pelo autor, é preciso permitir que litigue no local presumidamente mais adequado ao exercício de sua defesa, o legislador cria uma série de foros especiais. Tais regras continuam a indicar a competência territorial, e por consequência são de natureza relativa, criando “foros especiais” tão somente por indicar um foro distinto daquele estabelecido pelo art. 94 do CPC.
Nas corretas lições de Candido Rangel Dinamarco:
“As normas que definem a competência dos foros especiais constituem leges specialies em relação à que institui o foro comum (CPC, art. 94), tendo aplicação a conhecida máxima de hermenêutica, segundo a qual a norma geral deixa de aplicar-se quando tem incidência uma especial e nos limites dessa incidência (lex specialis derogat lege generale). O foro comum só prevalece, portanto, nos casos em que não haja incidência de norma alguma ditando a competência de um foro especial”.
Há regras de competência territorial determinadas pelo local da coisa, como ocorre no art. 58, II, da Lei 8.245/1991 (Lei de Locações); outras são determinadas pelo local do cumprimento da obrigação, como ocorre no art. 100, IV, d, do CPC; outras são determinadas pelo local do ato ou fato, como ocorre no art. 100, V, do CPC. Além desses critérios determinantes da competência relativa, existem regras que preveem o foro do domicílio do autor como competente, invertendo a regra do art. 94 do CPC. Assim ocorre com o art. 100, I, II do CPC e o art. 101, I, CDC.
O ponto comum que serve como justificativa para a inversão da regra consagrada no art. 94 do CPC (foro comum), em nítido benefício do autor, é sua hipossuficiência diante do réu. Assim, por se considerar a mulher hipossuficiente diante do marido, a competência para a ação de divórcio e anulação de casamento é do foro do domicílio da mulher. Da mesma forma, é competente o foro do domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem os alimentos. Na hipótese do art. 101, I, do CDC, é a hipossuficiência do consumidor diante do fornecedor que justifica o tratamento diferenciado.
É importante ressaltar que, mesmo sendo um foro especial que visa à proteção em abstrato do consumidor, essa regra de competência continua a ser de natureza relativa, sujeita, portanto, a todas as espécies de prorrogação em direito admitido. As normas que tratam da competência relativa são de natureza dispositiva, uma vez que, precipuamente, buscam proteger o interesse das partes, que poderão abrir mão de tal proteção legal no caso concreto. Além disso, por não terem natureza cogente, a própria lei pode entender interessante, em determinadas situações, afastar a sua aplicação. Percebe-se, portanto, a possibilidade de certa flexibilização de tais normas, o que poderá decorrer da vontade das partes ou da própria lei.
Nas corretas palavras de Kazuo Watanabe, “o foro do domicílio do autor é uma regra que beneficia o consumidor, dentro da orientação fixada no inc. VII do art. 6.º do Código, de facilitar o acesso aos órgãos judiciários. Cuida-se, porém, de opção dada ao consumidor, que dela poderá abrir mão para, em beneficio do réu, eleger a regra geral, que é a do domicílio do demandado (art. 94 do CPC)”84.
Dessa forma, é plenamente possível que o consumidor se veja obrigado a litigar fora de seu domicílio, inclusive contra sua vontade, na hipótese de reunião de processos conexos diante do juízo prevento, que não será necessariamente o juízo do foro de seu domicílio. Apesar de versar sobre a competência relativa, a conexão é considerada matéria de ordem pública, impondo-se à vontade das partes, inclusive do consumidor.
Por outro lado, a vontade livre e externada sem qualquer espécie de vício de consentimento pelo consumidor prevalece sobre a regra legal de competência, lembrando-se sempre que o consumidor é considerado apenas hipossuficiente, nunca um incapaz de tomar decisões que signifiquem a renúncia a proteções previstas em lei. Assim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu corretamente que, sendo o consumidor capaz, é, a priori, válida cláusula de eleição de foro existente em contrato por ele firmado, ainda que de adesão, desde que não se demonstre sua abusividade no caso concreto:
“Recurso especial. Cláusula de eleição de foro, inserida em contrato de adesão, subjacente à relação de consumo. Competência absoluta do foro do domicílio do consumidor, na hipótese de abusividade da cláusula. Precedentes. Aferição, no caso concreto, que o foro eleito encerre especial dificuldade ao acesso ao Poder Judiciário pela parte hipossuficiente. Necessidade. Recurso especial parcialmente provido. I. O legislador pátrio conferiu ao magistrado o poder-dever de anular, de ofício, a cláusula contratual de eleição de foro, inserida em contrato de adesão, quando esta revelar-se abusiva, vale dizer, dificulte a parte aderente em empreender sua defesa em juízo, seja a relação jurídica subjacente de consumo, ou não; II. Levando-se em conta o caráter impositivo das leis de ordem pública, preponderante, inclusive, no âmbito das relações privadas, tem-se que, na hipótese de relação jurídica regida pela Lei consumerista, o magistrado, ao se deparar com a abusividade da cláusula contratual de eleição de foro, esta subentendida como aquela que efetivamente inviabilize ou dificulte a defesa judicial da parte hipossuficiente, deve necessariamente declará-la nula, por se tratar, nessa hipótese, de competência absoluta do Juízo em que reside o consumidor; III. A contrario sensu, não restando patente a abusividade da cláusula contratual que prevê o foro para as futuras e eventuais demandas entre as partes, é certo que a competência territorial (no caso, do foro do domicílio do consumidor) poderá, sim, ser derrogada pela vontade das partes, ainda que expressada em contrato de adesão (ut art. 114, do CPC). Hipótese em que a competência territorial assumirá, inequivocamente, a natureza relativa (regra, aliás, deste critério de competência); IV. Tem-se, assim, que os arts. 112, parágrafo único, e 114 do CPC, na verdade, encerram critério de competência de natureza híbrida (ora absoluta, quando detectada a abusividade da cláusula de eleição de foro, ora relativa, quando ausente a abusividade e, portanto, derrogável pela vontade das partes); V. O fato isoladamente considerado de que a relação entabulada entre as partes é de consumo não conduz à imediata conclusão de que a cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão é abusiva, sendo necessário para tanto, nos termos propostos, perscrutar, no caso concreto, se o foro eleito pelas partes inviabiliza ou mesmo dificulta, de alguma forma, o acesso ao Poder Judiciário; VI. Recurso Especial parcialmente provido” (REsp 1.089.993/SP – Recurso Especial 2008/0197493-1 – Rel. Min. Massami Uyeda (1129) – Terceira Turma – j. 18.02.2010 – DJe 08.03.2010).
O entendimento, entretanto, não é tranquilo nem mesmo no Superior Tribunal de Justiça, que por vezes faz crer que, somente por se tratar de contrato de adesão consumerista, a cláusula de eleição de foro é abusiva e deve ser considerada nula:
“Processual civil. Contrato de consórcio. Cláusula de eleição de foro. Nulidade. Domicílio do consumidor. Parte hipossuficiente da relação. Foro eleito. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se, seguindo os ditames do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que a cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de consórcio há que ser tida como nula, devendo ser eleito o foro do domicílio do consumidor a fim de facilitar a defesa da parte hipossuficiente da relação. 2. Agravo regimental desprovido” (STJ – AgRg no Ag 1070671/SC – Quarta Turma – Rel. Min. João Otávio de Noronha – j. 27.04.2010 – DJ 10.05.2010).
Prefiro o entendimento exposto no primeiro julgamento, considerando sempre que, sem a efetiva abusividade da cláusula de eleição de foro, não há qualquer razão para entendê-la como nula. Insisto que a proteção concedida pelo art. 101, I, do CDC, não pode se sobrepor à vontade livremente manifestada pelo consumidor ao aderir ao contrato, se a indicação de foro diverso de seu domicílio não lhe traz qualquer sério empecilho ao exercício da ampla defesa de seu direito. Entender o contrário seria impedir a validade de qualquer cláusula de eleição de foro, circunstância típica da competência absoluta, estranha à espécie de competência ora analisada.
Infelizmente o Projeto de Lei do Senado 281/2012 consagra vedação pura e simples à cláusula de eleição de foro em contratos celebrados pelo consumidor, conforme sugestão de redação do art. 101, III. Mais uma vez o consumidor é tratado como verdadeiro incapaz, e não como hipossuficiente. Sendo a cláusula fruto de sua vontade livre, podendo inclusive se beneficiar concretamente do foro indiciado, por que se estabelecer em lei que a cláusula é nula?
Outra forma de prorrogação de competência tradicional do sistema processual, decorrente da ausência de interposição de exceção de incompetência, também é plenamente aplicável ao consumidor, de forma que, sendo proposta a demanda em foro diverso daquele previsto pelo art. 101, I, do CDC, e não havendo o reconhecimento da incompetência relativa de ofício nos termos do art. 112, parágrafo único do CPC, ou a oposição de exceção de incompetência, se verificará a prorrogação, tornando-se concretamente competente o foro que era abstratamente incompetente.
Por fim, mas não menos interessante, há uma quarta forma de prorrogação de competência aplicável ao consumidor no tocante à não aplicação do art. 101, I, do CDC no caso concreto. Essa hipótese de prorrogação de competência não se encontra expressamente prevista em lei, mas resulta de uma análise sistemática das regras legais a respeito da matéria. Haverá tal espécie de prorrogação sempre que a demanda for proposta respeitando-se a regra de foro geral, que para o Código de Processo Civil é a do domicílio do réu. Sempre que existir uma regra especial de foro, a proteger o autor, em detrimento da regra geral, poderá essa parte optar por afastar a norma que teria sido feita em seu favor e litigar no domicílio do réu.
A justificativa para tal escolha do foro do domicílio do réu como competente – ainda que aplicável à espécie regra de foro especial – liga-se à inexistência de interesse jurídico do réu em excepcionar justamente o juízo do foro que lhe acarretará as maiores vantagens possíveis. Evidentemente, essas vantagens são presumidas, parecendo à parcela da doutrina que tal presunção é relativa, de modo a ser possível, no caso concreto, provar o réu algum prejuízo nesse desrespeito do autor à norma de foro especial. A prorrogação, portanto, ficaria condicionada à ausência de um efetivo prejuízo do réu no caso concreto, que deverá ser provado na exceção de incompetência.
Já havia se manifestado Antônio Carlos Marcato sobre o assunto (eleição de foro), mas em lição totalmente aplicável às outras hipóteses descritas:
“Também suscita interessante questão pertinente ao ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu, diverso do eleito. Nesse caso só terá sentido o acolhimento da exceção declinatória se e quando o excipiente demonstrar, de modo inequívoco, que o ajuizamento da ação em foro diverso do eleito acarretou-lhe ou poderá acarretar-lhe prejuízo. É que a regra do art. 94, instituindo o foro comum em benefício do réu, deverá prevalecer se o autor, ignorando a cláusula eletiva, optar por atendê-la; e isso decorre da singela circunstância de que, inexistindo prejuízo derivado dessa opção, não teria o réu, em tese, nem mesmo interesse processual em opor a exceção”85.
Em especial na hipótese do consumidor, entretanto, não se deve acolher tal entendimento. Entendo que, optando o consumidor por propor a demanda judicial no foro do domicílio do fornecedor, não será cabível a exceção de incompetência, sendo a mera propositura da ação, nessas circunstâncias, suficiente para a prorrogação da competência. A inadmissibilidade de exceção de incompetência do fornecedor, nesse caso, se dá justamente para prestigiar a vontade do consumidor, porque, mesmo que ele prove que prefere litigar no foro previsto no art. 101, I, do CDC, se o consumidor entender mais adequado litigar no foro do domicílio do fornecedor, essa vontade deve prevalecer.
No correto entendimento de Leonardo Greco, a escolha do foro “fica a critério do autor. Se esse preferir o foro da sede do réu ou o foro de onde está localizada a sua agência, ele está abrindo mão do privilégio do foro, mas ele tem o direito de promover a ação no seu próprio domicílio, por força do citado art. 101”86.
O Projeto de Lei do Senado 281/2012 inova ao prever expressamente outros foros especiais, criando uma amplitude maior na já existente concorrência de foros em benefício do consumidor.
O art. 101, I, do CDC recebe uma redação mais precisa, preocupada em destacar que somente há verdadeiro foro especial do domicílio do consumidor na hipótese de esse ser o autor da ação, considerando-se que, ao figurar no polo passivo, a competência será do foro comum previsto no art. 94 do CPC. É uma conclusão que atualmente já se tem adotado mesmo sem qualquer previsão legal, mas consagrações legais de corretos entendimentos doutrinários são sempre bem-vindas. A grande novidade, entretanto, vem na redação sugerida para o inciso II e parágrafo único do dispositivo legal.
O inciso II prevê categoricamente ser escolha do consumidor, quando participar como autor da ação, o foro: (a) de seu domicílio; (b) do domicílio do fornecedor de produtos e serviços; (c) do lugar da celebração ou da execução do contrato; (d) qualquer outro conectado ao caso. Entendo que, mais uma vez, a preocupação em tutelar o consumidor levou a exagero legislativo, não se justificando a parte final do dispositivo legal. A liberdade do consumidor em fixar a competência territorial no caso concreto já é suficiente para sua proteção com a concorrência dos três primeiros foros previstos, sendo extremamente subjetiva a escolha de “foro conectado ao caso”. Da forma como está previsto, parece que o consumidor terá à sua escolha qualquer foro que remotamente diga respeito, ainda que indiretamente, ao caso concreto, em amplitude exagerada.
O Projeto de Lei deu especial atenção ao fornecimento a distância internacional, o que se justifica em razão do incremento dessa espécie de comércio. No parágrafo único do art. 101 repete-se a regra do inciso I, admitindo-se também a aplicação da “norma estatal escolhida pelas partes, desde que mais favorável ao consumidor, assegurando igualmente seu acesso à Justiça”.
A Lei 11.280/2006, ao somar ao art. 112, do CPC, um parágrafo único, trouxe significativa novidade no trato judicial da incompetência relativa, permitindo ao juiz, na hipótese de haver, no caso concreto, uma nulidade em cláusula de eleição de foro em contrato de adesão, declarar de ofício tal nulidade, declinando de sua competência para o “juízo de domicílio do réu”. O dispositivo legal, apesar de trazer uma novidade ao Código de Processo Civil, simplesmente consagra entendimento jurisprudencial pacífico em nossos Tribunais, sendo necessária uma breve análise dos precedentes que levaram o legislador à previsão a ser comentada.
Percebe-se, pela literalidade da norma invocada, que o objetivo do legislador foi criar uma exceção à regra geral de que não cabe ao juiz reconhecer de ofício a sua própria incompetência, sendo essa missão exclusiva do réu e, em determinadas hipóteses, do assistente87. A regra, portanto, continua sendo que, não havendo ingresso de exceção de incompetência, prorroga-se a competência do juízo, ou seja, torna-se competente o juízo que originariamente não o era. O art. 112, parágrafo único, CPC, cria, tão somente, uma exceção à regra geral.
Há ainda outra novidade concernente à matéria, trazida pela nova redação do art. 114, CPC, que passa a ser: “Prorrogar-se-á a competência se dela o juiz não declinar na forma do parágrafo único do art. 112 desta Lei ou o réu não opuser exceção declinatória nos casos e prazos legais”. Ao modificar o trato do reconhecimento da incompetência relativa, prevendo uma hipótese na qual o juiz deverá proceder de ofício, o legislador se viu obrigado a adaptar as consequências jurídicas geradas pelo não reconhecimento da incompetência. O tema será abordado em seu devido momento.
O tema do reconhecimento de ofício da incompetência relativa encontrava-se pacificado com a Súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. O entendimento expresso na súmula se justificava pela própria natureza da norma, valorizadora do interesse das partes, que podem, no caso concreto, abrir mão da proteção legal, excluindo qualquer intervenção do juiz, como bem apontado por José Carlos Barbosa Moreira:
“Em tais hipóteses, também por questão de coerência, cumpre que se assegure àquele cujo interesse se reputa preponderante a possibilidade efetiva de fazer valer sua preferência. Se é do réu que se cuida, como nos exemplos acima figurados, e o autor intentou a ação em foro diverso do apontado na lei, uma de duas: ou o réu, juiz de seu próprio interesse, entende que a opção o contraria, e em tal caso oferece a exceção, ou entende que ela não o contraria, e abstém-se de excepcionar, dando ensejo à prorrogação (Código de Processo Civil, art. 114). Conferir aqui ao órgão judicial a possibilidade de antepor-se ou sobrepor-se à manifestação (tácita que seja) do réu é introduzir nesse esquema lógico um fator de perturbação que nenhuma vantagem vem compensar”88.
O reconhecimento de ofício da incompetência ficava restrito às hipóteses de incompetência absoluta, o que era justificado – como ainda é – pela natureza das normas que tratam dessa espécie de competência. Tratando-se de normas de competência que têm como fundamento razões de ordem pública, basicamente as de melhorar o serviço jurisdicional e proporcionar uma tutela jurisdicional de melhor qualidade, é natural que o juiz possa conhecê-las de ofício, declarando-se absolutamente incompetente mesmo sem a manifestação da parte interessada.
O entendimento proibitivo quanto ao reconhecimento de ofício da incompetência relativa do juízo, apesar de sumulado, passou a ser sistematicamente flexibilizado por nossos Tribunais, com amplo amparo doutrinário, na hipótese de o processo envolver relação de consumo em que houvesse cláusula abusiva de eleição de foro. Tornou-se frequente em contratos de consumo – em especial nos contratos de adesão – o fornecedor indicar o foro competente para julgar eventuais demandas geradas na interpretação ou cumprimento do negócio jurídico que traz dificuldades excessivas para o exercício do direito de defesa por parte do consumidor, com a nítida intenção de prejudicá-lo processualmente.
É óbvio que nem toda cláusula de eleição de foro envolvendo contrato de consumo é abusiva, devendo o juiz analisar a abusividade no caso concreto, até mesmo porque os contratos de adesão não são repelidos por nosso ordenamento jurídico; aliás, pelo contrário, são importantes mecanismos de regulação de relações jurídicas nos dias atuais89. O que evidenciará o vício no caso concreto é a determinação como foro competente de um local distante do domicílio do consumidor, sem qualquer justificativa séria para tal escolha, de forma a ocasionar um sério obstáculo ao exercício da ampla defesa. Nesses casos específicos, a aplicação da Súmula 33 do STJ vem sendo afastada, permitindo-se ao juiz conhecer sua incompetência relativa de ofício.
O raciocínio utilizado, mesmo antes da novidade legislativa, envolvia basicamente três artigos do Código de Defesa do Consumidor:
– art. 1.º: determina que todas as normas previstas pelo CDC são de ordem pública, parecendo incluir tanto as normas de direito material como as de direito processual;
– art. 51: indica os vícios que determinam a abusividade do contrato;
– art. 6.º, VIII: exige do juiz a facilitação do exercício do direito de defesa do direito do consumidor no processo.
Estando as normas consumeristas no âmbito das normas de ordem pública, o juiz não precisaria aguardar a manifestação da parte interessada, podendo declarar a nulidade da cláusula contratual de ofício (insista-se, desde que presente um dos vícios indicados pelo art. 51, CDC). A partir do momento em que anula de ofício a eleição de foro, nada haverá para justificar a escolha feita pelo autor-fornecedor, devendo o juiz remeter os autos para o foro do domicílio do réu-consumidor.
Registre-se que, no tocante ao tema, determinada corrente passou a entender que a regra de competência, tão-somente por se tratar de relação de consumo, se tornaria absoluta, o que permitiria ao juiz de ofício o reconhecimento de afronta a tal norma, sem qualquer ofensa à Súmula 33 do STJ. Esse era o entendimento do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Sálvio de Figueiredo Teixeira, segundo o qual, “tratando-se de contrato de adesão, a declaração de nulidade de cláusula eletiva de foro, ao fundamento de que estaria ela a dificultar o acesso do réu ao Judiciário, com prejuízo para a sua ampla defesa, torna absoluta a competência do foro do domicílio do réu, afastando a incidência do Enunciado 33 da Súmula/STJ”.90 Ainda hoje encontram-se equivocadas decisões que apontam para a natureza absoluta da competência do foro em relação de consumo, por se admitir o reconhecimento de incompetência de ofício91.
Não parece correto tal entendimento, que, inclusive, mostra-se absolutamente contrário à novidade legislativa, que, ao tratar do reconhecimento de ofício pelo juiz da incompetência nos casos previstos na norma legal, criou um parágrafo em artigo cujo caput trata da incompetência relativa. Correto o legislador nesse tocante, considerando-se que a competência continua a ser relativa, já que territorial, mas, em virtude das previsões contidas no diploma consumerista, e agora também no art. 112, parágrafo único, CPC, é legítima a exceção da regra de que a incompetência relativa não pode ser conhecida pelo juiz de ofício.92
Para outra parcela da doutrina, independentemente da discussão acerca da natureza absoluta ou relativa da competência, o que importa é a garantia do efetivo direito à ampla defesa do réu, garantido constitucionalmente. Nesse sentido as lições de Antônio Carlos Marcato, tratando das dificuldades que podem ser geradas ao consumidor-réu:
“Esses óbices, ainda que eventualmente impostos de modo não intencional, autorizam e justificam a determinação de remessa dos autos do processo ao foro do domicílio do réu; e isto porque a questão em debate envolve, à evidência, tema muito mais sério e grave que a simples possibilidade de ser reconhecida de ofício a nulidade de cláusula abusiva ou a incompetência relativa ou, ainda, de se tratar de incompetência absoluta: cuida-se, em verdade, da necessidade (e não simples faculdade) de atendimento das exigências do devido processo legal, mister do qual todos os integrantes do Poder Judiciário devem, permanentemente e intransigentemente, se desincumbir”.93
Nota-se que os fundamentos poderiam até variar, mas a conclusão era sempre a mesma: abrindo-se a possibilidade do juiz anular de ofício cláusula abusiva de eleição de foro em contrato de adesão, declarando-se incompetente, também de ofício, e determinando a remessa para o foro do local de domicílio do consumidor-réu.
O desejo de se proteger o consumidor numa demanda em que o fornecedor busque se valer de sua posição de superioridade para prejudicar a parte mais fraca da relação não justifica os principais entendimentos a respeito da possibilidade de o juiz reconhecer a incompetência relativa de ofício. Não que o resultado do raciocínio esteja equivocado, mas os fundamentos certamente não se mostram corretos. O pior é que o legislador, influenciado pelo equivocado entendimento da doutrina, o consagrou na nova norma legal, ora comentada.
É equivocado acreditar ser a declaração de nulidade de cláusula abusiva de eleição de foro o suficiente para, automaticamente, permitir que o juízo declare sua incompetência relativa de ofício, determinando o cumprimento no disposto no art. 101, I, CDC, com a consequente remessa do processo ao foro do local do domicílio do consumidor-réu. Mesmo na hipótese de anulação de ofício da cláusula de eleição de foro, o que legitima a atuação do juiz em remeter os autos ao juízo competente continua a ser o afastamento da Súmula 33 do STJ, porque, mesmo sem a cláusula contratual, a incompetência continua a ser territorial e, portanto, relativa. A justificativa para a atuação oficiosa do juiz estaria prevista no art. 6.º, VIII, do CDC.
Na realidade, a situação acima descrita demonstra que essa questão vem sendo tratada de maneira equivocada. Que o juiz pode declarar nula de ofício a cláusula abusiva de eleição de foro não resta qualquer dúvida, quer seja pela redação do art. 1°, CDC, quer seja por aplicação do novo art. 112, parágrafo único, CPC, mas isso nada tem a ver com a remessa do processo para o foro do domicílio do réu. Pergunta-se: se caso não existisse a cláusula contratual estipulando o foro competente, e se mesmo assim o fornecedor ingressasse com a demanda em outro foro que não o do domicílio do consumidor, não seria possível o reconhecimento da incompetência relativa com a consequente remessa do processo ao foro do domicílio do réu? Parece que a resposta deva ser no sentido de que, independentemente da existência de cláusula contratual eletiva de foro, a incompetência deve ser reconhecida, o que torna a declaração de nulidade de tal cláusula absolutamente desnecessária para o reconhecimento de ofício da incompetência.
O que se pretende demonstrar é que, com ou sem a existência da cláusula contratual de eleição de foro, as normas de proteção ao consumidor já indicadas anteriormente darão o substrato jurídico suficiente para o juiz declarar sua incompetência de ofício, ainda que relativa. A indevida ligação entre a declaração de nulidade de cláusula abusiva de eleição de foro e o reconhecimento de ofício de incompetência relativa, apesar de absolutamente dispensável, encontrava-se tão arraigada na doutrina que o legislador – influenciado por tais lições – consagrou o equívoco na redação do novo dispositivo legal ora comentado.
Ao condicionar o reconhecimento da incompetência relativa à declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, o legislador permite a criação de curiosa situação, que inclusive suscita a interessante questão a respeito da abrangência da natureza de ordem pública das normas consumeristas (art. 1° do CDC).
Interessante circunstância surgirá na hipótese de o réu, no momento em que for citado, declarar nos autos que pretende ver a demanda seguir no foro apontado na cláusula contratual que foi anulada de ofício. O que fazer nesse caso? O processo foi distribuído para a 1.ª Vara Cível de Vitória, sendo esse o foro indicado pela cláusula de eleição de foro. O juiz, ao receber a petição inicial, anula de ofício a cláusula contratual, reconhece sua incompetência relativa e envia os autos ao foro do domicílio do consumidor-réu, no caso a Comarca de Cuiabá. Citado pelo juízo da 3.ª Vara Cível de Cuiabá, o réu ingressa com exceção de incompetência, alegando a legalidade da cláusula de eleição e requerendo a remessa dos autos à Comarca de Vitória. Como deverá ser julgada tal exceção de incompetência? A cláusula já não deixou de existir a partir da decisão do juízo de Vitória?
A situação narrada acima, embora de inegável raridade na praxe forense, suscita relevante questão sobre a atuação oficiosa do juiz na hipótese em que a mesma, baseada hipoteticamente na proteção do réu hipossuficiente, acaba por contrariar seu próprio interesse no caso concreto, questão certamente abrangente que faz por merecer um trabalho específico sobre o tema. Mas como resolver a questão concreta apresentada? Seria possível falar-se em anulação condicionada à vontade do réu, que poderia fazer a cláusula contratual voltar do “mundo dos mortos”? A solução seria possibilitar, ainda que não mais exista a cláusula contratual, que, diante de concordância de ambas as partes, possa o juízo que recebeu o processo remetê-lo ao juízo que primeiro o havia recebido, onde o processo deverá ter seguimento.
Como se nota, melhor teria sido o juiz simplesmente se declarar incompetente relativo, ainda que se utilize como fundamento de sua decisão a nulidade da cláusula contratual, sem, entretanto, decidir a respeito de sua validade ou não. Remetido o processo ao foro do local do domicílio do réu e realizada sua citação, de duas uma: (I) reconhecendo o benefício do afastamento da cláusula contratual de eleição de foro, no caso concreto, simplesmente não excepciona o Juízo, gerando a prorrogação de competência, ou, (II) acreditando – por qualquer razão – que a cláusula contratual lhe favorece, ingressa com a exceção de incompetência pleiteando sua observação, o que gerará o acolhimento de sua pretensão, com a remessa do processo de volta ao juízo que originariamente o recebeu. O entendimento, como é claro, mantém a principal função da nova norma, que é a proteção ao réu na hipótese legal.
Parece bastante claro que o objetivo do legislador com a previsão contida no art. 112, parágrafo único, CPC, foi de proteger o réu que, participando de um contrato de adesão, concorda com cláusula abusiva de eleição de foro. Não se pode negar que, uma vez citado, e apresentada a exceção de incompetência, o réu conseguirá anular a cláusula de eleição de foro (desde que presente algum vício) e com isso o processo será remetido ao foro de seu domicílio, de qualquer forma.
O problema é que mesmo esse simples ato processual (ingresso de exceção de incompetência) poderá, diante do caso concreto, ser de difícil execução para o réu, que será prejudicado na defesa de seus interesses caso não tenha condições de ingressar com a exceção, o que deve ser evitado pelo juiz, mediante o reconhecimento de ofício de sua incompetência relativa. Apesar de não ser esse o momento adequado para maiores ponderações a respeito da nova redação do art. 305, CPC, parece necessário consignar que o problema que o legislador procura afastar com a previsão do art. 112, parágrafo único é, de forma bem mais técnica, resolvida por aquele dispositivo legal.
A modificação mais curiosa no tocante ao tema da competência relativa produzida pela Lei 11.280/2006 é a nova redação atribuída ao art. 114, CPC, que trata de uma das espécies de prorrogação legal de competência. Antes da reforma legislativa, a norma era clara ao dispor que, na hipótese de o réu não excepcionar o juízo, ocorreria a prorrogação de competência, tornando-se competente o juízo da demanda, ainda que não o fosse originariamente. Com a modificação legislativa, o prazo da exceção de incompetência – prazo de resposta do réu, a par de a redação do art. 305, CPC, prever que o prazo é de 15 dias –, além de criar uma preclusão ao réu, também atingirá ao juiz nas hipóteses de aplicação do art. 112, parágrafo único, do CPC.
Cumpre registrar que, apesar de a redação legal prever que o juiz “poderá” proceder conforme os termos do art. 112, parágrafo único, CPC, não haverá qualquer facultatividade ao juiz para aplicação do dispositivo legal. Significa dizer que não existe uma opção válida ao juiz entre aplicar ou não o dispositivo legal, sendo obrigado a tanto se o caso concreto demonstrar o preenchimento dos requisitos. Naturalmente, será o juiz o responsável pela verificação do preenchimento dos requisitos, mas não há dúvida de que estará vinculado – correto ou não – em sua conclusão, ao preenchimento ou não de tais requisitos. Assim, havendo cláusula abusiva de eleição de foro em contrato de adesão, será obrigado a aplicar a norma legal e remeter o processo ao foro do local do domicílio do réu.
O legislador se preocupou com o problema que poderia ser gerado com o não reconhecimento de ofício da incompetência relativa, em hipóteses em que o réu não excepcionou o juízo. Procurou deixar bem claro que, apesar de ser matéria que poderá conhecer de ofício, não transforma o caso concreto numa espécie de incompetência absoluta, porque nesse caso o vício não se convalidaria, podendo ser alegado a qualquer momento e até mesmo após o trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. O objetivo do legislador foi apontar para a convalidação do vício após o transcurso do prazo de resposta do réu, ainda que seja possível ao juiz reconhecer sua incompetência relativa de ofício.
Não deixa de ser curiosa a opção do legislador, embora totalmente justificável à luz da prática forense. É criada uma matéria de ordem pública com menor força do que uma verdadeira matéria de ordem pública, considerando-se que o juiz somente reconhecerá a matéria de ofício até o transcurso do prazo de resposta. Depois disso, não poderá mais se manifestar sobre a matéria, contrariando regra básica das matérias de ordem pública: elas podem ser conhecidas de ofício a qualquer momento do processo. Quem sabe o legislador entenda que a proteção ao réu não tenha o condão de transformar a matéria em questão de ordem pública, o que não deixa de ser discutível em virtude da possibilidade do reconhecimento da matéria de ofício, atuação do juiz concernente às matérias de ordem pública.
Não é a primeira vez que o legislador confunde a natureza da matéria e a possibilidade de seu reconhecimento de ofício para resolver problemas práticos. No art. 526, parágrafo único, criou-se uma interessante hipótese de requisito de admissibilidade recursal que somente poderá ser conhecido pelo juiz se alegado pela parte interessada. É de fato curioso, já que os requisitos de admissibilidade são matérias de ordem pública, devendo o juiz conhecê-las de ofício, o que não ocorre na hipótese prevista pelo dispositivo comentado94. Não deixa de ser, no mínimo, uma confusão entre natureza de matéria e condições para seu reconhecimento em juízo.
A nova norma criou uma hipótese de preclusão temporal para o juiz, fenômeno que parecia não existir no ordenamento processual brasileiro, considerando-se que os prazos para o juiz são prazos impróprios, pois, uma vez descumpridos, nenhum efeito processual se verificará. Os efeitos gerados por descumprimento de prazo impróprio pelo juiz serão, quando muito, de natureza disciplinar95. Não havendo consequência processual dessa omissão, não se pode falar em preclusão temporal para o juiz, pois mesmo depois de transcorrido o prazo para a realização ao ato, será totalmente lícita a sua realização.96
Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, “é natural que sejam impróprios os prazos fixados para o juiz porque ele não defende interesses pessoais no processo, mas cumpre deveres. Seria contrário à ética e ao senso-comum a definitiva dispensa de cumprimento de um dever, em razão do seu não cumprimento no prazo. Para alguns, talvez isso fosse até um prêmio... O juiz que excede prazos sem motivo justo é um mau pagador das promessas constitucionais de tutela jurisdicional e deve suportar sanções administrativas ou mesmo pecuniárias, mas inexiste a sanção processual das preclusões.”97
Após o regramento do art. 114 do CPC, não mais será possível se afirmar que a preclusão temporal não atinge o juiz, ao menos na hipótese prevista em lei.
Após a determinação da competência do foro, ainda se exigirá, a depender do caso concreto, a determinação da competência do juízo. Nesse caso será indispensável a utilização da competência em razão da pessoa e da matéria, ambas espécies de competência absoluta.
A competência em razão da pessoa não vem regulada expressamente pelo Código de Processo Civil, mas nem por isso deixa de ser lembrada pela melhor doutrina, tendo importante aplicação prática. Registre-se mais uma vez que as regras de competência em razão da pessoa são de natureza absoluta, não admitindo prorrogação. Uma vez fixadas em norma de organização judiciária, determinarão a competência do juízo em interesse geral da administração da Justiça.
A importância dessa espécie de competência na determinação do juízo competente no âmbito do direito consumerista é secundária, considerando-se que é o objeto da demanda que a caracteriza como sendo consumerista, e não os sujeitos que participam do processo. Ainda assim, é possível se verificar a exigência de uma vara especializada pela pessoa em causas que tenham como objeto o direito do consumidor. Tradicional exemplo desse tipo de vara especializada é a Vara da Fazenda Pública – com competência para julgamento das causas envolvendo o Estado e o Município –, que pode naturalmente ter processos que tratem de direito do consumidor.
De maior relevância é a competência em razão da matéria, também composta por regras de competência absoluta, inadmissível, portanto, a prorrogação. Sempre que estiverem fixadas em norma de organização judiciária, determinarão a competência do juízo, em interesse geral da administração da Justiça. As normas de organização judiciária criam varas especializadas, que concentram todas as demandas pertencentes a um determinado foro – geralmente da Capital ou de cidade de grande porte –, tomando-se por base matéria específica. O objetivo é bastante claro: especializar os servidores da justiça, inclusive e principalmente o juiz, em uma determinada matéria, dispensando estudos mais aprofundados de tantas outras, o que teoricamente ensejará uma prestação jurisdicional de melhor qualidade. Vivemos, afinal, em tempos de especialização.
No tocante à existência dessas varas especializadas, por encontrar sua maior aplicação em previsões constantes de leis de organização judiciária, tudo dependerá da vontade do legislador local, que, percebendo a necessidade de varas especializadas, as criará, atribuindo-lhes competência de natureza absoluta. Assim, é possível que em qualquer comarca seja criada vara especializada do direito do consumidor, e, sempre que isso ocorrer, será a vara competente para julgar todas as demandas envolvendo o direito consumerista.
Registre-se, por fim, que, por se tratar da fixação de competência de juízo, somente após a fixação da competência do foro terá alguma relevância a existência ou não de vara especializada em razão da matéria ou da pessoa. Essas varas especializadas não modificam a regra de competência de foro, só passando a ter importância após tal determinação. Nesse sentido, há inclusive entendimento consolidado pela Súmula 206 do STJ: “A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”, que também pode ser aplicada para as varas especializadas em razão da matéria.
Por intervenção de terceiros entende-se a permissão legal para que um sujeito alheio à relação jurídica processual originária ingresse em processo já em andamento. Apesar das diferentes justificativas que permitem esse ingresso, as intervenções de terceiros devem ser expressamente previstas em lei, tendo fundamentalmente como propósitos a economia processual (evitar a repetição de atos processuais) e a harmonização dos julgados (evitar decisões contraditórias). É natural que, uma vez admitido no processo, o sujeito deixa de ser terceiro e passa a ser considerado parte; em alguns casos, “parte na demanda”, e noutros, “parte no processo”98.
O Capítulo IV do Livro I do Código de Processo Civil tem como título “Da intervenção de terceiros”, compreendendo a oposição, nomeação à autoria, denunciação da lide e chamamento ao processo (arts. 56 a 80 do CPC). Apesar de estar em capítulo distinto, é unânime a doutrina em apontar também a assistência (Capítulo III, arts. 50 a 55 do CPC) como forma de intervenção de terceiro99. Essas cinco espécies de intervenção são consideradas as intervenções de terceiros típicas de nosso ordenamento processual.
Ocorre, entretanto, que nem todas as intervenções encontram sua justificação nessas cinco modalidades típicas de intervenção de terceiro, o que demonstra que o rol legal é meramente exemplificativo. Previsões legais esparsas que permitem a intervenção de um terceiro em processo já em andamento e que não são tipificáveis em nenhuma dessas cinco modalidades, constituem as chamadas intervenções de terceiros atípicas. A definição dessa espécie de intervenção dependerá da amplitude que se pretenda dar à atipicidade, não existindo unanimidade na doutrina a respeito de quais efetivamente sejam essas intervenções atípicas.
O Código de Defesa do Consumidor tem apenas dois dispositivos legais que tratam expressamente desse tema: (i) o art. 88, que expressamente proíbe a denunciação da lide na hipótese do art. 13, parágrafo único; e (ii) o art. 101, II, que permite ao réu chamar ao processo o segurador. Dessa forma, a análise se concentrará nesses dois dispositivos legais e nas duas espécies de intervenção de terceiro tratadas por eles.