
CAPÍTULO DEZ
O gol inconfundível
“O pior cego é o que só vê a bola.”
Nelson Rodrigues
O proprietário pega o telefone e se apresenta. “Mauro Shampoo”, diz, com voz firme. “Jogador de futebol, cabeleireiro e homem. É o único no Brasil.”
Acrescenta: “Você quer marcar uma hora?”
Mauro Shampoo está vestido com seu uniforme de futebol. Encerra o telefonema, coloca o fone e uma tesoura de lado e começa a fazer embaixadinhas. Quer mostrar que mesmo tendo pendurado as chuteiras ainda não perdeu a técnica. Consegue controlar a bola no pequeno espaço entre seus clientes sem deixar cair.
Na sua juventude cabeluda Mauro Shampoo era o capitão do Íbis, clube da primeira divisão pernambucana. No final dos anos 1970, o Íbis passou três anos sem vencer uma única partida. O time ficou conhecido como o Pior do Mundo. “Era um grande privilégio ter essa reputação”, diz ele. “A gente tinha até um fã-clube em Portugal. Quando a gente começou a vencer mandaram telegramas reclamando.”
Enquanto jogava futebol Mauro manteve o emprego de cabeleireiro, daí o apelido Shampoo. Também o inspirou a chamar sua mulher de Pente Fino, e seus filhos de Creme Rinse, Secador e Shampoozinho. Aposentado do esporte, ele cuida de seu próprio salão em Recife. É uma figura conhecida entre os futebolistas locais, que passam por ali regularmente para tratar do cabelo.
Apelidos bobos não são exclusividade dos piores jogadores do Brasil. Dúzias de craques ficaram mais conhecidos por cognomes absurdos. O hábito começou cedo. Na primeira partida da Seleção, em 1914, havia um centroavante chamado Formiga. O ataque do Brasil na Copa de 1930 era comandado por Preguinho. As décadas seguintes viram as caras novas de Bigode, Nariz e Boquinha jogando pelo país. Muito inadequadamente, o capitão com ar de brucutu da Seleção campeã de 1994 era chamado de Dunga, um dos sete anões de Branca de Neve.
Mauro Shampoo / Jogador de futebol, cabeleireiro e homem
Os brasileiros têm mania de apelidos. Isso reflete sua cultura oral, informal. Há uma cidade em que tanta gente tem apelido que chegam a ser usados no catálogo telefônico local. Cláudio, em Minas Gerais, tem 22 mil habitantes. “Raramente conhecemos alguém pelo nome verdadeiro por aqui”, explica o editor da lista. “Se não tivéssemos uma lista por apelidos, as pessoas quase não usariam o telefone.”
Apelidos podem ser usados pelos membros de qualquer profissão, não importa o nível. O ex-governador do Piauí é chamado formalmente de Mão Santa, e o presidente da Federação de Futebol do Rio é o Caixa D’Água. Luiz Inácio da Silva, o candidato da esquerda à presidência nas últimas três eleições, mudou seu nome em cartório para incluir o apelido Lula de modo a deixar claro de quem se tratava nas votações.
Fiquei surpreso durante o almoço em abril de 2001, quando vi na TV que Caniggia e Maradona tinham marcado gols em partidas locais. Eu achava que Caniggia estivesse jogando na Escócia e Maradona tivesse se aposentado há alguns anos. Me enganei. Caniggia marcou pelo Rio Branco no campeonato paranaense e Maradona pelo Ferroviário no Ceará. Ambos os jogadores são cópias brasileiras, que ganharam o nome dos argentinos devido a semelhanças físicas; Caniggia por causa do cabelo comprido e Maradona porque era baixinho e troncudo.
Jogadores muitas vezes recebem apelidos por causa de outros jogadores. Faz sentido. Um garoto com uma habilidade espantosa será chamado mais provavelmente de Zico do que, digamos, Zaratustra. Em 1990, a Argentina eliminou o Brasil da Copa (com um gol de Caniggia em passe de Maradona). O time derrotado incluía Luiz Antônio Corrêa da Costa, cujo nome profissional é Müller. Ele ganhou o apelido do atacante alemão Gerd Müller. Gerd foi a duas copas, em 1970 e 1974. Nada mau, só que seu xará participou de uma a mais – em 1986, 1990 e 1994.
A diferença de idade entre os Müllers significa que nunca se enfrentaram. No Brasil existem futebolistas que jogaram contra quem inspirou seu nome. Roma é chamado assim porque os amigos o achavam parecido com Romário, que é treze anos mais velho. No final de 2000, chegaram a disputar a mesma partida, Roma pelo Flamengo e Romário pelo Vasco. Os jornais comentaram que o mais novo jogou mais como Romário do que o original.
Às vezes o nome descreve o modo de o jogador atuar, como Manteiga, cujos passes eram escorregadios. Pé de Valsa dançou pelo Fluminense e Nasa, que jogou no Vasco, cabeceava como um foguete. Apelidos também pintam um retrato social. Em 1919, quando a seleção brasileira era formada unicamente de brancos e mulatos, eles jogaram contra uma equipe uruguaia que incluía um negro, Gradin. Foi o primeiro estrangeiro negro a jogar no Rio. Pouco depois muitos negros brasileiros receberam o apelido de Gradim (com “m” no final, numa transliteração para o português). Por volta de 1932 apareceu um Gradim na seleção brasileira.
Vindo de uma cultura europeia muito sensível ao racismo, fiquei bastante impressionado na primeira vez que cheguei ao Brasil com o fato de ser comum e aceitável se referir a alguém pela cor de sua pele. Se fossem britânicos, muitos nomes de jogadores mobilizariam os que lutam contra a discriminação. Já houve um jogador famoso chamado de Escurinho. Telefone era chamado assim porque os telefones costumavam ser sempre pretos. Petróleo e Meia-Noite também não deixam dúvidas quanto à sua constituição.
Pretinha jogou pela seleção brasileira feminina nas Olimpíadas de Atlanta. Seu nome é capaz de ofender a sensibilidade europeia não apenas pela raça mas também pelo gênero. E o que dizer de sua companheira de time Mariléia dos Santos? Mariléia registrou-se na competição com o nome de Michael Jackson. Tinha recebido o apelido por causa do jeito de andar musical que lembrava o astro famoso. Na decisão do terceiro lugar, ao substituir outra jogadora, não entrou em campo com uma luva branca. Mesmo assim, quando seu nome foi anunciado, a multidão caiu na gargalhada.
Referir-se a alguém por sua nacionalidade – ou pela nacionalidade que suas características físicas sugerem – não é uma ofensa. Daria para traçar um mapa da imigração brasileira apenas pelos apelidos internacionais dos jogadores. Polaca, Mexicano, Paraguaio, Tcheco, Japinha, Chinesinho, Alemão, Somália, e Congo são alguns exemplos. Perto da fronteira uruguaia muitos são chamados de Castelhano, apenas porque falam espanhol.
Além de fornecer uma aula de geografia internacional, os nomes também rascunham um mapa do Brasil. Muitos jogadores recebem o apelido da cidade ou do estado de onde vieram. O Brasil é um país enorme e a migração interna é grande. Muitas vezes a cidade natal de um jogador é o que mais o distingue entre seus colegas. Em anos recentes o modo mais aceito de diferenciar dois atletas com o mesmo nome é acrescentar seu estado natal. Quando Juninho se transferiu de volta para o Brasil depois de jogar no Middlesbrough da Inglaterra ficou conhecido como Juninho Paulista porque havia outro Juninho em seu time, que virou Juninho Pernambucano. A preferência é pelo nome mais informal, em vez de – imagine! – usar o nome completo.
Os brasileiros são um povo muito ligado no corpo. Chamar alguém de vaidoso é muitas vezes um elogio, já que pode significar o cumprimento de sua obrigação social de ficar bonito. Infelizmente para Aílton Beleza, seu título se deve ao motivo oposto. Marciano não ganhou este nome por ironia. Nem Medonho. Tony Adams, veterano jogador do Arsenal, tem sorte de não ser brasileiro. Caso contrário, poderia haver dois jogadores chamados de Cara de Jegue.
Jogadores de futebol já foram apelidados de quase tudo. Até mesmo números. Houve um jogador chamado 84, um chamado de 109 e outro Duzentos. Animais são bem cotados – Piolho, Abelha, e Jacaré. (Jacaré é menos notável pelo nome – resultado de um hereditário queixo protuberante – do que pelo cartaz de jogador favorito do tenista Gustavo Kuerten. Quando Guga venceu o Aberto da França em 1997 elogiou Jacaré nas entrevistas. Com base na indicação, o jogador foi vendido do Avaí de Santa Catarina para um clube grande. Acabou indo para Portugal, embora tenha retornado logo depois. Kuerten é um tenista, não um olheiro.)
Apelidos enriquecem o aspecto teatral do futebol brasileiro. Contribuem para o seu romantismo. Pelé teria jogado do mesmo modo se fosse conhecido pelo nome verdadeiro, Édson Arantes. Ainda assim a palavra “Pelé” contém algo de sua mágica. Sua simplicidade e infantilidade refletem a pureza do gênio. Como Pelé poderia ser de verdade se não tivesse um nome verdadeiro? “Pelé” é menos um apelido do que um emblema de sua grandeza, o nome do mito, não do homem.
“Pelé” não tem nenhum outro significado em português, o que reforça a impressão de se tratar do nome de uma marca internacional inventada, como Kodak ou Compaq. A origem etimológica de “Pelé” é muito discutida mas ainda não é clara. Édson era conhecido como Dinho em casa. Quando se juntou ao Santos era chamado de Gasolina. Depois se tornou “Pelé”. Apelidos, como os vinhos, podem melhorar com o tempo.
O uso de apelidos também transmite a ideia de uma continuação da infância – de homens que não cresceram. Alguns brasileiros acreditam que isso seja internalizado, criando uma baixa autoestima.
O escritor Luís Fernando Verissimo vai além. Ele acredita que os apelidos são uma relíquia histórica dos tempos da escravidão. “O apelido do jogador era menos ‘nome artístico’ do que nome de senzala, uma forma de ele conhecer seu lugar e seu limite”, escreve. Ao invés de mostrar igualdade e inclusão, argumenta, apelidos reforçam uma cultura de submissão.
Imagine enfrentar um time formado por Picolé, Ventilador, Solteiro, Fumanchu, Ferrugem, Gordo, Astronauta, Portuário, Gago, Geada e Santo Cristo – todos nomes de jogadores profissionais. Provavelmente você não iria levá-los a sério. Assim também pensava o radialista Édson Leite.
Depois da Copa de 1962 muitos jogadores estavam próximos da aposentadoria. O Brasil fez uma revisão geral no escrete. A nova equipe começou a perder. De quem era a culpa? Édson Leite acusou os apelidos. Eram na melhor das hipóteses infantis e, na pior, vergonhosos. Claro que um time com uma escalação que parecesse ter saído do jardim de infância ficaria intimidado diante de, por exemplo, uma Argentina, que tinha jogadores de nomes grandiosos, quase pomposos, como Marzolini, Rattín e Onega.
Durante um breve período, Édson Leite fez uma campanha para chamar Pelé de Édson Arantes e Garrincha de Manuel Francisco. O momento era favorável, mas no fim das contas falhou. Havia uma falha fundamental. Os apelidos podem ser pueris porém muitas vezes soam bem menos bobos do que os nomes verdadeiros.
Luiz Gustavo Vieira de Castro dirige o departamento de registro e transferência na Confederação Brasileira de Futebol. Quando encontro com ele há uma pilha de papéis amontoada em cima de sua mesa. Pega um deles ao acaso e lê em voz alta.
“Belziran José de Souza.
“Bel. Zi. Ran”, repete, demorando em cada sílaba.
“Elerubes Dias da Silva.”
“Ele. Rubes”, suspira.
“Olha – só um de cada sete nomes é normal.”
“Belziran?”, exclama, como se fosse uma espécie particularmente rara de besouro amazônico. “Elerubes?”, Luiz Gustavo torce a boca e balança a cabeça.
“O que aconteceu com José?”, implora. “Este sim é um bom nome.”
Luiz Gustavo diz que os nomes brasileiros estão ficando cada dia mais excêntricos. Isso o entristece. Considera um sintoma de educação deficiente. Nomes inventados causam embaraço – não apenas para as pobres almas envolvidas mas para o país também. Ele mostra uma lista de cerca de 200 jogadores profissionais que comprovam seu ponto de vista. A chamada vai de Aderoilton e Amisterdan até Wandermilson e Wellijohn.
Seja ou não fruto da ignorância, a cultura dos nomes no Brasil com certeza é uma extensão da criatividade aplicada a outros campos. Se o Brasil mudou o futebol foi por romper conservadorismos e reescrever as regras com uma exuberância lúdica, elástica. O mesmo processo produziu Tospericagerja.
Em 1970 nasceu o bebê mencionado acima. Ele incorpora a primeira sílaba de mais da metade do time tricampeão do mundo: Tostão, Pelé, Rivelino, Carlos Alberto, Gérson e Jairzinho. Outra criança nascida em 1970 foi Jules Rimet de Souza Cruz Soares, que ganhou o nome em homenagem ao troféu da Copa do Mundo. Jules Rimet fez jus ao tributo – tornou-se jogador profissional de futebol, em Roraima.
Copas do Mundo deixaram um rastro de devastação onomástica. Em comemoração à vitória de 1962, uma criança foi batizada de Gol Santana Silva. Talvez Goooool Santana Silva fosse mais exato. Sempre que sua mãe o chamava, os passantes deviam pensar: “Gol de quem?” Durante a decisão de pênaltis na semifinal da Copa de 1998 contra a Holanda, nascia um Taffarel a cada defesa. Independente do sexo do neném. Primeiro, nasceu Bruna Taffarel de Carvalho em Brasília. Poucos minutos depois, quando uma defesa do goleiro decidiu a partida, nascia em Belo Horizonte Igor Taffarel Marques.
Zicomengo e Flamozer soam como dois policiais de enlatados americanos. Eles são, não menos glamourosamente, dois irmãos que incorporaram o nome “Flamengo” ao de duas de suas estrelas dos anos 1980, Zico e Mozer. A ideia foi de Francisco Nêgo dos Santos, um vigia noturno que mora a mais de 1.500 quilômetros do Rio. Nem sua filha, Flamena, escapou à paixão paterna. Quando Francisco levou os filhos para conhecerem Zico, ficou profundamente desiludido. Disse amargamente mais tarde: “Zico me tratou como se eu fosse um débil mental.”
Um modo convencional de dar nome a uma criança no Brasil é criando uma palavra híbrida com os nomes do pai e da mãe – como se o nome fosse uma metáfora da união física. Gilmar, por exemplo, é a junção de Gilberto e Maria. Gilmar dos Santos Neves nasceu em 1930. Cresceu para se tornar o goleiro mais bem-sucedido do Brasil, vencendo as copas de 1958 e 1962.
Gilmar Luiz Rinaldi, nascido em 1959, foi um dos vários bebês batizados em sua homenagem. Como era de se esperar, o jovem Gilmar ficou refém do xará. “Sempre que jogava futebol me colocavam no gol”, diz. “Ninguém me deixava jogar em outra posição.” Mas Gilmar descobriu que tinha talento. Chegou a se tornar profissional e foi convocado para a Seleção. Em 1994 foi reserva de Taffarel e ganhou a medalha de campeão do mundo. O nome tinha determinado o caráter. Gilmar havia se tornado seu homônimo.
Os nomes de batismo são especialmente relevantes no futebol brasileiro já que, junto com os apelidos, é deste modo que os jogadores costumam ser conhecidos. Brasil e Portugal, seu colonizador, são os únicos países em que isso ocorre – e em Portugal bem menos, pois trata-se de uma sociedade mais tradicional e cerimoniosa. Futebolistas com primeiro nome são um reflexo da informalidade da vida brasileira. “A contribuição brasileira à civilização será de cordialidade – daremos ao mundo o homem cordial”, escreveu o historiador Sérgio Buarque de Holanda. Você pode chamar alguém pelo primeiro nome ou pelo apelido mesmo nas situações mais oficiais. Políticos, médicos, advogados e professores são chamados da mesma maneira pela qual você chama um amigo próximo. Numa loja de discos brasileira, George Benson, George Michael e George Harrison estão listados juntos, sob a letra g. (Brasileiros também não se cansam de utilizar os sufixos “inho” e “ão”, o que aumenta a impressão de que o país é ao mesmo tempo excessivamente íntimo e exagerado. Nos anos 1990 muitos Ronaldos jogaram pela seleção. Os três primeiros eram fáceis de nomear: Ronaldão, Ronaldinho e Ronaldo. Fácil. Mas em 1999 surgiu outro Ronaldinho. Seria apelidado de Ronaldinhozinho? Não. Primeiro foi chamado de Ronaldinho Gaúcho. Depois, como já não era tão pequeno, o Ronaldinho original evoluiu para Ronaldo – o primeiro Ronaldo já não estava no escrete – e então Ronaldinho Gaúcho virou Ronaldinho.)
Usar os nomes de batismo foi um dos primeiros modos pelos quais os brasileiros, no início do século passado, mudaram as convenções futebolísticas. No princípio eles imitavam as súmulas inglesas, cujos times eram listados por sobrenome. Mas não pegou. Como distinguir entre dois irmãos? A confusão foi resolvida à brasileira. Quando as equipes eram misturas de europeus e brasileiros, o estilo do nome determinava a nacionalidade. Sidney Pullen era conhecido como Sidney porque era brasileiro, embora descendente de ingleses. Seu companheiro Harry Welfare, nascido em Liverpool, era sempre Welfare.
O futebol brasileiro é um símbolo internacional da cordialidade da vida brasileira em função dos nomes de seus jogadores. Chamar alguém pelo primeiro nome é uma demonstração de intimidade – chamar pelo apelido mais ainda. O Brasil parece um time de amigos; companheiros de peladas na praça. Isso estimula uma afeição como não há em nenhum outro selecionado nacional. O torcedor personaliza sua relação com Ronaldo pelo gesto de usar seu primeiro nome, o que não acontece quando você chama alguém de Beckenbauer, Cruyff ou Keegan.
Pelo fato de os futebolistas serem conhecidos pelo primeiro nome e pelo fato de os brasileiros serem criativos para inventar nomes, os jogadores são uma grande vitrine dos interesses nacionais. Um dos nomes mais comuns entre jogadores é Donizete. Em 2000 havia três Donizetes na primeira divisão do campeonato brasileiro. Não é um nome tradicional. Há cinquenta anos não havia nenhum Donizete. Há dois séculos, porém, existia um compositor de ópera italiano chamado Donizetti. Um brasileiro amante da música batizou seus filhos de Chopin, Mozart, Bellini, Verdi e Donizetti. Este último tornou-se um padre que durante os anos 1950, em São Paulo, virou um famoso milagreiro. Gerou uma onda de Donizetes. Estima-se que já sejam mais de um milhão de pessoas.
A cultura americana é uma fonte de inspiração poderosa para os nomes dos bebês, especialmente Hollywood. Não apenas as estrelas dos filmes, mas o próprio lugar. Oleúde foi bom jogador de clube nos anos 1990. A tendência, porém, era que fosse chamado pelo apelido, Capitão. Como costumava ser o capitão do time, isso era muito conveniente. Quando será que o futebol brasileiro vai acabar de vez com os nomes próprios?
Alain Delon, o ator francês, declarou um dia: “É muito mais emocionante ser jogador de futebol do que um astro do cinema. Para ser honesto, na verdade era isso o que eu queria fazer.” Ele deve ter vibrado com o sucesso, senão com a ortografia, de seu xará sul-americano. Allann Delon chegou a liderar a tabela de artilharia no campeonato brasileiro de 2001. “Posso não ter os mesmos olhos do ator, mas tenho carisma e faço sucesso com as mulheres”, brinca o atacante de 21 anos, um mulato atarracado de sobrancelhas grossas e cabelo pixaim preto. Por muito pouco ele não foi batizado Christopher Reeves, mas sua mãe mudou de ideia – trocando um ídolo do cinema mal soletrado por outro. “Você pode imaginar como soaria esquisito ‘Christopher Reeves toca para o fundo da rede’”, diz ele. “Allann Delon é bem melhor.”
O elenco de Futebol brasileiro: o filme também inclui Maicon, que jogou pela seleção de juniores do Brasil. Seu pai homenageou Kirk Douglas dando ao filho o nome de Michael, filho de Kirk. O funcionário do cartório escreveu errado.
Outras celebridades de chuteiras incluem Roberto Carlos, o veterano lateral esquerdo, chamado assim porque sua mãe adorava o verdadeiro Roberto Carlos. O tributo acabou sendo especialmente pungente, já que o cantor foi atropelado por um trem na infância. Em outras palavras: o futebolista com um dos chutes mais invejados do esporte foi batizado em homenagem a um homem com uma perna deficiente.
A música de Roberto Carlos está sutilmente contida em outro jogador de futebol: Odvan, que jogou na seleção em 1998. Sua mãe ficou tão emocionada com a canção O Divã que resolveu imortalizá-la em sua certidão de nascimento.
Erros de grafia devido a transliterações são muitas vezes produto da ignorância, mas nem sempre. Os brasileiros têm uma atitude relaxada ao soletrar. Isso é muito usado como artifício para padronizar os nomes, mais do que como uma convenção a ser obedecida. Pais menos escolarizados tendem a preferir a estética das letras “w”, “k”e “y”, que não fazem parte do alfabeto português, e também amorosamente repetir duas consoantes juntas. O pai de Allann Delon não conseguia lembrar como o francês escrevia seu nome, então acrescentou um “l”e um “n” por via das dúvidas. Os cartórios têm a obrigação de anotar o nome conforme os pais ditam. Em 2000, uma revista noticiou que “Stephanie” era um nome tão popular que um cartório de São Paulo tinha listado dezessete modos diferentes de escrevê-lo (de Stefani a Sthephanny) e pediam aos pais que escolhessem pelo número.
Grafia incorreta não era um dos focos principais das investigações do Congresso sobre o futebol. Poderia ter sido. E por um momento pareceu que era. No início do depoimento do ex-treinador da seleção Wanderley Luxemburgo, o senador Geraldo Althoff perguntou: “Como você assinaria seu nome?”
O senador parecia um professor exasperado repreendendo um aluno desobediente. Insistiu: “Você usaria um w e um y ou um v e um i?”
Era uma pergunta simples, apesar do tom acusatório e das circunstâncias humilhantes do interrogatório, mas Luxemburgo não conseguiu dar uma resposta direta.
Disse que assinaria Wanderley e que em seus documentos estava escrito Vanderlei. Althoff tinha a expressão irritada de um homem no limite das forças. Como poderia acreditar em alguém que tinha dúvidas sobre a própria identidade?
Grafia questionável, ao que parece, faz parte do emprego de treinador da seleção. O antecessor de Luxemburgo, Mário Zagallo, teve o nome soletrado de maneira errada por quase cinquenta anos.
Zagallo nasceu Zagallo em 9 de agosto de 1931. Tornou-se o futebolista Zagalo durante os anos 1940. Zagalo jogou no Flamengo, no Botafogo e na seleção. Venceu quatro copas do mundo. Sempre Zagalo. Nunca Zagallo.
Então um dia, em 1995, o veterano treinador estava sendo entrevistado por um jornal paulista. Um repórter indagou a respeito de seu sobrenome. Ele respondeu que na sua certidão de nascimento tinha dois “l”. No dia seguinte os jornais publicaram Zagallo.
Aos poucos outros jornais e redes de TV fizeram o mesmo. Livros reescreveram suas conquistas com o nome “correto”. O desejo do rigor ao soletrar virou uma bagunça autocontraditória. Por algum tempo Zagallo continuou assinando uma coluna de jornal como Zagalo, ainda que o mesmo jornal escrevesse de modo diferente nas outras matérias. Zagalo pode ter sido o nome errado, no entanto representava sua identidade futebolística. Foi condenado a ser apagado da história.
O episódio significa menos uma vitória da correção sobre a imperfeição – ou da meticulosidade sobre o senso comum – do que uma demonstração de que o Brasil tem uma poderosa cultura oral. O que importa para o Luxemburgo se ele é Wanderley ou Vanderlei, ou para Zagallo se ele tem um “l” ou dois? Ambos soam da mesma maneira.
O nome de Zagallo sobressai por outro caminho. Ele é o único atacante brasileiro a ter vencido uma final de copa que ficou conhecido pelo sobrenome. E daí? Isso explica muita coisa. O maior barato do padrão brasileiro de nomeação é que você pode muitas vezes identificar a posição de um jogador dependendo de como ele é chamado. Goleiros costumam ser conhecidos pelos nomes e sobrenomes; atacantes pelos apelidos. Zagallo é a exceção que comprova a regra.
Fiz uma rápida listagem dos maiores artilheiros do Brasil em todos os tempos. Sete dos dez primeiros têm apelidos. Na verdade, o único sobrenome entre os primeiros vinte e cinco é Rivelino – mas este nem deveria contar. Em primeiro lugar, soa como um apelido. Depois, Rivelino é na verdade um apelido – seu nome verdadeiro é Rivellino. Parte da estratégia de um artilheiro brasileiro é driblar o próprio nome.
Zagallo não era um ponta-esquerda brilhante. Ele não merecia um apelido. Fazia o que se esperava, nada além disso.
Do mesmo modo, os goleiros do Brasil raramente têm apelidos. Dos nove goleiros que tiveram mais de vinte convocações, quatro são conhecidos pelo sobrenome e quatro pelo primeiro nome. Apenas um é famoso pelo apelido – Dida – e isso demorou oitenta anos para acontecer. Ele foi convocado pela primeira vez em 1995.
Zagueiros também não costumam ter apelidos, embora o fenômeno seja menos radical do que entre os goleiros. “Fica sempre a impressão de que o zagueiro com alcunha não assume seus atos. Quem pode confiar numa defesa com pseudônimo?”, pergunta Luís Fernando Veríssimo. “Na escalação da defesa ideal deveria constar o nome dos zagueiros pelo meio, o sobrenome, a filiação, CIC e um telefone para reclamações.”
Se chamar alguém pelo sobrenome mostra intimidade e afeição, então os brasileiros gostam mais de seus atacantes do que de seus zagueiros. Isto nós já sabíamos. E os goleiros? Seus sobrenomes reforçam o fato de que são menos queridos. Nenhuma surpresa que sejam almas atormentadas. Segundo um ditado popular: “O goleiro é tão infeliz que onde ele pisa não nasce grama.”
A lista de infelizes donos da camisa 1 é anterior a Barbosa, que sofreu por cinquenta anos por ter tomado um gol. Jaguaré era o melhor goleiro do Brasil nos anos 1920 e 1930. Pegava a bola com uma só mão e a rodava sobre o indicador. Driblava os adversários ou quicava a bola nas suas cabeças quando estavam de costas. Jaguaré foi jogar na Europa, pelo Barcelona e pelo Olympique de Marselha. Mas torrou todo o dinheiro que recebeu. Um ano depois de voltar ao Brasil, foi encontrado morto na sarjeta. Castilho, que jogou no Fluminense entre 1947 e 1964, suicidou-se. Pompéia e Veludo – dois outros espetaculares goleiros cariocas dos anos 1950 – acabaram alcoólatras.
Os goleiros brasileiros têm que encontrar amor em outra parte. Pompéia disse: “O goleiro é quem mais gosta da bola. Todo mundo chuta ela. Só o goleiro a abraça.” Esta afeição se tornou recíproca num delicioso livro infantil de Jorge Amado, o mais famoso romancista brasileiro. Conta a história de uma bola que se apaixona por um goleiro sem talento. O goleiro torna-se imbatível, pois a bola sempre se dirige para os seus braços, onde é beijada e abraçada calorosamente contra o peito. Um dia, o goleiro se prepara para a cobrança de um pênalti que não quer defender. Então ele foge, deixando o gol aberto. Mas a bola resolve segui-lo. Eles casam e vivem felizes para sempre.
Não é só na literatura brasileira que a bola é considerada um ser de carne e osso. Jogadores de uma certa geração – quando o futebol era menos uma questão de força do que de jeito – descrevem a bola como uma dama a ser cortejada. “A bola nunca bateu na minha canela, nunca me traiu”, diz Nilton Santos, que jogou pela seleção entre 1949 e 1962. “Se ela foi minha amante, foi a amante que mais gostei.” Didi, companheiro de Nilton Santos nas copas de 1958 e 1962, opinava: “Sempre tratei-a com carinho. Porque se não, ela não te obedece. Eu ia dominá-la e ela me obedecia. Às vezes ela vinha e eu falava: ‘Ei! Minha menininha’, … tratava ela com o mesmo carinho com que tratava minha mulher. Tinha uma afeição tremenda por ela. Porque ela é difícil. Se você trata ela mal, ela te quebra a perna!”
Um dos motivos pelo qual os brasileiros veem a bola como uma mulher é semântico. Em português, “bola” é um substantivo feminino. (Ao contrário de “el balón” na Espanha ou “le ballon” na França, que são masculinos.) Então na língua portuguesa a bola é sempre “ela”. Numa cultura verbal em que há uma tendência de dar apelidos a tudo, foi apenas um pequeno passo até que a bola desenvolvesse características humanas.
Se um jogador está com medo de tocar na bola, os comentaristas dizem que ele está “chamando a bola de ‘Vossa Excelência’”. Se demonstra intimidade com a bola, está “chamando a bola de ‘querida’”. É difícil imaginar que os esquimós tenham tantas palavras para “neve” quanto os brasileiros têm para “bola”. Haroldo Maranhão, em seu Dicionário de futebol, lista trinta e sete sinônimos:
Balão de couro, criança, menina, boneca, gorduchinha, maricota, leonor, pelota, maria, redonda, nega, esfera, caroço, balão, ela, infiel, ameixa, couro, redondinha, neném, a perseguida, verruga, esférico, castanha, esfera de couro, moça, guiomar, margarida, mortadela, bichinha, caprichosa, enganosa, demônia, pneu, bexiga, número cinco, bola de couro.
“No Brasil você pode chamar a bola de qualquer coisa”, brinca o radialista Washington Rodrigues. “Menos de ‘bola’.”
Certa vez, antes de um jogo entre dois times pequenos cariocas, Washington levou a personificação a outro extremo. Recusou-se a entrevistar os jogadores. Ao invés disso, entrevistou a Margarida. Como ela se sentia ao jogar com dois timinhos depois de já ter jogado com Pelé? Não tinha vontade de desistir, jogar a toalha? A entrevista durou dez minutos e terminou com a bola em lágrimas.
O rádio carrega grande parte da responsabilidade pela riqueza dos termos futebolísticos no Brasil, tendo influenciado o futebol mais do que qualquer outro meio de comunicação. Foi o veículo que transformou o futebol num esporte de massa ao permitir que todos os rincões do país acompanhassem os jogos. O rádio se adaptava melhor ao Brasil do que os jornais, já que o país é enorme e uma grande parcela da população era analfabeta. O rádio cresceu paralelamente ao futebol – os anos 1950 e 1960 foram ao mesmo tempo a era de ouro do futebol brasileiro e o auge da popularidade das transmissões.
O rádio deu ao futebol uma linguagem própria. Desde as primeiras transmissões esportivas a meta era criar a maior agitação possível, mais do que descrever clinicamente o que estava acontecendo. Em 1942 Rebelo Júnior, um locutor que tinha iniciado a carreira narrando corridas de cavalos, inventou a vogal prolongada mais famosa do esporte. A bola entrou e ele gritou: “gooooooooooooooooool”.
Rebelo Júnior foi apelidado de o Homem do Gol Inconfundível. Seu “goooool” inconfundível ecoou através da história e hoje é uma marca de todas as coberturas futebolísticas do rádio e da televisão no Brasil – e na América Latina. Seus colegas descobriram que isso tinha suas vantagens. Raul Longas, conhecido como o Homem do Gol Eletrizante, berrava como uma sirene por mais tempo que seus pares. Havia um bom motivo: ele enxergava mal e não conseguia distinguir quem havia marcado. Os segundos extras permitiam que um auxiliar escrevesse o nome do jogador num pedaço de papel.
O locutor de futebol mais ouvido durante as décadas de 1940 e 1950 foi também o mais idiossincrático e pitoresco, sendo até hoje um dos brasileiros mais ouvidos no mundo. Compôs o samba “Aquarela do Brasil”, uma das músicas mais executadas de todos os tempos. Foi gravada por artistas tão variados como Frank Sinatra, Wire e Kate Bush.
Ary Barroso foi um homem renascentista. Além de compositor, era locutor de futebol, pianista, escritor, vereador e, mais tarde, apresentador de televisão. Era também um flamenguista fanático. Não seria demais dizer que era torcedor do Flamengo acima de todos os seus outros papéis. No início dos anos 1940 suas canções tornaram-no mundialmente famoso. Viajou para Hollywood e foi convidado para ser diretor musical da Disney. Para um compositor, não devia haver melhor posição no show business. Ele recusou.
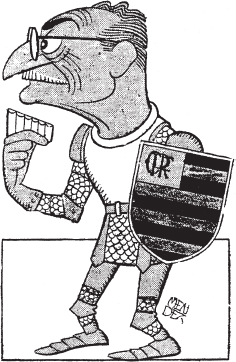
Ary Barroso
“Because don’t have Flamengo here”, explicou, arranhando o inglês.
A paixão de Ary pelo Flamengo amenizava qualquer imparcialidade que ele pudesse ter como locutor. Ao invés de gritar “goooool” Ary soprava uma gaitinha de brinquedo. Se fosse do Flamengo a gaita soaria repetidamente de alegria, com Ary soprando extensos floreios como uma criança excitada. Se fosse contra o Flamengo, a gaitinha emitia um “frrp” curto e sem graça.
Ary era divertido porque era passional, imprevisível e irresponsável. Uma vez disse ao microfone quando um adversário se aproximava da área do Flamengo: “Não vou nem olhar.” Em outra ocasião, o rádio ficou em silêncio enquanto ele corria até a beira do campo para comemorar um gol com o time. Mesmo assim, sua audiência não era apenas de torcedores rubro-negros. Ele era uma paródia da crença geral entre os brasileiros de que tudo é movido por interesse pessoal. Nos minutos finais de uma partida que o Flamengo perdia por 6x0, um homem chegou no estádio aceitando pagar qualquer preço para conseguir entrar. “Não quero ver o jogo”, explicou ao confuso porteiro. “Só quero ver a cara do Ary Barroso.”
No Brasil os jornalistas podem ficar na beira do campo durante o jogo, entrevistando jogadores e o árbitro quando entram e saem. Esta prática teve início com Ary Barroso, que foi o primeiro locutor a colocar um repórter em campo – para obter ângulos diferentes do jogo. Isto gerou situações que chocaram os ingleses quando o Southampton viajou ao Brasil em 1948. “Os radialistas e fotógrafos habituais se recusavam a sair de campo para que o jogo pudesse começar. O rádio e a imprensa parecem ser fatores decisivos nesse país sobre a hora de iniciar uma partida!”, zombou o árbitro George Reader no Southern Daily Echo.
A importância do rádio dentro do futebol levou a outro fenômeno tipicamente brasileiro – o radialista. O radialista aparentemente é um locutor de rádio, porém como a ideia é se mostrar o máximo possível eles se tornam celebridades por si mesmos. Muitos radialistas se aproveitam da proeminência do futebol para se lançar em outras esferas. A transmissão das partidas desenvolve o talento de falar em público, pensar rápido e inflamar uma multidão. A lista de políticos, empresários e advogados que começaram a carreira na transmissão de partidas regionais é extensa. O governador do Rio Anthony Garotinho tem como meta se tornar o primeiro ex-radialista a chegar à presidência da República.
Radialistas podem ser o que quiserem. Washington Rodrigues, o entrevistador que levou uma bola às lágrimas, passou para o outro lado e tornou-se técnico do clube de maior torcida do Brasil.
Washington não tem pinta de esportista. Quando encontro com ele no estúdio de sua emissora seu físico amplo está confortavelmente instalado numa cadeira. É simpático e afável. O estilo de Washington nas transmissões não é pirotécnico; ele é o mais criativo verbalmente entre seus pares. Cunhou mais de oitenta frases, muitas das quais passaram para a linguagem comum. Seu estilo é espirituoso e íntimo, por exemplo chamando os torcedores da geral de geraldinos e os da arquibancada de arquibaldos.
Washington – como Ary Barroso – é flamenguista roxo. Jamais escondeu isso. É uma marca registrada. Quando o Flamengo enfrentava dificuldades em 1995, o presidente Kleber Leite – ele próprio um ex-radialista – tentou tirar da cartola alguém que pudesse salvá-los da crise. Convidou Washington, ainda que este nunca tivesse sido técnico, jogador ou mesmo bandeirinha.
“O que o Flamengo estava procurando?”, pergunta Washington. “O clube queria paz interna. Queriam alguém que se identificasse com a torcida. Não sou um treinador, nem tenho a pretensão de me tornar um. Mas todo mundo sabe o que é o futebol. Todos nós somos técnicos de futebol na verdade.”
O radialista foi contratado como treinador por quatro meses. “O que foi que fiz?”, indaga. “Táticas são como um bufê. Se tem quarenta pratos você come quatro ou cinco. Você não come os quarenta. Pedi a todos os jogadores que colocassem na mesa suas ideias sobre a melhor maneira de jogar. Então coloquei as minhas e escolhemos a melhor.”
Washington introduziu outros métodos pouco ortodoxos. Era incapaz de acompanhar os jogos da beira do campo, pois sempre assistira às partidas das cabines de rádio. Então perguntou à CBF se poderia instalar uma televisão no banco de reservas. Não tinham certeza e foram consultar a fifa. Que também não estava bem certa, já que isso nunca acontecera. Finalmente, deram sinal verde. Washington sentava no banco assistindo TV em vez de assistir aos jogadores.
Cumpriu seus quatro meses de contrato. Não foi campeão com o Flamengo, mas foi razoavelmente bem-sucedido. O clube deve ter ficado satisfeito porque três anos depois, quando estava novamente em dificuldades, contratou-o por outros quatro meses. Nesta segunda passagem, ajudou o clube a escapar do rebaixamento da primeira divisão.
Ele acrescenta: “Foi uma experiência enriquecedora. Em quarenta anos não aprendi tanto como nesses oito meses. Comecei a enxergar os jogadores por um ângulo diferente, como são durante a semana, como se comportam na vida pessoal. Isso fez com que me arrependesse de muitas coisas que tinha dito ou escrito antes. Agora tomo mais cuidado ao criticar um treinador.”
O jornalismo esportivo tem sido o primeiro passo de muitas carreiras eminentes no Brasil. No dia 5 de março de 1961, Joelmir Betting estava no Maracanã cobrindo um jogo entre Santos e Fluminense. Viu Pelé pegar a bola próximo à linha central e driblar um, dois, três, quatro, cinco… seis jogadores antes de vencer o goleiro. Foi uma obra de arte. Quem estava presente disse que foi o gol mais sensacional que ele marcou. Porém foi antes da época das transmissões pela tv. A jogada jamais seria vista de novo.
Joelmir achou que uma maneira de tornar aquele gol eterno seria gravá-lo em bronze. Providenciou uma placa, inaugurada no estádio na semana seguinte, dedicada ao “gol mais bonito da história do Maracanã”. A expressão “gol de placa” virou lugar-comum, e até hoje é o maior elogio no futebol brasileiro.
Joelmir agora emplaca outros assuntos, atuando como um famoso comentarista econômico.
O futebol também foi um trampolim para os comediantes do grupo Casseta &Planeta. Os humoristas começaram com uma revista satírica na década de 1970, e anos mais tarde tinham seu próprio programa na Rede Globo. Em 1994, a Globo pediu que fizessem esquetes diários durante a Copa. Passaram o torneio transmitindo clipes diários para os telejornais da emissora. “Nenhum jornalista estrangeiro entendia o que se passava”, diz Bussunda, um dos comediantes da turma. “Ali estava um bando de brasileiros vestindo roupas ridículas e fazendo papel de palhaços onde quer que a seleção fosse.”
Quando o Brasil venceu a final – no estádio Rose Bowl, em Los Angeles – eles filmaram uma cena vestidos como hippies da Califórnia e cantando “Romarius” sobre a melodia do famoso hino dos anos 60, “Aquarius”. Foi uma de suas piadas de maior sucesso. Quando terminou a Copa, os membros do Casseta &Planeta tinham virado celebridades quase tão famosas quanto os próprios jogadores.
“Na viagem de volta parecia que éramos campeões também”, diz Bussunda, no seu escritório em Ipanema.
O Casseta&Planeta tem hoje um programa semanal na Globo. Continuam contando piadas sobre futebol. “O futebol é um rico manancial. Se nós escrevêssemos apenas sobre o que acontece no campo, talvez não houvesse tanto material. Mas quando você fala de futebol está falando do Brasil”, diz.
Bussunda é um talento nato para a tv. É engraçado só de olhar. Tem uma expressão maravilhosamente melancólica e foi abençoado com uma avantajada barriga cômica. Sua obesidade compõe o personagem. O bordão de sua coluna esportiva semanal no jornal Lance! é: “o colunista que já é uma bola”.
Casseta&Planeta é meu programa favorito na TV brasileira. As piadas não poupam ninguém. Sacaneiam políticos, personalidades e até a própria Globo. Às vezes não acredito no que estou vendo.
Pergunto ao Bussunda se alguma de suas vítimas já reclamou. Ele me olha sério. “A única vez que a gente recebeu censura externa foi quando planejamos um esquete sobre o Fluminense.”
O incidente foi quando Romário jogava pelo arquirival Flamengo. Os cassetas convidaram o craque para aparecer vestindo uma camisa com os dizeres: “Não use drogas. Não torça para o Fluminense.”
O Flu entrou com uma ação na Justiça e obteve uma liminar proibindo a transmissão.
“Então o que a gente fez?”, pergunta Bussunda. “Botamos no ar a entrevista com o Romário até o instante em que ele ia mostrar a camisa. Depois cortamos para imagens de três gols que tinham sido marcados contra o Fluminense no domingo anterior.”
Bussunda não se deu conta da ofensa que isso causaria. Sua voz fica mais séria. “Recebi várias ameaças. Recebi e-mails dizendo que sabiam onde eu morava, sabiam onde minha filha estudava. Fiquei com o pé atrás. Tive até que trocar meus números de telefone”.
Acrescenta: “Na minha carreira esta é a única piada de que me arrependo. Depois me dei conta de que a piada atingiu o alvo errado. Queríamos fazer graça com os dirigentes do Fluminense, só que atingimos a torcida.”
Bussunda aprendeu que no Brasil só tem uma coisa com a qual não se brinca: a paixão de um torcedor por seu time.
Assim como Ary Barroso e Jorge Amado, o futebol tem feito parte da vida pública de várias figuras importantes da cultura. Pixinguinha, um dos grandes músicos brasileiros, compôs a primeira música importante dedicada ao esporte. “1x0” foi escrita em 1919 logo depois de o Brasil vencer o Campeonato Sul-Americano por este placar. A velocidade e destreza presentes na música retratam a habilidade do autor do gol, Friedenreich. Mais recentemente, Chico Buarque, provavelmente o compositor nacional mais respeitado atualmente, tem escrito canções e artigos sobre futebol. Chico também é dono de um campo e de um clube amador, onde joga três vezes por semana.
Em 1976 o artista plástico Nelson Leirner foi convidado a projetar um troféu para o Corinthians. Veterano dos “happenings” artísticos dos anos 1960, decidiu criar um troféu que fosse mais uma “performance” do que um objeto para ser guardado. Fez uma bandeira do Corinthians de quatro metros de largura e oito de comprimento e amarrou-a em balões de gás. O clube recebeu o troféu durante um jogo no Morumbi – foi solto no início da partida e saiu flutuando para fora do estádio.
O Corinthians perdeu o jogo e Leirner foi acusado de dar azar.
Uma semana depois, a bandeira aterrissou numa fazenda a 600 quilômetros dali, perto de Campos, no Rio de Janeiro e foi colocada num bar na cidade vizinha. A partir daí o time local começou a perder várias partidas seguidas. A torcida culpou a bandeira. O Corinthians tinha ficado vinte e dois anos sem ganhar um título. Teria a bandeira trazido mau-agouro? Começaram a fazer rituais para exorcizar os maus espíritos. Finalmente, uma rede de TV soube da história e levou a bandeira de volta a São Paulo.
Literatura e futebol estiveram ligados desde que o esporte surgiu. Em 1930, Preguinho marcou o primeiro gol do Brasil numa Copa do Mundo. Seu pai, Coelho Neto, era romancista e membro da Academia Brasileira de Letras, além de Fluminense doente. Ia aos jogos de terno branco, chapéu de palha e bengala. Seu traje elegante não era garantia de um decoro literário – em 1916, em protesto contra a marcação de um pênalti, Coelho Neto liderou uma das primeiras invasões de campo do Brasil.
Nelson Rodrigues no Maracanã
Apesar de sua paixão pelo futebol, Coelho Neto não o incluiu na sua obra. O futebol, embora apreciado por todas as camadas sociais, durante muitos anos não foi levado em consideração como uma coisa séria do ponto de vista artístico. Em 1953 acharam escandaloso quando apareceu numa peça. A falecida conta a história de Tuninho, um viúvo que gasta o dinheiro do enterro de sua mulher no futebol porque descobre que ela era infiel.
A falecida é de Nelson Rodrigues, o maior dramaturgo brasileiro. Nelson adorava provocar o público. Normalmente os tabus que quebrava eram mais subversivos do que menções ao esporte. Tinha obsessão por adultério e incesto. Entre 1951 e 1961 publicou contos diários num jornal do Rio, quase sempre tratando de infidelidade conjugal. Nelson tinha um dom especial para criar diálogos e um senso de humor perverso. Descreveu a hipocrisia da classe média carioca como ninguém.
Nelson era um irmão mais novo de Mário Filho, o pioneiro do jornalismo esportivo e o homem que concebeu o Maracanã. Dos dez irmãos que sobreviveram à infância, todos foram jornalistas. Quando dois deles fundaram uma revista esportiva em 1955, Nelson foi chamado para dar uma mãozinha.
As colunas de Nelson levaram os textos sobre futebol a uma nova dimensão. Para começar, ele inventava personagens e situações. Talvez sentisse liberdade para isso por não ser um jornalista esportivo – era um dramaturgo famoso. Outra razão possível era o fato de que tinha uma visão tão ruim que mal acompanhava os acontecimentos no campo. Por exemplo, para explicar eventos fortuitos, Nelson dizia que eram obra do Sobrenatural de Almeida, um homem da Idade Média vivendo num quartinho fétido na zona norte do Rio. O Sobrenatural é um conceito absurdo, mas seu público adorava porque ele tocava em suas próprias superstições. Tornou-se parte do vocabulário futebolístico. Muitas vezes escutei locutores dizendo, ao tentar explicar um lance de azar: “Olhe! É o Sobrenatural de Almeida!”
Nelson, sem querer, deu ao futebol brasileiro sua voz mais nítida. Trata-se de um acaso peculiar, porém explicável, que os dois mais importantes escritores de futebol do Brasil tenham sido irmãos – pois Nelson talvez nunca tivesse começado sem a influência de Mário Filho. Seus estilos eram diferentes. Os textos de Mário Filho eram obras sérias. Nelson, por outro lado, articulava a paixão hiperbólica de um torcedor. “Sou tricolor, sempre fui tricolor. Eu diria que já era Fluminense em vidas passadas, muito antes da presente encarnação.” Cunhou dezenas de frases que soam tão relevantes hoje como eram quando foram escritas quatro décadas atrás. Descreveu jogadores como Pelé e Garrincha como símbolos transcendentes – o que ninguém jamais havia feito. Nelson foi a primeira pessoa a descrever Pelé como realeza. “Racialmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos invisíveis”, disse quando o craque tinha apenas 17 anos. Pelé, claro, depois se tornaria conhecido como “Rei”.
Quando os jogos começaram a ser transmitidos pela TV, Nelson não ficou impressionado. “Se o videoteipe mostra que foi pênalti, pior para o videoteipe. O videoteipe é burro”, disse numa de suas frases mais famosas. Os comentários rebeldes de Nelson são muito citados até hoje. Em parte por recordarem os anos dourados. Mas também porque Nelson tinha razão. Os brasileiros não gostam de ser objetivos com seu futebol. Gostam de ficar a meio caminho entre o fato e a ficção. Gostam que seja o mais informal possível; cheio de histórias, mitos e uma paixão inexplicável. O futebol trata de Ronaldo e Rivaldo, mas também de Maricota, Mortadela, Tospericagerja e Mauro Shampoo.