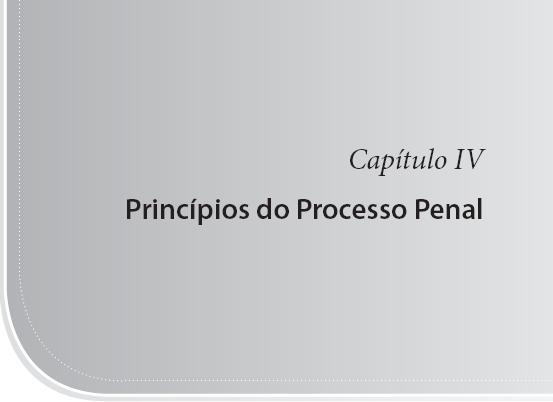
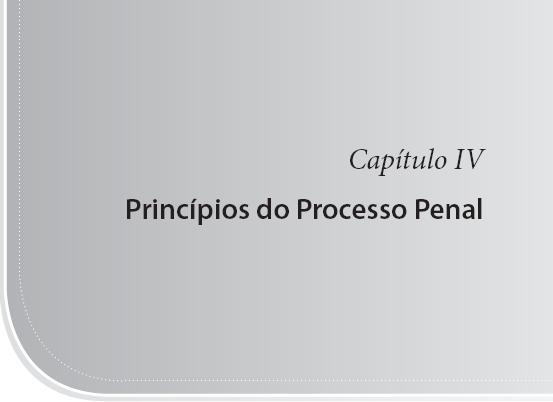
O conceito e a importância dos princípios já foram analisados nos capítulos antecedentes. relembrando, em Direito, princípio jurídico quer dizer um postulado que se irradia por todo o sistema de normas, fornecendo um padrão de interpretação, integração, conhecimento e aplicação do direito positivo, estabelecendo uma meta maior a seguir. Cada ramo do Direito possui princípios próprios, que informam todo o sistema, podendo estar expressamente previstos no ordenamento jurídico ou ser implícitos, isto é, resultar da conjugação de vários dispositivos legais, de acordo com a cultura jurídica formada com o passar dos anos de estudo de determinada matéria. O processo penal não foge à regra, erguendo-se em torno de princípios, que, por vezes, suplantam a própria literalidade da lei. Na Constituição Federal, encontramos a maioria dos princípios que governam o processo penal brasileiro, alguns explícitos, outros implícitos.
Ressaltemos que há princípios que dão origem a outros, bem como alguns que constituem autênticas garantias humanas fundamentais. E já tivemos oportunidade de expor que várias garantias constituem igualmente alicerces de outras; da mesma forma, muitos direitos humanos fundamentais confundem-se com garantias. Em suma, o que se quer demonstrar é a profunda ligação e interdependência que os princípios garantistas do processo penal possuem com os direitos e garantias humanas fundamentais. Exemplificando: sabemos que todo acusado tem direito à ampla defesa, embora seja esta uma garantia do devido processo legal; por sua vez, para que a defesa seja realmente efetiva, precisa da garantia do contraditório, que não deixa de ser um direito da parte na relação processual. Falamos, pois, em princípio da ampla defesa, sem esquecer que se trata de um direito e, simultaneamente, de uma garantia.
Por outro lado, quando cuidamos do princípio da presunção de inocência, não podemos olvidar o princípio da prevalência do interesse do réu, que com o primeiro se interliga, afinal, justamente porque o estado natural do indivíduo é de inocência que seu interesse está acima da dúvida; logo, in dubio pro reo, ou seja, na dúvida, é melhor decidir em favor do acusado.
Ao mencionarmos o princípio da obrigatoriedade da ação penal, emerge como subprincípio, conexo ao primeiro, o princípio da indeclinabilidade da ação penal, vale dizer, tendo em vista que a ação penal pública é regida pela obrigatoriedade, uma vez proposta, dela não pode declinar o Ministério Público. Ambos, por seu turno, estão conectados ao princípio da legalidade, pois são imposições normativas expressas.
Se nos acostumarmos a estudar os princípios com os vários matizes que apresentam, perceberemos um sistema lógico e harmônico, favorecendo a interpretação e a integração das normas processuais penais.
Há princípios explicitamente inseridos na Constituição e outros, implícitos. Muitos são vinculados, na essência, à pessoa humana; outros, embora a esta beneficiem em última análise, são mais próximos da relação processual, tanto assim que, por vezes, não servem exclusivamente ao réu, mas também ao órgão acusatório. Há, ainda, os princípios orientadores da atuação do Estado, logicamente para servir de proteção, em última análise, à pessoa humana. Buscamos dividi-los didaticamente, favorecendo o seu estudo.
Por derradeiro, não se pode olvidar, na interligação global dos princípios constitucionais penais e processuais penais, a existência de dois princípios regentes, essenciais para a compreensão sistêmica de todos os comandos garantistas das ciências criminais. Serão os primeiros a serem estudados, no tópico a seguir.
O conjunto dos princípios constitucionais forma um sistema próprio, com lógica e autorregulação. Por isso, torna-se imperioso destacar dois aspectos: a) há integração entre os princípios constitucionais penais e os processuais penais; b) coordenam o sistema de princípios os mais relevantes para a garantia dos direitos humanos fundamentais: dignidade da pessoa humana e devido processo legal.
Estabelece o art. 1.°, III, da Constituição Federal: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III – a dignidade da pessoa humana”. No art. 5.°, LIV, da Constituição Federal, encontra-se: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
Nada se pode tecer de justo e realisticamente isonômico que passe ao largo da dignidade humana, base sobre a qual todos os direitos e garantias individuais são erguidos e sustentados. Ademais, inexistiria razão de ser a tantos preceitos fundamentais não fosse o nítido suporte prestado à dignidade humana.
Há dois prismas para o princípio constitucional regente da dignidade da pessoa humana: objetivo e subjetivo. Sob o aspecto objetivo, significa a garantia de um mínimo existencial ao ser humano, atendendo as suas necessidades básicas, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, nos moldes fixados pelo art. 7.°, IV, da CF. Sob o aspecto subjetivo, trata-se do sentimento de respeitabilidade e autoestima, inerentes ao ser humano, desde o nascimento, em relação aos quais não cabe qualquer espécie de renúncia ou desistência.
O Processo Penal constitui o amálgama do Direito Penal, pois permite a aplicação justa das normas sancionadoras. A regulação dos conflitos sociais, por mais graves e incômodos, depende do respeito aos vários direitos e garantias essenciais à formação do cenário ideal para a punição equilibrada e consentânea com os pressupostos do Estado Democrático de Direito, valorizando-se, acima de tudo, a dignidade humana.
O devido processo legal guarda suas raízes no princípio da legalidade, garantindo ao indivíduo que somente seja processado e punido se houver lei penal anterior definindo determinada conduta como crime, cominando-lhe pena. Além disso, modernamente, representa a união de todos os princípios penais e processuais penais, indicativo da regularidade ímpar do processo criminal.
Associados, os princípios constitucionais da dignidade humana e do devido processo legal entabulam a regência dos demais, conferindo-lhes unidade e coerência. Consultar o nosso Princípios constitucionais penais e processuais penais para maiores esclarecimentos.
Conhecido, igualmente, como princípio do estado de inocência (ou da não culpabilidade), significa que todo acusado é presumido inocente, até que seja declarado culpado por sentença condenatória, com trânsito em julgado. Encontra-se previsto no art. 5.°, LVII, da Constituição.
Tem por objetivo garantir, primordialmente, que o ônus da prova cabe à acusação e não à defesa. As pessoas nascem inocentes, sendo esse o seu estado natural, razão pela qual, para quebrar tal regra, torna-se indispensável que o Estado-acusação evidencie, com provas suficientes, ao Estado-juiz, a culpa do réu.
Por outro lado, confirma a excepcionalidade e a necessariedade das medidas cautelares de prisão, já que indivíduos inocentes somente podem ser levados ao cárcere quando realmente for útil à instrução e à ordem pública. No mesmo prisma, evidencia que outras medidas constritivas aos direitos individuais devem ser excepcionais e indispensáveis, como ocorre com a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico (direito constitucional de proteção à intimidade), bem como com a violação de domicílio em virtude de mandado de busca (direito constitucional à inviolabilidade de domicílio).
Integra-se ao princípio da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo), garantindo que, em caso de dúvida, deve sempre prevalecer o estado de inocência, absolvendo-se o acusado.
Reforça, ainda, o princípio penal da intervenção mínima do Estado na vida do cidadão, uma vez que a reprovação penal somente alcançará aquele que for efetivamente culpado. Finalmente, impede que as pessoas sejam obrigadas a se autoacusar, consagrando o direito ao silêncio.
O primeiro deles espelha que, na relação processual, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Exemplo disso está na previsão de absolvição quando não existir prova suficiente da imputação formulada (art. 386, VII, CPP).
Por outro lado, quando dispositivos processuais penais forem interpretados, apresentando dúvida razoável quanto ao seu real alcance e sentido, deve-se optar pela versão mais favorável ao acusado, que, como já se frisou, é presumido inocente até que se demonstre o contrário. Por isso, a sua posição, no contexto dos princípios, situa-se dentre aqueles vinculados ao indivíduo, sendo, ainda, considerado como constitucional implícito. Na realidade, ele se acha conectado ao princípio da presunção de inocência (art. 5.°, LVII, CF), constituindo autêntica consequência em relação ao fato de que todos os seres humanos nascem livres e em estado de inocência. Alterar esse estado dependerá de prova idônea, produzida pelo órgão estatal acusatório, por meio do devido processo legal.
A imunidade à autoacusação significa que ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere). Trata-se de decorrência natural da conjugação dos princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5.°, LVII) e da ampla defesa (art. 5.°, LV) com o direito humano fundamental que permite ao réu manter-se calado (art. 5.°, LXIII). Se o indivíduo é inocente, até que seja provada sua culpa, possuindo o direito de produzir amplamente prova em seu favor, bem como se pode permanecer em silêncio sem qualquer tipo de prejuízo à sua situação processual, é mais do que óbvio não estar obrigado, em hipótese alguma, a produzir prova contra si mesmo.
O Estado é a parte mais forte na persecução penal, possuindo agentes e instrumentos aptos a buscar e descobrir provas contra o autor da infração penal, prescindindo, pois, de sua colaboração. Seria a admissão de falência de seu aparato e fraqueza de suas autoridades se dependesse do suspeito para colher elementos suficientes a sustentar a ação penal.
Nas palavras de Maria Elizabeth Queijo, “o nemo tenetur se detegere foi acolhido, expressamente, no direito brasileiro, com a incorporação ao direito interno do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Por força de tal incorporação, em consonância com o disposto no art. 5.°, § 2.°, da Constituição Federal, como direito fundamental, o nemo tenetur se detegere possui hierarquia constitucional, portanto, não poderá ser suprimido nem mesmo por emenda constitucional. Tal entendimento não foi modificado pelo art. 5.°, § 3.°, do texto constitucional, incluído pela Emenda Constitucional n. 45/2004, mas por ele corroborado” (O direito de não produzir prova contra si mesmo, p. 480).
Ao réu é concedido o direito de se valer de amplos e extensos métodos para se defender da imputação feita pela acusação. Encontra fundamento constitucional no art. 5.°, LV. Considerado, no processo, parte hipossuficiente por natureza, uma vez que o Estado é sempre mais forte, agindo por órgãos constituídos e preparados, valendo-se de informações e dados de todas as fontes às quais tem acesso, merece o réu um tratamento diferenciado e justo, razão pela qual a ampla possibilidade de defesa se lhe afigura a compensação devida pela força estatal.
A sua importância cada vez mais é consagrada pela Constituição Federal, como demonstra a nova redação do art. 93, II, d (Emenda Constitucional 45/2004), cuidando da rejeição de juiz para promoção no critério da antiguidade: “na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação” (grifamos).
A ampla defesa gera inúmeros direitos exclusivos do réu, como é o caso de ajuizamento de revisão criminal – o que é vedado à acusação – bem como a oportunidade de ser verificada a eficiência da defesa pelo magistrado, que pode desconstituir o advogado escolhido pelo réu, fazendo-o eleger outro ou nomeando-lhe um dativo, entre outros.
Lembremos da existência, no contexto do júri, do princípio da plenitude de defesa, que apresenta diferença com o princípio em comento.
No Tribunal do Júri, busca-se garantir ao réu não somente uma defesa ampla, mas plena, completa, a mais próxima possível do perfeito (art. 5.°, XXXVIII, a, CF).
Vale ressaltar que o texto constitucional mencionou, além da plenitude de defesa, o princípio da ampla defesa, voltado aos acusados em geral (art. 5.°, LV, CF), razão pela qual é preciso evidenciar a natural diversidade existente entre ambos.
A lei, de um modo geral, não contém palavras inúteis, muito menos a Constituição Federal. Portanto, inexiste superfetação na dupla previsão dos referidos princípios, destinando-se cada qual a uma finalidade específica. Enquanto aos réus em processos criminais comuns assegura-se a ampla defesa, aos acusados e julgados pelo Tribunal do Júri garante-se a plenitude de defesa.
Os vocábulos são diversos e também o seu sentido. Amplo quer dizer vasto, largo, muito grande, rico, abundante, copioso; pleno significa repleto, completo, absoluto, cabal, perfeito. O segundo é, evidentemente, mais forte que o primeiro. Assim, no processo criminal, perante o juiz togado, tem o acusado assegurada a ampla defesa, isto é, vasta possibilidade de se defender, propondo provas, questionando dados, contestando alegações, enfim, oferecendo os dados técnicos suficientes para que o magistrado possa considerar equilibrada a demanda, estando de um lado o órgão acusador e de outro uma defesa eficiente.
Por outro lado, no Tribunal do Júri, onde as decisões são tomadas pela íntima convicção dos jurados, sem qualquer fundamentação, onde prevalece a oralidade dos atos e a concentração da produção de provas, bem como a identidade física do juiz, torna-se indispensável que a defesa atue de modo completo e perfeito – logicamente dentro das limitações impostas pela natureza humana. A intenção do constituinte foi aplicar ao Tribunal Popular um método que privilegie a defesa, em caso de confronto inafastável com a acusação, homenageando a sua plenitude. Como já tivemos ocasião de expor e tratar com maiores detalhes, “júri sem defesa plena não é um tribunal justo e, assim não sendo, jamais será uma garantia ao homem” (Júri – Princípios constitucionais, p. 140).
São vários os efeitos extraídos dessa diferença. Mencionemos os seguintes exemplos: a) o juiz, no júri, deve preocupar-se, de modo particularizado, com a qualidade da defesa produzida em plenário, não arriscando a sorte do réu e, sendo preciso, declarando o acusado indefeso, dissolvendo o Conselho e redesignando a sessão (art. 497, V, CPP); b) havendo possibilidade de tréplica, pode a defesa inovar nas suas teses, não representando tal ponto qualquer ofensa ao contraditório, princípio que deve ceder espaço à consagrada plenitude de defesa; c) caso a defesa necessite de maior tempo para expor sua tese, sentindo-se limitada pelo período estabelecido na lei ordinária, poderá pedir dilação ao magistrado presidente, sem que isso implique igual concessão ao representante do Ministério Público – desde que haja real necessidade. TOURINHO FILHO narra interessante situação: quando houver mais de dois réus, no julgamento pelo júri, com defensores distintos, o prazo de três horas [atualmente, duas horas e meia] deverá ser dividido entre eles. Assim, se forem quatro réus, cada defensor contará com apenas 45 minutos [hoje, pouco mais de 37 minutos]. Portanto, para evitar que a plenitude de defesa seja ferida, das duas uma: “ou o Juiz Presidente aumenta o prazo dos Defensores, ou desmembra o julgamento, a teor do art. 80” (Código de Processo Penal comentado, v. 1, p. 207).
Enfim, as consequências existem e precisam ser concretizadas, justamente porque o réu já estará em desvantagem no Tribunal Popular, que fará o julgamento sem a fundamentação inerente às decisões do Poder Judiciário e possuindo, contra si, a atuação do Estado-investigação (inquérito) e do Estado-acusação (instrução e plenário), sempre com maior poder e amplas possibilidades de produção de prova contra o indivíduo. Admitindo, igualmente, a diferença mencionada entre a ampla defesa e a plenitude de defesa, estão as posições de ANTONIO SCARANCE FERNANDES (Processo penal constitucional, p. 162-163), GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ (As reformas no processo penal, MOURA, MARIA THEREZA (coord.), p. 189).
Quer dizer que a toda alegação fática ou apresentação de prova, feita no processo por uma das partes, tem o adversário o direito de se manifestar, havendo um perfeito equilíbrio na relação estabelecida entre a pretensão punitiva do Estado e o direito à liberdade e à manutenção do estado de inocência do acusado (art. 5.°, LV, CF).
Cuida-se de princípio ligado, essencialmente, à relação processual, servindo tanto à acusação quanto à defesa.
Excepcionalmente, o contraditório deve ser exercitado quando houver alegação de direito. Nesse caso, deve-se verificar se a questão invocada pode colocar fim à demanda. Exemplo disso é a alegação de ter havido abolitio criminis (quando lei nova deixa de considerar crime determinada conduta), que deve provocar a oitiva da parte contrária, pois o processo pode findar em função da extinção da punibilidade.
No mais, se uma parte invoca uma questão de direito, não há sempre necessidade de ouvir a parte contrária, bastando que o juiz aplique a lei ao caso concreto. Aliás, é o que ocorre nos memoriais: primeiro manifesta-se a acusação; depois, fala a defesa, não sendo necessário ouvir novamente o órgão acusatório, embora possam ter sido invocadas questões de direito, analisando a prova produzida.
O Estado, na persecução penal, deve assegurar às partes, para julgar a causa, a escolha de um juiz previamente designado por lei e de acordo com as normas constitucionais (art. 5.°, LIII, CF: “Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”). Evita-se, com isso, o juízo ou tribunal de exceção (art. 5.°, XXXVII, CF), que seria a escolha do magistrado encarregado de analisar determinado caso, após a ocorrência do crime e conforme as características de quem será julgado, afastando-se dos critérios legais anteriormente estabelecidos. A preocupação maior desse princípio é assegurar a imparcialidade do juiz, visto que, num Estado Democrático de Direito, é inconcebível que os julgamentos materializem-se de forma parcial, corrupta e dissociada do equilíbrio que as partes esperam da magistratura.
Se as regras processuais puderem construir um sistema claro e prévio à indicação do juiz competente para o julgamento da causa, seja qual for a decisão, haverá maior aceitação pelas partes, bem como servirá de legitimação para o Poder Judiciário, que, no Brasil, não é eleito pelo povo.
Isso não significa que eventuais alterações de competência, válidas para todas as pessoas, não possam ser imediatamente incorporadas e aplicadas. Não se ofende o princípio do juiz natural se, criada uma Vara nova, especializada em determinada matéria, vários processos para ela são encaminhados, desvinculando-se de outros juízos onde tramitavam. A medida é geral e abrangente, tomada em nome do interesse público, sem visar qualquer réu específico.
É certo que o princípio do juiz natural tem por finalidade, em último grau, assegurar a atuação de um juiz imparcial na relação processual. Entretanto, por mais cautela que se tenha na elaboração de leis, é possível que um determinado caso chegue às mãos de magistrado parcial. Essa falta de isenção pode decorrer de fatores variados: corrupção, amizade íntima ou inimizade capital com alguma das partes, ligação com o objeto do processo, conhecimento pessoal sobre o fato a ser julgado etc.
Nota-se, portanto, que não basta ao processo penal o juiz natural. Demanda-se igualmente o juiz imparcial, motivo pelo qual o Código de Processo Penal coloca à disposição do interessado as exceções de suspeição e de impedimento, para buscar o afastamento do magistrado não isento.
Esse princípio é constitucionalmente assegurado, embora de maneira implícita. Ingressa no sistema pela porta do art. 5.°, § 2.°, da Constituição (“Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”). Ora, não somente o princípio do juiz imparcial decorre do juiz natural, afinal, este sem aquele não tem finalidade útil, como também é fruto do Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, aprovada pelo Decreto 678/92), firmado pelo Brasil e, em vigor, desde 1992. Verifica-se no art. 8.°, item 1, o seguinte: “Toda pessoa tem o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza” (destaque nosso).
Por outro lado, para não perder a sua imparcialidade, não pode o juiz agir de ofício para dar início à ação penal. Cabe ao titular da ação penal, que é o Ministério Público (art. 129, I, CF), como regra, essa providência. Não propondo a ação penal, no prazo legal, pode o particular ofendido tomar a iniciativa (art. 5.°, LIX, CF). A conjugação das referidas normas constitucionais demonstra a sua previsão implícita na Carta Magna. E mais: deve o magistrado julgar o pedido nos estritos limites em que foi feito, não podendo ampliar a acusação, piorando a situação do réu, sem aditamento à denúncia, promovido por quem de direito (consultar o art. 384, do CPP).
Registre-se exceção ao princípio, mencionando que a execução penal pode ter início por atuação de ofício do magistrado: “O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa” (art. 195 da Lei 7.210/84). Entretanto, como a execução da pena é somente uma decorrência do reconhecimento da pretensão punitiva estatal, ocorrida na sentença condenatória, o juiz nada mais faz do que, conforme a lei – e não iniciativa diretamente sua – dar início ao cumprimento da decisão, por interesse público.
O julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas e o juiz natural e imparcial
A Lei 12.694/2012 instituiu a possibilidade de se formar um colegiado em primeira instância para decidir questões controversas no tocante a delitos cometidos por organizações criminosas. Os focos das decisões são os seguintes: a) decretação de prisão ou de medidas assecuratórias; b) concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão; c) sentença; d) progressão ou regressão de regime de cumprimento de pena; e) concessão de liberdade condicional; f) transferência de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima; g) inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado.
O juiz responsável pela investigação ou processo pode instaurar o colegiado, quando reputar conveniente para a sua segurança, declinando os motivos e as circunstâncias de risco, em decisão fundamentada, dando conhecimento ao órgão correcional.
O colegiado será formado pelo juiz do feito e por dois outros magistrados escolhidos por sorteio eletrônico dentre os que tiverem competência criminal em primeira instância. A competência desse colegiado limitar-se-á ao ato para o qual foi convocado. As suas reuniões podem ser sigilosas, mas as decisões, devidamente fundamentadas, serão publicadas, sem referência aos votos de seus integrantes (toma-se a decisão por maioria).
Para os efeitos dessa lei, considera-se organização criminosa a associação de três ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, mesmo informalmente, com a meta de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante o cometimento de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a quatro anos ou tenham caráter transnacional. Porém, com o advento da Lei 12.850/2013, alterou-se o conceito de organização criminosa, repercutindo na Lei 12.694/2012. Afinal, não pode haver dois conceitos diversos sobre o mesmo tema: organização criminosa. Diante disso, prevalece o disposto pela lei mais recente, que fixa o número mínimo de quatro pessoas para a formação de organização criminosa. Essa é a única alteração.
Esse colegiado fere o princípio do juiz natural? E do juiz imparcial?
Levando-se em consideração que um dos pilares do princípio do juiz natural é a sua prévia designação abstrata em lei, para que não surpreenda o investigado ou réu, nem se constitua em juízo de exceção, pode-se considerar válido o colegiado. Afinal, há expressa disposição em lei acerca de sua formação, bem como as regras específicas para que tal medida seja tomada.
Algumas cautelas, no entanto, precisam ser seguidas, dentre elas a fiel observância do princípio da identidade física do juiz (art. 399, § 2.°, do CPP). Desse modo, segundo cremos, o colegiado não pode ser formado às vésperas da sentença, mas deve acompanhar a colheita da prova, quando se tratar de delito imputado a organização criminosa.
Por outro lado, a instauração do colegiado não pode ser sigilosa, algo que a lei não deixa claro. Para que o investigado ou réu possa apresentar exceção de suspeição contra algum dos componentes desse grupo de magistrados, torna-se essencial o conhecimento de quem são eles. Portanto, antes de proferir qualquer decisão, os nomes dos juízes devem ser conhecidos, possibilitando-se o ingresso de eventual exceção de suspeição (ou impedimento).
Em linhas gerais, o colegiado respeita o princípio do juiz natural. Deve submeter-se, ainda, ao princípio do juiz imparcial, seguindo-se a regra da transparência e da publicidade no tocante aos nomes dos integrantes do colegiado, antes e depois das decisões.
Encontra previsão constitucional nos arts. 5.°, LX, XXXIII, e 93, IX, da Constituição Federal. Quer dizer que os atos processuais devem ser realizados publicamente, à vista de quem queira acompanhá-los, sem segredos e sem sigilo. É justamente o que permite o controle social dos atos e decisões do Poder Judiciário.
Ocorre que, em algumas situações excepcionais, a própria Constituição ressalva a possibilidade de se restringir a publicidade. Quando houver interesse social ou a intimidade o exigir, o juiz pode limitar o acesso à prática dos atos processuais, ou mesmo aos autos do processo, apenas às partes envolvidas (art. 5.°, LX, CF). Conforme o caso, até mesmo o réu pode ser afastado da sala, permanecendo o seu advogado. Note-se, no entanto, que jamais haverá sigilo total, fazendo com que o magistrado conduza o processo sem o acesso dos órgãos de acusação e defesa, bem como jamais realizará um ato processual válido sem a presença do promotor e do defensor.
Por isso, vale sustentar a divisão entre publicidade geral e publicidade específica. A primeira é o acesso aos atos processuais e aos autos do processo a qualquer pessoa. A segunda situação é o acesso restrito aos atos processuais e aos autos do processo às partes envolvidas, entendendo-se o representante do Ministério Público (se houver, o advogado do assistente de acusação) e o defensor. Portanto, o que se pode restringir é a publicidade geral, jamais a específica.
A partir da Emenda Constitucional 45/2004 (Reforma do Judiciário), modificou-se a redação do art. 93, IX, mencionando-se ser a publicidade a regra e o sigilo a exceção, neste caso quando houver interesse relacionado à intimidade de alguém, sem que haja prejuízo ao interesse público à informação. Aparentando contradição, a referida norma assegura a publicidade, garante o sigilo para preservar a intimidade, mas faz a ressalva de que, acima de tudo, estaria o direito à informação. Por outro lado, o art. 5.°, LX, enaltece a publicidade, mas fixa como exceções a preservação da intimidade e a exigência do interesse social. Para argumentar, afastando-se o aspecto da preservação da intimidade, pode o juiz decretar sigilo por conta exclusiva do interesse social? Afinal, isso poderia ocorrer na apuração de crime de enorme repercussão ou envolvendo o crime organizado. Cremos que sim. O conflito entre o disposto no art. 5.°, LX, e o art. 93, IX (com nova redação) é apenas aparente. Em primeiro lugar, continua em vigor a garantia fundamental da publicidade, com as exceções do art. 5.°, LX, que são a preservação da intimidade e o interesse da sociedade. Em segundo lugar, o art. 93, IX, passa a referir-se expressamente à preservação da intimidade (que antes não havia), ressalvado o interesse público à informação, entendendo-se apenas que não deve o juiz exagerar na dose de interpretação do que vem a ser intimidade para não prejudicar o direito da sociedade de acompanhar o que se passa no processo.
Acrescente-se, ainda, a nova redação dada ao art. 201, § 6.°, do CPP, pela Lei 11.690/2008: “O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação”.
Dispõe o art. 5.°, LVI, da Constituição Federal que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. No Código de Processo Penal, encontra-se o art. 155, parágrafo único, preceituando que “somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições à prova estabelecidas na lei civil”. Por outro lado, no Código de Processo Civil, encontramos que “todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa” (art. 332, com grifo nosso).
Aparentemente, o disposto na lei processual civil é mais rigoroso do que o estabelecido pela processual penal, embora todas as normas devam ser interpretadas em consonância com o texto constitucional, além do que é admissível a interpretação analógica e a aplicação dos princípios gerais de direito em processo penal (art. 3.°, CPP).
Em síntese, portanto, pode-se concluir que o processo penal deve formar-se em torno da produção de provas legais e legítimas, inadmitindo-se qualquer prova obtida por meio ilícito. Cumpre destacar quais são as provas permitidas e as vedadas pelo ordenamento jurídico.
O conceito de ilícito advém do latim (illicitus = il + licitus), possuindo dois sentidos: a) sob o significado restrito, quer dizer o proibido por lei; b) sob o prisma amplo, tem, também, o sentido de ser contrário à moral, aos bons costumes e aos princípios gerais de direito. Constitucionalmente, preferimos o entendimento amplo do termo ilícito.
Nesse contexto, abrem-se duas óticas, envolvendo o que é materialmente ilícito (a forma de obtenção da prova é proibida por lei) e o que é formalmente ilícito (a forma de introdução da prova no processo é vedada por lei). Este último enfoque (formalmente ilícito), como defendemos, é o ilegítimo (cf. LUIZ ALBERTO DAVID ARAÚJO e VIDAL NUNES SERRANO JÚNIOR, Curso de direito constitucional, p. 123).
Em outro sentido, baseado nas lições de Nuvolone, citado por ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES (As nulidades no processo penal, p. 113; Processo penal constitucional, p. 78, somente do último autor), está o magistério de ALEXANDRE DE MORAES, para quem “as provas ilícitas não se confundem com as provas ilegais e as ilegítimas. Enquanto, conforme já analisado, as provas ilícitas são aquelas obtidas com infringência ao direito material, as provas ilegítimas são as obtidas com desrespeito ao direito processual. Por sua vez, as provas ilegais seriam o gênero do qual as espécies são as provas ilícitas e as ilegítimas, pois configuram-se pela obtenção com violação de natureza material ou processual ao ordenamento jurídico” (Direito constitucional, p. 117).
Permitimo-nos discordar, invertendo o conceito apresentado, porque, segundo cremos, equivocado. O gênero é a ilicitude – assim em Direito Penal, quanto nas demais disciplinas, inclusive porque foi o termo utilizado na Constituição Federal – significando o que é contrário ao ordenamento jurídico, contrário ao Direito de um modo geral, que envolve tanto o ilegal, quanto o ilegítimo, isto é, tanto a infringência às normas legalmente produzidas, de direito material e processual, quanto aos princípios gerais de direito, aos bons costumes e à moral.
Observamos a tendência de considerar gênero o termo ilicitude no próprio acórdão citado por MORAES linhas após, relatado pelo Ministro Celso de Mello: “A prova ilícita é prova inidônea. Mais do que isso, prova ilícita é prova imprestável. Não se reveste, por essa explícita razão, de qualquer aptidão jurídico-material. Prova ilícita, sendo providência instrutória eivada de inconstitucionalidade, apresenta-se destituída de qualquer grau, por mínimo que seja, de eficácia jurídica”. Ao final, menciona o ilustre Ministro que o banimento processual de prova ilicitamente colhida destina-se a proteger os réus contra a ilegítima produção ou a ilegal colheita de prova incriminadora (op. cit., p. 118), dando a entender que o ilícito abarca o ilegal e o ilegítimo.
Em conclusão, o ilícito envolve o ilegalmente colhido (captação da prova ofendendo o direito material, v. g., a escuta telefônica não autorizada) e o ilegitimamente produzido (fornecimento indevido de prova no processo, v. g., a prova da morte da vítima através de simples confissão do réu). Se houver a inversão dos conceitos, aceitando-se que ilicitude é espécie de ilegalidade, então a Constituição estaria vedando somente a prova produzida com infringência à norma de natureza material e liberando, por força da natural exclusão, as provas ilegítimas, proibidas por normas processuais, o que se nos afigura incompatível com o espírito desenvolvido em todo o capítulo dos direitos e garantias individuais.
A reforma introduzida pela Lei 11.690/2008 optou pela ampliação do conceito de ilícito: “são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais” (art. 157, caput, CPP). Vê-se, pois, que ilícito é gênero. Violações de normas constitucionais ou de legislação ordinária fazem nascer suas espécies. Em suma, são ilícitas as provas obtidas em afronta a normas penais ou processuais penais.
Consagrou-se, ainda, no Brasil, a teoria da prova ilícita por derivação (“frutos da árvore envenenada” ou “efeito à distância”, que advém do preceito bíblico de que a “árvore envenenada não pode dar bons frutos”). Assim, quando uma prova for produzida por mecanismos ilícitos, tal como a escuta ilegalmente realizada, não se pode aceitar as provas que daí advenham. Exemplo: graças à escuta ilegal efetivada, a polícia consegue obter dados para a localização da coisa furtada. A partir disso, obtém um mandado judicial, invade o lugar e apreende o material. Note-se que a apreensão está eivada do veneno gerado pela prova primária, isto é, a escuta indevidamente operada. Se for aceita como lícita a segunda prova, somente porque houve a expedição de mandado de busca por juiz de direito, em última análise, estar-se-ia compactuando com o ilícito, pois se termina por validar a conduta ilegal da autoridade policial.
De nada adianta, pois, a Constituição proibir a prova obtida por meios ilícitos, uma vez que a prova secundária serviu para condenar o réu, ignorando-se que ela teve origem em prova imprestável. Comentando a teoria da prova ilícita por derivação, majoritariamente aceita nos Estados Unidos, MANUEL DA COSTA ANDRADE explica que a maneira encontrada pela justiça americana para dar fim aos abusos cometidos por policiais foi tornando ineficaz e inútil a prova produzida por mecanismos ilícitos, sejam elas primárias ou secundárias (Sobre as proibições de prova em processo penal, p. 144).
Quanto à possibilidade de se acolher a prova ilicitamente produzida, parcela da doutrina costuma trabalhar com a teoria da proporcionalidade (“teoria da razoabilidade” ou “teoria do interesse predominante”), cuja finalidade é equilibrar os direitos individuais e os interesses da sociedade, não se admitindo, pois, a rejeição contumaz das provas obtidas por meios ilícitos.
Sustentam os defensores dessa posição que é preciso ponderar os interesses em jogo, quando se viola uma garantia qualquer. Assim, para a descoberta de um sequestro, libertando-se a vítima do cativeiro, prendendo-se e processando-se criminosos perigosos, por exemplo, seria admissível a violação do sigilo das comunicações, como a escuta clandestina. Essa teoria vem ganhando muitos adeptos atualmente, sendo originária da Alemanha.
Sob nosso ponto de vista, não seria momento para o sistema processual penal brasileiro, imaturo ainda em assegurar, efetivamente, os direitos e garantias individuais, adotar a teoria da proporcionalidade. Necessitamos manter o critério da proibição plena da prova ilícita, salvo nos casos em que o preceito constitucional se choca com outro de igual relevância. Sabemos que “nenhum direito reconhecido na Constituição pode revestir-se de um caráter absoluto” (CELSO BASTOS, Curso de direito constitucional, p. 228), razão pela qual se o texto constitucional rejeita o erro judiciário, é natural que não seja possível sustentar a proibição da prova ilícita quando essa vedação for contra os interesses do réu inocente.
Dessa forma, se uma prova for obtida por mecanismo ilícito, destinando-se a absolver o acusado, é de ser admitida, tendo em vista que o erro judiciário precisa ser a todo custo evitado, conforme preceitua a Constituição Federal (art. 5.°, LXXV). ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES sustentam que, quando o próprio réu colhe a prova ilícita para sua absolvição está, na realidade, agindo em legítima defesa, mas não deixam de destacar que essa aceitação é fruto da proporcionalidade (As nulidades no processo penal, p. 116).
Tal posição é, de fato, justa, fazendo-nos crer que é caso até de inexigibilidade de conduta diversa por parte de quem está sendo injustamente acusado, quando não for possível reconhecer a legítima defesa. No exemplo supracitado do sequestro, é até possível argumentar-se com outra excludente, que é o estado de necessidade, para absolver quem faz uma escuta clandestina, destinada a localizar o cativeiro da vítima, proporcionando a sua libertação, embora não se possa utilizar tal prova para incriminar os autores do crime.
Logo, são situações diversas e o próprio Direito Penal, em nossa visão, fornece instrumentos para resolvê-las, sendo desnecessário agir contrariamente à lei. E mais: basta que o direito processual penal crie mecanismos mais flexíveis de investigação policial, sempre sob a tutela de um magistrado, controlando a legalidade do que vem sendo produzido, para que o Estado se torne mais atuante e protetor, sem abrir mão dos direitos e garantias fundamentais.
Não conseguimos, com a devida vênia dos que pensam em sentido contrário, admitir uma liberdade maior para a atuação policial, desgarrada das proteções constitucionais, em nome da segurança pública, pois ainda não possuímos um Estado-investigação devidamente preparado e equilibrado. Não se pode conceder carta branca a quem não se educou sob a era da democrática Constituição de 1988, razão pela qual somos favoráveis à manutenção do critério da proibição da prova ilícita por derivação.
Essa foi a opção legislativa adotada pela Lei 11.690/2008: “são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas...” (art. 157, § 1.°, CPP). Excepciona-se a prova derivada advinda de fonte independente, como será analisado no capítulo próprio (Cap. XIV).
Encerramos, no entanto, argumentando que pouco se discute tal prova no direito brasileiro, visto que são raros os casos em que se apura, efetivamente, o abuso policial. Preferem os operadores do direito, muitas vezes, ignorar as alegações de violações dos direitos individuais, em lugar de perder uma boa prova, que possa produzir a condenação de alguém, considerado perigoso à sociedade. Pouco se apura, por exemplo, a tortura na investigação policial, quando se sabe que ela é uma realidade inexorável e constante. Se o réu alega ter sido violentado e agredido na fase policial, termina-se produzindo uma investigação superficial, muito tempo depois, que realmente nada apura de concreto – seja porque a prova desfez-se pelo passar do tempo, seja porque o Estado não tem interesse efetivo em detectar suas falhas – razão pela qual a prova termina sendo aceita e o acusado condenado, na prática, com base em prova obtida por meio ilícito.
 PONTO RELEVANTE PARA DEBATE
PONTO RELEVANTE PARA DEBATE
A ilegitimidade da utilização da psicografia como prova no processo penal
Tivemos a oportunidade de publicar no jornal (e site) “Carta Forense” um artigo inédito sobre a ilegitimidade da psicografia como meio de prova no processo penal brasileiro. Permitimo-nos reproduzi-lo para fomentar o debate: “A República Federativa do Brasil é um Estado Democrático de Direito, porém laico (art. 1.°, caput, CF). Dentre os direitos humanos fundamentais, prevê-se a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, assegurando-se o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, ainda, conforme disposição legal, a proteção aos locais de culto e suas liturgias (art. 5.°, VI). Em primeiro plano, pois, pode-se afirmar que religião não se confunde com os negócios de Estado, nem com a Administração Pública e seus interesses. Cada brasileiro pode ter qualquer crença e seguir os ditames de inúmeras formas de manifestação de cultos e liturgias. Pode, ainda, não ter crença alguma. Todos são iguais perante a lei e o Direito assim deve tratá-los. No contexto das provas, dividimos as que são lícitas, com plena possibilidade de utilização no processo, das ilícitas, inadmissíveis como meio de prova. Temos sustentado que o conceito de ilícito, proveniente do latim (illicitus = il + licitus) tem dois sentidos: a) em sentido estrito, significa o que é proibido por lei; b) em sentido amplo, quer dizer o que é vedado moralmente, pelos bons costumes e pelos princípios gerais de direito. Consideramos que a prova ilícita é, pois, o gênero das seguintes espécies: a) ilegal, a que é produzida com infração às normas penais, constituindo, por vezes, autênticos crimes (ex.: tortura-se alguém para obter a confissão); b) ilegítima, a que ofende preceitos gerais de processo (ex.: busca-se produzir a materialidade de um crime exclusivamente calcado na confissão do indiciado). A Constituição Federal veda a admissão, no processo, das provas obtidas por meios ilícitos (art. 5.°, LVI). Entendemos, em consequência, não ser possível o ingresso no processo das provas ilegalmente produzidas, nem tampouco das ilegitimamente colhidas. A partir de tais pressupostos, levando-se em conta que as provas produzidas, no processo em geral, devem basear-se na moral, nos bons costumes e nos princípios gerais de direito, o mais precisa ser considerado ilegítimo. Logo, inadmissível no processo, por vedação constitucional. A psicografia é um fenômeno particular da religião espírita kardecista, significando a transmissão de mensagens escritas, ditadas por espíritos, aos seres humanos, denominados médiuns. Cuida-se, por evidente, de um desdobramento natural da fé e da crença daqueles que exercem as funções de médiuns, como também dos que acolhem tais mensagens como verdadeiras e se sentem em plena comunicação com o mundo dos desencarnados. Não temos dúvida em afirmar tratar-se de direito humano fundamental o respeito a essa crença e a tal atividade, consequência de uma das formas em que o espiritismo é exercitado. Aliás, como outras religiões também possuem variados modos de se expressar, postulados e dogmas transmitidos a seus seguidores e todos os fiéis, igualmente, merecem o respeito e a tutela do Estado. Entretanto, ingressamos no campo do Direito, que possui regras próprias e técnicas, buscando viabilizar o correto funcionamento do Estado Democrático de Direito laico. O juiz católico pode julgar o réu espírita, defendido pelo adepto do judaísmo, acusado pelo promotor budista, com testemunhas evangélicas e escrivão protestante. Em outras palavras, o que cada operador do Direito professa no seu íntimo, assim como as pessoas chamadas a colaborar com o processo penal, é irrelevante. Veda-se, contudo, que se valham de suas convicções íntimas para produzir prova. Registremos, desde logo, o disposto no art. 213 do Código de Processo Penal: ‘O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato’. Imaginando-se a psicografia como meio de prova, devemos indagar: que tipo de prova é? Seria uma prova documental, fundando-se no escrito extraído das mãos do médium? Ou poderia ser uma prova testemunhal, levando-se em conta a pessoa do médium, que a produziu? Não é demais repetir que o devido processo legal (art. 5.°, LIV, CF) se forma validamente com o absoluto respeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5.°, LV, CF). Se a psicografia for considerada um documento (art. 232, caput, CPP), deve submeter-se à verificação de sua autenticidade (art. 235, CPP), havendo, inclusive incidente processual próprio a tanto (art. 145 e ss., CPP). Imaginemos que o defensor junta aos autos uma carta psicografada pelo médium X, com mensagem da vítima de homicídio Y, narrando a inocência do réu Z. Como se pode submeter tal documento à prova da autenticidade? O que fará o promotor de justiça para exercer, validamente, o contraditório? Seria viável o perito judicial examiná-lo? Com quais critérios? Invadiremos o âmago das convicções religiosas das partes do processo penal para analisar a força probatória de um documento, o que é, no mínimo, contrário aos princípios gerais de direito. Contradição evidente apresenta esta situação ao Estado Democrático de Direito, que respeita todas as crenças e cultos, mas não impõe nenhuma delas, nem demanda nenhum tipo de liturgia. Portanto, os operadores do Direito devem dar o exemplo, abstendo-se de misturar crença com profissão; culto com direito; liturgia com processo. Poder-se-ia até mesmo dizer que a psicografia seria um documento anônimo e, como tal, seria juntado aos autos, servindo apenas para auxiliar o magistrado na formação do seu convencimento. Porém, assim não é. Cuida-se de autêntica carta emitida pela vítima e endereçada ao réu ou ao juiz, por meio do médium, para relatar um fato processualmente relevante. Sabe-se, inclusive dentro dos parâmetros da religião espírita, que existem falsos médiuns, como também é de conhecimento público e notório que há, para quem acredite, médiuns conscientes (enquanto a mensagem é transmitida, podem acompanhar o seu teor) e os inconscientes (não tem conhecimento do que está sendo passado). Ora, o consciente pode influenciar na redação da mensagem e alterá-la, para absolver o réu – ou prejudicá-lo. Seria o médium, então, uma testemunha? Sabe de fatos e deve depor sobre os mesmos em juízo, sob o compromisso de dizer a verdade, respondendo por falso testemunho, conforme o caso. Outra situação absurda para os padrões processuais, pois o médium nada viu diretamente e não pode ser questionado sobre pretensa mensagem (equivalente a ouvir dizer), proveniente de um morto. Há vida após a morte? Com qual grau de comunicação com os vivos? Depende-se de fé para essa resposta e o Estado prometeu abster-se de invadir a seara da individualidade humana para que todos acreditassem ou deixassem de acreditar na espiritualidade e em todos os dogmas postos pelas variadas religiões. O perigo na utilização da psicografia no processo penal é imenso. Fere-se preceito constitucional de proteção à crença de cada brasileiro; lesa-se o princípio do contraditório; coloca-se em risco a credibilidade das provas produzidas; invade-se a seara da ilicitude das provas; pode-se, inclusive, romper o princípio da ampla defesa. Ilustremos situação contrária: o promotor de justiça junta aos autos uma psicografia da vítima morta, transmitida por um determinado médium, pedindo justiça e a condenação do réu Z, pois foi ele mesmo o autor do homicídio. Até então nenhuma prova da autoria existia. Aceita-se a prova? E a ampla defesa? Como será exercida? Conseguiria o defensor uma outra psicografia desautorizando a primeira? Enfim, religiões existem para dar conforto espiritual aos seres humanos, mas jamais para transpor os julgamentos dos tribunais de justiça para os centros espíritas”. Entretanto, convém ressaltar que uma carta psicografada já ajudou a inocentar ré por homicídio no Rio Grande do Sul. Segundo Léo Gerchmann (Agência Folha, Porto Alegre, 30.05.2006), “duas cartas psicografadas foram usadas como argumento de defesa no julgamento em que I. M. B. foi inocentada, por 5 votos a 2, da acusação de mandante do homicídio. Os textos são atribuídos à vítima do crime, ocorrido em Viamão (região metropolitana de Porto Alegre)”.
É incumbência do Estado procurar desenvolver todos os atos processuais no menor tempo possível, dando resposta imediata à ação criminosa e poupando tempo e recursos das partes.
A edição da Emenda Constitucional 45/2004 (Reforma do Judiciário) tornou o princípio explícito, dentre as garantias individuais, passando a figurar no art. 5.°, LXXVIII: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
O princípio encontra-se previsto igualmente na Lei 9.099/95 (art. 62) e sempre foi utilizado, na medida do possível, no processo penal comum. Não pode implicar, no entanto, em nenhuma hipótese, a restrição ao direito da parte de produzir prova e buscar a verdade real.
Exemplos de utilização da economia processual: a) possibilita-se o uso da precatória itinerante (art. 355, § 1.°, CPP), isto é, quando o juízo deprecado constata que o réu se encontra em outra Comarca, ao invés de devolver a precatória ao juízo deprecante, envia ao juízo competente para cumpri-la, diretamente; b) quando houver nulidade, por incompetência do juízo, somente os atos decisórios serão refeitos, mantendo-se os instrutórios (art. 567, CPP); c) o cabimento da suspensão do processo, quando houver questão prejudicial, somente deve ser deferido em caso de difícil solução, a fim de não procrastinar inutilmente o término da instrução (art. 93, CPP); d) busca-se ao máximo evitar o adiamento de audiências, salvo quando for imprescindível a prova faltante (art. 535, CPP).
Em decorrência de modernas posições doutrinárias e jurisprudenciais, emerge outro princípio constitucional, embora implícito, dentre as garantias fundamentais: a duração razoável da prisão cautelar. Observa-se, como fruto natural dos princípios constitucionais explícitos da presunção de inocência, da economia processual e da estrita legalidade da prisão cautelar, ser necessário consagrar, com status constitucional, a meta de que ninguém poderá ficar preso, provisoriamente, por prazo mais extenso do que for absolutamente imprescindível para o escorreito desfecho do processo. Essa tem sido a tendência dos tribunais pátrios, em especial do Supremo Tribunal Federal.
De fato, não se torna crível que, buscando-se respeitar o estado de inocência, conjugado com o direito ao processo célere, associando-se a todas as especificações para se realizar, legitimamente, uma prisão cautelar, possa o indiciado ou réu permanecer semanas, meses, quiçá anos, em regime de restrição de liberdade, sem culpa formada. O Código de Processo Penal, de 1941, já não apresenta solução concreta para o binômio, hoje realidade intrínseca do sistema judiciário brasileiro, prisão cautelar necessária x lentidão do trâmite processual. Não é possível, igualmente, quedar inerte a doutrina; muito menos, nada fazer a jurisprudência. Por isso, extraindo-se uma interpretação lógico-sistemática de preceitos existentes na Constituição Federal, é medida transitável afirmar a indispensabilidade da duração razoável não somente do processo-crime, mas, sobretudo, da prisão cautelar. É realidade não se poder fixar em dias o número exato de duração de uma prisão preventiva, por exemplo. Porém, ingressa, nesse cenário, o critério da razoabilidade, devendo o magistrado avaliar, no caso concreto, o que ultrapassa a medida do bom senso.
Somente para ilustrar, quem estiver sujeito a uma pena variável de 4 a 10 anos (roubo, art. 157, CP), não possuindo outras condenações, não poderia ficar detido, sem culpa formada, por mais de um ano. Fere a razoabilidade, uma vez que, ainda argumentando, se condenado, em primeiro grau, a seis anos de reclusão, já poderia conseguir, pela via da execução provisória da pena, outra realidade na jurisprudência brasileira, a progressão para o regime semiaberto. Ora, inviável, então, manter alguém no cárcere por mais de ano, sem que se consiga concluir a instrução do processo em primeira instância. A prática forense nos evidencia a ocorrência de prisões preventivas que chegam a atingir vários anos, o que não nos soa sensato, ainda que se possa agir em nome da segurança pública. Cabe ao Judiciário adiantar o andamento do feito, sem permitir a ruptura de direitos fundamentais (como a ampla defesa), mas proporcionando a duração razoável da prisão cautelar.
Está previsto no art. 5.°, XXXVIII, b, da Constituição Federal, significando que os jurados devem proferir o veredicto em votação situada em sala especial, assegurando-lhes tranquilidade e possibilidade para reflexão, com eventual consulta ao processo e perguntas ao magistrado. Estarão presentes apenas as partes (embora, no caso do réu, representado por seu defensor) e os funcionários da Justiça, sob a presidência do Juiz de Direito.
Atualmente, nem mesmo é necessária a divulgação do quorum completo da votação, preservando-se, pois, o sigilo previsto na Constituição Federal (art. 483, §§ 1.° e 2.°, CPP).
Conforme disposto no art. 5.°, XXXVIII, c, da Constituição Federal, proferida a decisão final pelo Tribunal do Júri, não há possibilidade de ser alterada pelo tribunal togado, quanto ao mérito. No máximo, compatibilizando-se os princípios regentes do processo penal, admite-se o duplo grau de jurisdição. Ainda assim, havendo apelação, se provida, o tribunal determina novo julgamento, porém, o órgão julgador, quanto ao mérito da imputação, será, novamente, o Tribunal Popular.
A previsão encontra-se no art. 5.°, XXXVIII, d, da Constituição Federal, assegurando a competência mínima para o Tribunal do Júri. Nada impede que o legislador ordinário promova a inserção, em normas processuais, de outros casos a serem julgados pelo Tribunal Popular. Aliás, lembremos que, atualmente, o Júri já julga outras infrações penais, desde que conexas com os delitos dolosos contra a vida.
Refletindo-se, com maior minúcia, sobre o sistema processual, constitucionalmente estabelecido, deve-se acrescentar e ressaltar que, no Brasil, a prisão de qualquer pessoa necessita cumprir requisitos formais estritos. Por isso, estabelece-se o seguinte: a) “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei” (art. 5.°, LXI, CF); b) “a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada” (art. 5.°, LXII, CF); c) “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado” (art. 5.°, LXIII, CF); d) “o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial” (art. 5.°, LXIV, CF); e) “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária” (art. 5.°, LXV, CF); f) “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5.°, LXVI, CF); g) “o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei” (art. 5.°, LVIII, CF).
Tem a parte o direito de buscar o reexame da causa por órgão jurisdicional superior. O princípio é consagrado na própria Constituição quando se tem em mira a estrutura do Poder Judiciário em instâncias, bem como a expressa menção, v. g., feita no art. 102, II, da CF, referente ao Supremo Tribunal Federal, cabendo-lhe julgar em recurso ordinário: “a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; b) o crime político”. Ora, se uma pessoa, condenada na Justiça Federal de primeiro grau por delito político tem o direito constitucional de recorrer ordinariamente ao STF, por que outros réus não teriam o mesmo direito? Assim, a garantia do duplo grau de jurisdição é, sem dúvida, princípio básico no processo penal.
Por outro lado, há expressa disposição no Pacto de São José da Costa Rica (art. 8, item 2, h) a respeito do direito de recurso contra sentença a juiz ou tribunal superior. Os tratados internacionais, versando sobre direitos humanos, devem ingressar no ordenamento jurídico brasileiro com status de norma constitucional, como autorizam os §§ 2.° e 3.° do art. 5.°, da Constituição Federal. Acrescente-se, ainda, que, após a edição da Emenda 45/2004, prevê-se o seguinte: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais” (art. 5.°, § 3.°, CF). Tal dispositivo somente reforça a tese de que as normas sobre direitos humanos, constantes em tratados e convenções internacionais, devem ter status constitucional. Sobre o tema, posicionando-se igualmente pela aplicação do duplo grau de jurisdição no processo penal, inclusive porque é corolário natural da ampla defesa, consultar CAROLINA ALVES DE SOUZA LIMA (O princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, p. 91-95).
Significa que o indivíduo deve ser acusado por órgão imparcial do Estado, previamente designado por lei, vedada a indicação de acusador para atuar em casos específicos. Não está esse princípio expressamente previsto na Constituição, embora se possa encontrar suas raízes na conjugação de normas constitucionais e infraconstitucionais.
A inamovibilidade do promotor está prevista no art. 128, § 5.°, I, b, da Constituição, o que sustenta um acusador imparcial, visto não ser possível alterar o órgão acusatório, conforme interesses particulares.
Ademais, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/93) prevê a admissibilidade de designação de promotores de justiça para casos expressamente previstos e não para satisfazer qualquer vontade específica do Procurador-Geral de Justiça (art. 10, IX: cabe ao chefe da instituição designar membros do Ministério Público para: “a) exercer as atribuições de dirigente dos Centros de Apoio Operacional; b) ocupar cargo de confiança junto aos órgãos da Administração Superior; c) integrar organismos estatais afetos a sua área de atuação; d) oferecer denúncia ou propor ação civil pública nas hipóteses de não confirmação de arquivamento de inquérito policial ou civil, bem como de quaisquer peças de informação; e) acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória, devendo recair a escolha sobre o membro do Ministério Público com atribuição para, em tese, oficiar no feito, segundo as regras ordinárias de distribuição de serviços; f) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição de titular de cargo, ou com consentimento deste; g) por ato excepcional e fundamentado, exercer as funções processuais afetas a outro membro da instituição, submetendo sua decisão previamente ao Conselho Superior do Ministério Público; h) oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância, ou junto ao Procurador-Regional Eleitoral, quando por este solicitado”). Fora disso, respeita-se a lei e o cargo para o qual o promotor foi nomeado. Essa, atualmente, é a posição do Supremo Tribunal Federal.
Decorre da conjunção do princípio da legalidade penal associado aos preceitos constitucionais que conferem a titularidade da ação penal exclusivamente ao Ministério Público e, em caráter excepcional, ao ofendido.
Dispõe a legalidade que não há crime sem prévia lei que o defina, nem pena sem prévia lei que a comine, razão pela qual podemos deduzir que, havendo tipicidade incriminadora, é imperiosa a aplicação da sanção penal a quem seja autor da infração penal. Não se trata de mera faculdade do Poder Judiciário aplicar a lei penal ao caso concreto, embora saibamos que, atento ao princípio do devido processo legal, não poderá haver sanção sem que exista processo. Ora, se o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal, nos casos de crimes de ação pública, a única maneira viável de se aplicar a pena é através da materialização do processo criminal, exigindo-se a atuação do Estado-acusação.
O princípio da obrigatoriedade da ação penal significa não ter o órgão acusatório, nem tampouco o encarregado da investigação, a faculdade de investigar e buscar a punição do autor da infração penal, mas o dever de fazê-lo. Ocorrida a infração penal, ensejadora de ação pública incondicionada, deve a autoridade policial investigá-la e, em seguida, havendo elementos (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), é obrigatório que o representante do Ministério Público apresente denúncia.
Não há, como regra, no Brasil, o princípio da oportunidade no processo penal, que condicionaria o ajuizamento da ação penal ao critério discricionário do órgão acusatório – exceção feita à ação privada e à pública condicionada. Ressalte-se que, neste último caso, trata-se da incidência de ambos os princípios, ou seja, oportunidade para o oferecimento da representação e obrigatoriedade quando o Ministério Público a obtém.
Como decorrência desse princípio temos o da indisponibilidade da ação penal, significando que, uma vez ajuizada, não pode dela desistir o promotor de justiça (art. 42, CPP). Logicamente, hoje, já existem exceções, abrandando o princípio da obrigatoriedade, tal como demonstra a suspensão condicional do processo, instituto criado pela Lei 9.099/95, bem como a possibilidade de transação penal, autorizada pela própria Constituição (art. 98, I).
Ainda quanto à obrigatoriedade da ação penal pública, não se deve esquecer do disposto no art. 27 do Código de Processo Penal, estipulando que qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações e dados suficientes sobre o crime e sua autoria.
Por outro lado, o sistema processual penal prevê mecanismos de acompanhamento da atividade da autoridade policial, permitindo ao Ministério Público o controle externo da polícia e ao magistrado a fiscalização do andamento do inquérito. Ademais, findo o inquérito, se o promotor pretender arquivá-lo, deve submeter o seu pleito ao juiz que, não concordando, pode invocar a atuação do Procurador-Geral de Justiça. Em suma, busca-se a propositura da ação, desde que provas suficientes existam.
Expressa ser a persecução penal uma função primordial e obrigatória do Estado. As tarefas de investigar, processar e punir o agente do crime cabem aos órgãos constituídos do Estado, através da polícia judiciária, do Ministério Público e do Poder Judiciário.
A Constituição Federal assenta as funções de cada uma das instituições encarregadas de verificar a infração penal, possibilitando a aplicação da sanção cabível. À polícia judiciária cumpre investigar (art. 144, § 1.°, I, II, IV, e § 4.°); ao Ministério Público cabe ingressar com a ação penal e provocar a atuação da polícia, requisitando diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, fiscalizando-a (art. 129, I e VIII); ao Poder Judiciário cumpre a tarefa de aplicar o direito ao caso concreto (art. 92 e ss.).
Não há possibilidade de se entregar ao particular a tarefa de exercer qualquer tipo de atividade no campo penal punitivo. Tanto é realidade que o ofendido pode ajuizar ação penal privada, substituindo o Estado, mas, havendo condenação definitiva, não lhe cabe promover a execução do julgado (quando se faz valer a punição). É tarefa do Ministério Público.
Assegura que a ação penal não deve transcender da pessoa a quem foi imputada a conduta criminosa. É decorrência natural do princípio penal de que a responsabilidade é pessoal e individualizada, não podendo dar-se sem dolo e sem culpa (princípio penal da culpabilidade, ou seja, não pode haver crime sem dolo e sem culpa), motivo pelo qual a imputação da prática de um delito não pode ultrapassar a pessoa do agente, envolvendo terceiros, ainda que possam ser consideradas civilmente responsáveis pelo delinquente. Exemplo disso seria denunciar o patrão porque o empregado, dirigindo veículo da empresa de forma imprudente, atropelou e causou a morte de alguém. Civilmente, é responsável pelo ato do preposto; jamais criminalmente.
Demonstra que não se pode processar alguém duas vezes com base no mesmo fato, impingindo-lhe dupla punição (ne bis in idem). Seria ofensa direta ao princípio constitucional da legalidade penal (não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem lei anterior que a comine), pois a aplicação de uma sanção penal exclui, como decorrência lógica, a possibilidade de novamente sancionar o agente pelo mesmo fato. Afinal, o tipo penal é um só, não existindo possibilidade de se duplicar a sanção.
Por outro lado, seria nitidamente lesivo à dignidade da pessoa humana ser ela punida duas vezes pela mesma conduta, o que evidenciaria não ter fim o poder estatal, firmando autêntico abuso de direito.
Ademais, se for absolvido, outro processo, com base no mesmo fato, firmaria igual abuso. Nesse ponto, cuida-se de previsão feita no art. 8.°, 4, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (aprovada pelo Decreto 678/92): “O acusado absolvido por sentença transitada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos”. Logo, esse preceito deve ser considerado assimilado constitucionalmente pela via do art. 5.°, § 2.°, da Constituição Federal.
Conecta-se com o princípio penal da vedação da dupla punição em relação ao mesmo fato.
A análise desse princípio inicia-se pelo conceito de verdade, que é sempre relativa, até findar com a conclusão de que há impossibilidade real de se extrair, nos autos, o fiel retrato da realidade do crime. Ensina MALATESTA que a verdade é a “conformidade da noção ideológica com a realidade” e que a certeza é a crença nessa conformidade, gerando um estado subjetivo do espírito ligado a um fato, sendo possível que essa crença não corresponda à verdade objetiva. Portanto, pode-se afirmar que “certeza e verdade nem sempre coincidem; por vezes, duvida-se do que objetivamente é verdadeiro; e a mesma verdade que parece certa a um, a outros parece por vezes duvidosa quiçá até mesmo falsa a outros ainda” (A lógica das provas em matéria criminal, v. 1, p. 22).
Diante disso, jamais, no processo, pode assegurar o juiz ter alcançado a verdade objetiva, aquela que corresponde perfeitamente com o acontecido no plano real. Tem, isto sim, o magistrado uma crença segura na verdade que transparece através das provas colhidas e, por tal motivo, condena ou absolve. Logo, tratando do mesmo tema, já tivemos a oportunidade de escrever o seguinte: “Material ou real é a verdade que mais se aproxima da realidade. Aparentemente, trata-se de um paradoxo dizer que pode haver uma verdade mais próxima da realidade e outra menos. Entretanto, como vimos, o próprio conceito de verdade é relativo, de forma que é impossível falar em verdade absoluta ou ontológica, mormente no processo, julgado e conduzido por homens, perfeitamente falíveis em suas análises e cujos instrumentos de busca do que realmente aconteceu podem ser insuficientes. Ainda assim, falar em verdade real implica provocar no espírito do juiz um sentimento de busca, de inconformidade com o que lhe é apresentado pelas partes, enfim, um impulso contrário à passividade. Afinal, estando em jogo direitos fundamentais do homem, tais como liberdade, vida, integridade física e psicológica e até mesmo honra, que podem ser afetados seriamente por uma condenação criminal, deve o juiz sair em busca da verdade material, aquela que mais se aproxima do que realmente aconteceu” (NUCCI, O valor da confissão como meio de prova no processo penal, p. 65).
Podemos completar com a lição de ROGÉRIO LAURIA TUCCI acerca de verdade material: “trata-se, com efeito, de atividade concernente ao poder instrutório do magistrado, imprescindível à formação de sua convicção, de que, inequivocamente, se faz instrumento; e à qual se agrega, em múltiplas e variadas circunstâncias, aquela resultante do poder acautelatório, por ele desempenhado para garantir o desfecho do processo criminal” (Do corpo de delito no direito processual penal brasileiro, p. 88).
O princípio da verdade real significa, pois, que o magistrado deve buscar provas, tanto quanto as partes, não se contentando com o que lhe é apresentado, simplesmente. Note-se o disposto nos arts. 209 (“o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes”, grifamos), 234 (“se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível”, grifo nosso), 147 (“o juiz poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade”, grifamos), 156 (“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante”, grifamos), 566 (“não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”, destaque nosso) do Código de Processo Penal, ilustrativos dessa colheita de ofício e da expressa referência à busca da verdade real.
Contrariamente à verdade formal, inspiradora do processo civil, pela qual o juiz não está obrigado a buscar provas, mormente em ações de conteúdo exclusivamente patrimonial, que constitui interesse disponível, contentando-se com a trazida pelas partes e extraindo sua conclusão com o que se descortina nos autos, a verdade real vai além: quer que o magistrado seja coautor na produção de provas. Esse princípio muitas vezes inspira o afastamento da aplicação literal de preceitos legais. Exemplo disso é o que ocorre quando a parte deseja ouvir mais testemunhas do que lhe permite a lei. Invocando a busca da verdade real, pode obter do magistrado a possibilidade de fazê-lo.
Sabemos, no entanto, que a doutrina vem tornando relativo o princípio da busca da verdade formal no processo civil, mencionando vários dispositivos do Código de Processo Civil que imporiam ao magistrado o dever de buscar a prova da verdade tanto quanto as partes. Expõe Marco Antonio de Barros, cuidando do processo civil, que “todas essas regras processuais” – fazendo menção aos arts. 130, 342, 355 e 440 do Código de Processo Civil – “constituem providências que melhor se encaixam à estrutura do princípio da verdade material, sobretudo pela previsão de diligências investigativas que podem ser ordenadas pelo juiz ex officio, isto é, independentemente da iniciativa ou vontade das partes. A lei confere ao julgador a faculdade de aplicá-las em qualquer processo. Isto revela, mais uma vez, a tendência publicista do Direito processual moderno, que se destina a produzir a efetivação da justiça, em cujo contexto inclui-se a providencial intervenção do juiz durante a instrução do processo, realizada com o propósito de garantir a paz social” (A busca da verdade no processo penal, p. 33). Contrariando, igualmente, a distinção entre verdade material e verdade formal, Gustavo Badaró afirma que ambas não são verdades absolutas, logo essas expressões serviriam apenas para distinguir graus de aproximação daquela “verdade absoluta e intangível”. Ainda assim, o conceito de verdade seria uno e não comportaria adjetivações (Ônus da prova no processo penal, p. 31-36).
Porém, esclarecem ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA e CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO o seguinte: “No processo penal sempre predominou o sistema da livre investigação de provas. Mesmo quando, no processo civil, se confiava exclusivamente no interesse das partes para o descobrimento da verdade, tal critério não poderia ser seguido nos casos em que o interesse público limitasse ou excluísse a autonomia privada. Isso porque, enquanto no processo civil em princípio o juiz pode satisfazer-se com a verdade formal (ou seja, aquilo que resulta ser verdadeiro em face das provas carreadas aos autos), no processo penal o juiz deve atender à averiguação e ao descobrimento da verdade real (ou verdade material), como fundamento da sentença” (Teoria geral do processo, p. 71).
Não questionamos que a verdade é una e sempre relativa, consistindo busca inviável, no processo, encontrar a realidade dos fatos tal como ocorreram. A verdade é apenas uma noção ideológica da realidade, motivo pelo qual o que é verdadeiro para uns, não o é para outros. O que a distinção almeja atingir é a demonstração de finalidades diversas existentes nos âmbitos civil e penal do processo. Enquanto na esfera cível o magistrado é mais um espectador da produção da prova, no contexto criminal, deve atuar como autêntico copartícipe na busca dos elementos probatórios. Nem se diga que o juiz introduz no feito meios de prova, enquanto as partes buscam as fontes de prova, porque tal distinção (entre meios e fontes), em nosso entender, cuida-se de mero eufemismo (já tivemos oportunidade de desenvolver esse tema em nosso O valor da confissão como meio de prova no processo penal, p. 165-167). Nessa esteira, BENEDITO ROBERTO GARCIA POZZER explica que “no processo penal, diferentemente, dada a indisponibilidade dos direitos em confronto, deve-se buscar a verdade dos fatos o mais próximo da realidade acontecida. O julgador não pode contentar-se com a verdade apresentada pelas partes. Ao contrário, busca, incansavelmente, os verdadeiros fatos, encontrando limites, somente, na moral e legalidade das provas” (Correlação entre acusação e sentença no processo penal brasileiro, p. 40).
Além disso, a realidade nos demonstra que o juiz, exercendo suas atividades em Vara Cível, tem nitidamente menor preocupação em produzir provas de ofício, especialmente quando cuida de interesses patrimoniais, aguardando a atitude positiva das partes nesse sentido. Por outro lado, na esfera criminal, ainda que o réu admita o teor da acusação, o juiz determinará a produção de provas, havendo um cuidado maior para não levar ao cárcere um inocente, visto que estão em jogo, sempre, interesses indisponíveis.
Vale ressaltar que verdade formal é a que emerge no processo, conforme os argumentos e as provas trazidas pelas partes. Exemplo maior disso é o que ocorre no processo civil, quando o réu não contesta a ação, da qual foi devidamente cientificado: pode o magistrado julgar antecipadamente a lide, dando ganho de causa ao autor, por reputar verdadeiros, porque não controversos, os fatos alegados na inicial (arts. 319 e 330, II, CPC).
Tal situação jamais ocorre no processo penal, no qual prevalece a verdade real, que é a situada o mais próximo possível da realidade. Não se deve contentar o juiz com as provas trazidas pelas partes, mormente se detectar outras fontes possíveis de buscá-las.
Finalmente, deve-se destacar que a busca da verdade material não quer dizer a ilimitada possibilidade de produção de provas, pois há vedações legais que necessitam ser respeitadas, como, por exemplo, a proibição da escuta telefônica, sem autorização judicial.
A palavra oral deve prevalecer, em algumas fases do processo, sobre a palavra escrita, buscando enaltecer os princípios da concentração, da imediatidade e da identidade física do juiz. Explica PEDRO HENRIQUE DEMERCIAN que a adoção desse princípio, como regra no processo penal, seria a “grande solução para a agilização dos procedimentos criminais e, até mesmo, a maneira mais viável para a apuração da verdade real – na qual há fulcrar-se todo o processo penal – e a forma de se prestar com maior equidade e justeza a tutela jurisdicional” (A oralidade no processo penal brasileiro, p. 50).
Os princípios só se consolidavam no julgamento em plenário do Tribunal do Júri, quando se dava o predomínio da palavra oral sobre a escrita e todos os atos eram realizados de forma concentrada, julgando os jurados logo após terem acompanhado a colheita da prova.
Atualmente, com a edição das Leis 11.689/2008 e 11.719/2008, consolidam-se os princípios da oralidade, da concentração, da imediatidade e da identidade física do juiz (arts. 399, § 2.°, 400, § 1.°, 411, § 2.°, CPP).
Os princípios que decorrem da oralidade são os seguintes: concentração (toda a colheita da prova e o julgamento devem dar-se em uma única audiência ou no menor número delas); imediatidade (o magistrado deve ter contato direto com a prova produzida, formando mais facilmente sua convicção); identidade física do juiz (o magistrado que preside a instrução, colhendo as provas, deve ser o que julgará o feito, vinculando-se à causa). RENÉ ARIEL DOTTI ressalta que “o princípio da identidade física, portanto, assenta numa das magnas exigências do processo penal, situando-se em plano superior às condições da ação e muitos outros pressupostos de validade da relação processual” (Bases e alternativas para o sistema de penas, p. 418).
Significa que não pode o ofendido, ao valer-se da queixa-crime, eleger contra qual dos seus agressores – se houver mais de um – ingressará com ação penal. Esta é indivisível. Se o Estado lhe permitiu o exercício do direito de ação – lembrando-se sempre que o direito de punir é monopólio estatal e não é transmitido ao particular nesse caso – torna-se natural a exigência de que não escolha quem será acusado, evitando-se barganhas indevidas e vinganças mesquinhas contra um ou outro.
Por isso, o art. 48 do Código de Processo Penal preceitua que a queixa contra um dos autores do crime obrigará ao processo de todos, zelando o Ministério Público para que o princípio da indivisibilidade seja respeitado. Este princípio somente ocorre com destaque na ação penal privada, regida que é pelo critério da oportunidade. Não há o menor sentido em se sustentar a prevalência da indivisibilidade também na ação penal pública, pois esta é norteada pela obrigatoriedade. Assim, quando o promotor toma conhecimento de quais são os autores do crime, deve ingressar com ação penal contra todos, não porque a ação penal pública é indivisível, mas porque é obrigatória. Nessa ótica, confira-se a lição de AFRÂNIO SILVA JARDIM: “A indivisibilidade da ação penal pública é uma consequência lógica e necessária do princípio da obrigatoriedade, podendo-se dizer que este abrange aquele outro princípio” (Ação penal pública, p. 136).
Significa que a prova, ainda que produzida por iniciativa de uma das partes, pertence ao processo e pode ser utilizada por todos os participantes da relação processual, destinando-se a apurar a verdade dos fatos alegados e contribuindo para o correto deslinde da causa pelo juiz.
Realmente, não há titular de uma prova, mas mero proponente. As testemunhas de acusação, por exemplo, não são arroladas pelo promotor unicamente para prejudicar o réu; do mesmo modo, as testemunhas de defesa não estão obrigadas a prestar declarações integralmente favoráveis ao acusado. Inserida no processo, a prova tem a finalidade de evidenciar a verdade real, não mais servindo ao interesse de uma ou de outra parte.
Uma vez iniciada a ação penal, por iniciativa do Ministério Público ou do ofendido, deve o juiz movimentá-la até o final, conforme o procedimento previsto em lei, proferindo decisão.
Liga-se, basicamente, aos princípios da obrigatoriedade e da indeclinabilidade da ação penal, que prevê o exercício da função jurisdicional, até sentença final, sem que o magistrado possa furtar-se a decidir, bem como vedando-se a desistência da ação penal pelo Ministério Público.
Impede-se, com isso, a paralisação indevida e gratuita da ação penal, incompatível com o Estado democrático de Direito, pois o processo fica em aberto, caso as partes não provoquem o seu andamento, havendo prejuízo para a sociedade, que deseja ver apurada a infração penal e seu autor, e também ao réu, contra quem existe processo criminal em andamento, configurando constrangimento natural. Registre-se o disposto no art. 251 do Código de Processo Penal: “Ao juiz incumbirá prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública” (grifamos).
Notemos que, também no caso de ação penal privada, regida pelo princípio da oportunidade, prevalece o impulso oficial, não se admitindo a paralisação do feito, sob pena de perempção, julgando-se extinta a punibilidade do acusado (art. 60, CPP). Justifica-se tal postura pelo fato de que a ação penal, embora de natureza privada e de livre propositura pelo ofendido, quando ajuizada, não pode perpetuar-se, sob pena de servir de constrangimento indefinido ao querelado.
Significa que o juiz forma o seu convencimento de maneira livre, embora deva apresentá-lo de modo fundamentado ao tomar decisões no processo. Trata-se da conjunção do disposto no art. 93, IX, da Constituição (“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade...”, grifamos) com os arts. 155, caput (“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova...”) e 381, III (“a sentença conterá: (...) III – a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão”) do Código de Processo Penal.
Exceções à regra certamente existem. A primeira delas encontra-se no Tribunal do Júri, onde os jurados decidem a causa livremente, sem apresentar suas razões, pois a votação é sigilosa e eles permanecem incomunicáveis até o fim da sessão. A outra diz respeito a determinadas normas processuais, que impõem um específico modo de provar algo, não permitindo ao juiz que forme livremente sua convicção. Exemplos: a) a inimputabilidade do agente depende, necessariamente, de exame pericial, pois somente o médico pode atestar a existência de doença mental; b) os crimes que deixam vestígios materiais demandam a realização de exame pericial; c) prova-se a morte do agente, para fim de extinção da punibilidade, com a apresentação da certidão de óbito.
Cuida-se de decorrência lógica do princípio constitucional implícito do duplo grau de jurisdição, significando que a parte tem o direito de, recorrendo a uma instância superior ao primeiro grau de jurisdição, obter um julgamento proferido por órgão colegiado. A ideia é promover a reavaliação por um grupo de magistrados, não mais se entregando a causa a um juiz único. Esta já foi a tarefa do magistrado de primeira instância, que, como regra, recebe a peça acusatória, instrui o feito, profere as decisões necessárias para a colheita da prova e determina as medidas cautelares de urgência. Após, prolatando sua sentença – condenatória ou absolutória – em função de sua persuasão racional, não teria sentido haver um recurso para que outro juiz, isoladamente, sem debater a causa, reavaliasse a decisão de seu colega.
Não importaria, simplesmente, alegar que o recurso seguiria a um magistrado mais antigo e, em tese, mais experiente e erudito, pois o relevante consiste em proporcionar a discussão de teses, a contraposição de ideias, enfim, o nobre exercício do convencimento e da evolução da aplicação do Direito. Somente em um colegiado há debate. O juiz, em sua atividade individual, reflete e chega a um veredicto, porém, inexiste a troca de ideias e experiências. O foco do processo é um só, pois há somente um magistrado avaliando. Por mais que leia e se informe, captará a realidade processual por um ângulo exclusivo.
A meta consistente em se manter as principais e derradeiras decisões em órgãos jurisdicionais colegiados é salutar e positiva, constituindo um princípio processual dos mais proeminentes. É o que se pode verificar em julgamentos coletivos quando um componente de determinada turma, câmara ou plenário altera seu voto ao ouvir a exposição de outro magistrado. Nada mais ilustrativo; nada mais criativo; nada mais do que a demonstração de respeito aos interesses colocados em litígio. Em especial, no contexto criminal, onde direitos fundamentais, como a liberdade, estão quase sempre em jogo.
Nesse prisma, confira-se decisão do Supremo Tribunal Federal: “Por vislumbrar ofensa ao princípio da colegialidade, a Turma deferiu, parcialmente, habeas corpus para cassar decisão monocrática proferida por Ministro do STJ que denegara idêntica medida impetrada em favor de condenado pela suposta prática dos crimes de estupro e de atentado violento ao pudor contra suas filhas, bem como de tortura contra seu filho. Considerou-se incabível o julgamento monocrático, porquanto o relator concluíra pela inexistência do alegado constrangimento ilegal a partir do exame do mérito da causa, quando analisara questões referentes à extinção da punibilidade pela decadência do direito de ação e à dosimetria da pena. Asseverou-se que o regimento interno daquela Corte (art. 34, XVIII) apenas autoriza esse julgamento quando o recurso for manifestamente intempestivo, incabível, improcedente, quando contrário à súmula do Tribunal, ou, ainda, quando for evidente a incompetência deste. Determinou-se, por fim, o retorno dos autos ao STJ para que o julgamento seja submetido ao colegiado. Precedente citado: HC 87.163/MG (DJU de 13.10.2006)” (HC 90.427-GO, 2.a T., rel. Joaquim Barbosa, 19.06.2007, v. u., Informativo 472).
 Síntese
Síntese
Princípio jurídico: é um postulado que se irradia por todo o sistema de normas, fornecendo um padrão de interpretação, integração, conhecimento e aplicação do direito positivo, estabelecendo uma meta maior a seguir.
Dignidade da pessoa humana: é um princípio regente, base e meta do Estado Democrático de Direito, regulador do mínimo existencial para a sobrevivência apropriada, a ser garantido a todo ser humano, bem como o elemento propulsor da respeitabilidade e da autoestima do indivíduo nas relações sociais.
Devido processo legal: cuida-se de princípio regente, com raízes no princípio da legalidade, assegurando ao ser humano a justa punição, quando cometer um crime, precedida do processo penal adequado, o qual deve respeitar todos os princípios penais e processuais penais.
Presunção de inocência: significa que todo indivíduo é considerado inocente, como seu estado natural, até que ocorra o advento de sentença condenatória com trânsito em julgado.
Prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo): em caso de razoável dúvida, no processo penal, deve sempre prevalecer o interesse do acusado, pois é a parte que goza da presunção de inocência.
Imunidade à autoacusação: significa que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere), já que o estado natural do ser humano é de inocência, até prova em contrário, produzida pelo Estado-acusação, advindo sentença penal irrecorrível. Daí decorre, por óbvio, o direito de permanecer em silêncio, seja na polícia ou em juízo.
Ampla defesa: o réu deve ter a mais extensa e vasta possibilidade de provar e ratificar o seu estado de inocência, em juízo, valendo-se de todos os recursos lícitos para tanto.
Plenitude de defesa: cuida-se de um reforço à ampla defesa, que se dá no contexto do Tribunal do Júri, para assegurar ao réu a mais perfeita defesa possível, garantindo-se rígido controle da qualidade do aspecto defensivo, visto estar o acusado diante de jurados leigos, que decidem, sigilosamente, sem motivar seu veredicto.
Contraditório: a parte, no processo, tem o direito de tomar conhecimento e rebater as alegações fáticas introduzidas pelo adversário, além de ter a possibilidade de contrariar as provas juntadas, manifestando-se de acordo com seus próprios interesses.
Juiz natural e imparcial: toda pessoa tem o direito inafastável de ser julgada, criminalmente, por um juízo imparcial, previamente constituído por lei, de modo a eliminar a possibilidade de haver tribunal de exceção.
Iniciativa das partes: assegurando-se a imparcialidade do juiz, cabe ao Ministério Público e, excepcionalmente, ao ofendido, a iniciativa da ação penal.
Publicidade: significa que os julgamentos e demais atos processuais devem ser realizados e produzidos, como regra, publicamente, possibilitando-se o acompanhamento de qualquer pessoa, a fim de garantir a legitimidade e a eficiência do Poder Judiciário.
Vedação das provas ilícitas: consagrando-se a busca pelo processo escorreito e ético, proíbe-se a produção de provas ilícitas, constituídas ao arrepio da lei, com o fim de produzir efeito de convencimento do juiz, no processo penal.
Economia processual: é direito individual a obtenção da razoável duração do processo, combatendo-se a lentidão do Poder Judiciário, visto que a celeridade é uma das metas da consecução de justiça.
Duração razoável da prisão cautelar: a liberdade é a regra, no Estado Democrático de Direito, constituindo a prisão, exceção. Por isso, quando se concretiza a prisão cautelar, torna-se fundamental garantir a máxima celeridade, pois se está encarcerando pessoa considerada inocente, até prova definitiva em contrário.
Sigilo das votações: cuida-se de tutela específica do Tribunal do Júri, buscando-se assegurar a livre manifestação do jurado, na sala secreta, quando vota pela condenação ou absolvição do réu, fazendo-o por intermédio de voto indevassável.
Soberania dos veredictos: considerando-se que o Tribunal Popular não é órgão consultivo, torna-se essencial assegurar a sua plenitude, quanto à decisão de mérito. Nenhum órgão do Poder Judiciário togado pode sobrepor-se à vontade do povo, em matéria criminal, pertinente ao júri.
Competência para os crimes dolosos contra a vida: garantindo-se a competência mínima, sob mando constitucional, ao Tribunal do Júri, dele não se pode subtrair o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, que são basicamente os seguintes: homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto.
Legalidade estrita da prisão cautelar: significa que a prisão processual ou provisória constitui uma exceção, pois é destinada a encarcerar pessoa ainda não definitivamente julgada e condenada; demanda, então, estrita observância de todas as regras constitucional e legalmente impostas para a sua concretização e manutenção.
Duplo grau de jurisdição: no processo penal, todo acusado tem o direito de recorrer a instância superior, obtendo, ao menos, uma segunda possibilidade de julgamento, confirmando ou reformando a decisão tomada em primeiro grau. Cuida-se de autêntica segunda chance para alcançar a mantença do estado de inocência.
Promotor natural e imparcial: não somente o órgão estatal julgador deve ser imparcial, pois o Estado-acusação cumpre papel de destaque na apuração e punição dos crimes, razão pela qual se espera uma atuação justa e desvinculada de interesses escusos e partidários.
Obrigatoriedade da ação penal: trata-se de princípio ligado à ação penal pública, em que a titularidade cabe ao Ministério Público, instituição fundamental à realização de justiça. Consagrando-se a atuação imparcial do Estado-acusação, é obrigatório o ajuizamento de ação penal, quando há provas suficientes para tanto.
Indisponibilidade da ação penal: é o corolário natural da obrigatoriedade da ação penal pública, pois, uma vez ajuizada, não mais se pode dela desistir, devendo o Estado-acusação levar até o fim a pretensão punitiva, obtendo-se uma decisão de mérito definitiva.
Oficialidade: significa que o monopólio punitivo é exclusivo do Estado, motivo pelo qual os atos processuais são oficiais e não há qualquer possibilidade de justiça privada na seara criminal.
Intranscendência: quer dizer que nenhuma acusação pode ser feita a pessoa que não seja autora de infração penal; conecta-se com os princípios penais da responsabilidade pessoal e da culpabilidade.
Vedação do duplo processo pelo mesmo fato (bis in idem): é a garantia de que ninguém pode ser processado duas ou mais vezes com base em idêntica imputação, o que implicaria em claro abuso estatal e ofensa à dignidade humana.
Busca da verdade real: no processo penal, impera a procura pela verdade (noção ideológica da realidade) mais próxima possível do que, de fato, aconteceu, gerando o dever das partes e do juiz de buscar a prova, sem posição inerte ou impassível.
Oralidade: significa que a palavra oral deve prevalecer sobre a escrita, produzindo celeridade na realização dos atos processuais e diminuindo a burocracia para o registro das ocorrências ao longo da instrução.
Concentração: almeja-se que a instrução processual seja centralizada numa única audiência ou no menor número delas, a ponto de gerar curta duração para o processo.
Imediatidade: significa que o juiz deve ter contato direto com a prova colhida, em particular, com as testemunhas, de modo a formar o seu convencimento mais facilmente.
Identidade física do juiz: interligando-se com a busca da verdade real, demanda-se que o magistrado encarregado de colher a prova seja o mesmo a julgar a ação, pois teve contato direto com as partes e as testemunhas.
Indivisibilidade da ação penal privada: constituindo a ação punitiva um monopólio do Estado, quando se transfere ao ofendido a possibilidade de ajuizar a ação penal privada, deve fazê-lo contra todos os coautores, não podendo eleger uns em detrimento de outros.
Comunhão da prova: significa que a prova produzida, nos autos, pela acusação e pela defesa, é comum ao resultado da demanda, fornecendo todos os elementos necessários à formação do convencimento do julgador.
Impulso oficial: cabe ao juiz a condução do processo criminal, jamais permitindo a indevida e injustificada paralisação do curso da instrução.
Persuasão racional: é o sistema de avaliação das provas escolhido pela legislação processual penal, em que o juiz forma o seu convencimento pela livre apreciação das provas coletadas, desde que o faça de maneira motivada.
Colegialidade: significa que os órgãos judiciais superiores, que servem para concretizar o duplo grau de jurisdição, devem ser formados por colegiados, não mais permitindo que uma decisão de mérito seja tomada por um magistrado único.