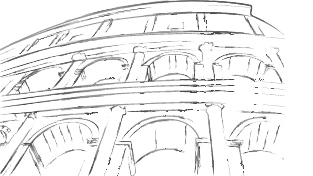
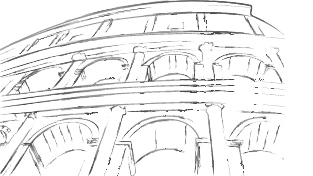 |
1 |
Sumário: 1.1. Conceito – 1.2. Equivalentes jurisdicionais: 1.2.1. Autotutela; 1.2.2. Autocomposição; 1.2.3. Mediação; 1.2.4. Arbitragem – 1.3. Escopos da jurisdição – 1.4. Características principais: 1.4.1. Caráter substitutivo; 1.4.2. Lide; 1.4.3. Inércia; 1.4.4. Definitividade – 1.5. Princípios da jurisdição: 1.5.1. Investidura; 1.5.2. Territorialidade (aderência ao território); 1.5.3. Indelegabilidade; 1.5.4. Inevitabilidade; 1.5.5. Inafastabilidade; 1.5.6. Juiz natural; 1.5.7. Promotor natural – 1.6. Espécies de jurisdição: 1.6.1. Jurisdição penal ou civil; 1.6.2. Jurisdição superior ou inferior; 1.6.3. Jurisdição comum e especial – 1.7. Jurisdição voluntária: 1.7.1. Características; 1.7.2. Natureza jurídica – 1.8. Tutela jurisdicional; 1.8.1. Espécie de crise jurídica; 1.8.2. Natureza jurídica dos resultados jurídico-materiais; 1.8.3. Coincidência de resultados com a satisfação voluntária; 1.8.4. Espécie de técnicas procedimentais; 1.8.5. Cognição vertical (profundidade); 1.8.6. Sistema processual.
A jurisdição pode ser entendida como a atuação estatal visando a aplicação do direito objetivo ao caso concreto, resolvendo-se com definitividade uma situação de crise jurídica e gerando com tal solução a pacificação social. Note-se que neste conceito não consta o tradicional entendimento de que a jurisdição se presta a resolver um conflito de interesses entre as partes, substituindo suas vontades pela vontade da lei. Primeiro porque nem sempre haverá conflito de interesses a ser resolvido, e segundo porque nem sempre a atividade jurisdicional substituirá a vontade das partes, conforme será devidamente analisado em momento oportuno.
Há doutrina que prefere analisar a jurisdição sob três aspectos distintos: poder, função e atividade1. O poder jurisdicional é o que permite o exercício da função jurisdicional que se materializa no caso concreto por meio da atividade jurisdicional. Essa intersecção é natural e explicável por tratar-se de um mesmo fenômeno processual, mas, ainda assim, é interessante a análise conforme sugerido porque com isso tem-se uma apuração terminológica sempre bem-vinda. É importante não confundir as expressões “poder jurisdicional”, “função jurisdicional” e “atividade jurisdicional”.
Entendida como poder, a jurisdição representa o poder estatal de interferir na esfera jurídica dos jurisdicionados, aplicando o direito objetivo ao caso concreto e resolvendo a crise jurídica que os envolve. Há tempos se compreende que o poder jurisdicional não se limita a dizer o direito (juris-dicção), mas também de impor o direito (juris-satisfação). Realmente de nada adiantaria a jurisdição dizer o direito, mas não reunir condições para fazer valer esse direito concretamente. Note-se que a jurisdição como poder é algo que depende essencialmente de um Estado organizado e forte o suficiente para interferir concretamente na esfera jurídica de seus cidadãos.
Tradicionalmente a jurisdição (juris-dicção) era entendida como a atuação da vontade concreta do direito objetivo (Chiovenda), sendo que a doutrina se dividia entre aqueles que entendiam que essa atuação derivava da sentença fazer concreta a norma geral (Carnelutti) ou criar uma norma individual com base na regra geral (Kelsen). Contemporaneamente, notou-se que tais formas de enxergar a jurisdição estavam fundadas em um positivismo acrítico e no princípio da supremacia da lei, o que não mais atendia as exigências de justiça do mundo atual. Dessa forma, autorizada doutrina passa a afirmar que a jurisdição deveria se ocupar da criação no caso concreto da norma jurídica, resultado da aplicação da norma legal à luz dos direitos fundamentais e dos princípios constitucionais de justiça. Reconhece ainda essa nova visão da jurisdição que não adianta somente a edição da norma jurídica (juris-dicção), sendo necessário tutelar concretamente o direito material, o que se fará pela execução (juris-satisfação)2.
Como função, a jurisdição é o encargo atribuído pela Constituição Federal, em regra, ao Poder Judiciário – função típica – e, excepcionalmente, a outros Poderes – função atípica – de exercer concretamente o poder jurisdicional. A função jurisdicional não é privativa do Poder Judiciário, como se constata nos processos de impeachment do Presidente da República realizados pelo Poder Legislativo (arts. 49, IX, e 52, I, da CF), ou nas sindicâncias e processos administrativos conduzidos pelo Poder Executivo (art. 41, § 1.º, II, da CF), ainda que nesses casos não haja definitividade. Também o Poder Judiciário não se limita ao exercício da função jurisdicional, exercendo de forma atípica – e bem por isso excepcional – função administrativa (p. ex., organização de concursos públicos) e legislativa (p. ex. elaboração de Regimentos Internos de tribunais)3.
Como atividade, a jurisdição é o complexo de atos praticados pelo agente estatal investido de jurisdição no processo. A função jurisdicional se concretiza por meio do processo, forma que a lei criou para que tal exercício se fizesse possível. Na condução do processo, o Estado, ser inanimado que é, investe determinados sujeitos do poder jurisdicional para que possa, por meio da prática de atos processuais, exercerem concretamente tal poder. Esse sujeito é o juiz de direito, que por representar o Estado no processo é chamado de “Estado-juiz”.
O Estado não tem, por meio da jurisdição, o monopólio da solução dos conflitos, sendo admitidas pelo Direito outras maneiras pelas quais as partes possam buscar uma solução do conflito em que estão envolvidas. São chamadas de equivalentes jurisdicionais ou de formas alternativas de solução dos conflitos. Há quatro espécies reconhecidas por nosso direito: autotutela, autocomposição, mediação e arbitragem.
É a forma mais antiga de solução dos conflitos, constituindo-se fundamentalmente pelo sacrifício integral do interesse de uma das partes envolvida no conflito em razão do exercício da força pela parte vencedora. Por “força” deve-se entender qualquer poder que a parte vencedora tenha condições de exercer sobre a parte derrotada, resultando na imposição de sua vontade. O fundamento dessa força não se limita ao aspecto físico, podendo-se verificar nos aspectos afetivo, econômico, religioso etc.
É evidente que uma solução de conflitos resultante do exercício da força não é a forma de solução de conflitos que se procura prestigiar num Estado democrático de direito. Aliás, pelo contrário, a autotutela lembra as sociedades mais rudimentares, nas quais a força era sempre determinante para a solução dos conflitos, pouco importando de quem era o direito objetivo no caso concreto. Como, então, a autotutela continua a desempenhar papel de equivalente jurisdicional ainda nos tempos atuais?
Primeiro, é preciso observar que a autotutela é consideravelmente excepcional, sendo raras as previsões legais que a admitem. Como exemplos, é possível lembrar a legítima defesa (art. 188, I, do CC); apreensão do bem com penhor legal (art. 1.467, I, do CC); desforço imediato no esbulho (art. 1.210, § 1.º, do CC). A justificativa é de que o Estado não é onipresente, sendo impossível estar em todo lugar e a todo momento para solucionar violações ou ameaças ao direito objetivo, de forma que em algumas situações excepcionais é mais interessante ao sistema jurídico, diante da ausência do Estado naquele momento, a solução pelo exercício da força de um dos envolvidos no conflito.
Segundo, e mais importante, a autotutela é a única forma de solução alternativa de conflitos que pode ser amplamente revista pelo Poder Judiciário, de modo que o derrotado sempre poderá judicialmente reverter eventuais prejuízos advindos da solução do conflito pelo exercício da força de seu adversário. Trata-se, portanto, de uma forma imediata de solução de conflitos, mas que não recebe os atributos da definitividade, sempre podendo ser revista jurisdicionalmente.
A autocomposição é uma interessante e cada vez mais popular forma de solução dos conflitos sem a interferência da jurisdição, estando fundada no sacrifício integral ou parcial do interesse das partes envolvidas no conflito mediante a vontade unilateral ou bilateral de tais sujeitos. O que determina a solução do conflito não é o exercício da força, como ocorre na autotutela, mas a vontade das partes, o que é muito mais condizente com o Estado democrático de direito em que vivemos. Inclusive é considerado atualmente um excelente meio de pacificação social porque inexiste no caso concreto uma decisão impositiva, como ocorre na jurisdição, valorizando-se a autonomia da vontade das partes na solução dos conflitos.
A autocomposição é um gênero, do qual são espécies a transação – a mais comum –, a submissão e a renúncia. Na transação há um sacrifício recíproco de interesses, sendo que cada parte abdica parcialmente de sua pretensão para que se atinja a solução do conflito. Trata-se do exercício de vontade bilateral das partes, visto que quando um não quer dois não fazem a transação. Na renúncia e na submissão o exercício de vontade é unilateral, podendo até mesmo ser consideradas soluções altruístas do conflito, levando em conta que a solução decorre de ato da parte que abre mão do exercício de um direito que teoricamente seria legítimo. Na renúncia, o titular do pretenso direito simplesmente abdica de tal direito, fazendo-o desaparecer juntamente com o conflito gerado por sua ofensa, enquanto na submissão o sujeito se submete à pretensão contrária, ainda que fosse legítima sua resistência.
Marina pretende obter 10, mas Aline só está disposta a pagar 5. Havendo um sacrifício recíproco, as partes podem se autocompor por qualquer valor entre 5 e 10 (transação). Marina, por outro lado, pode abdicar do direito de crédito de 10 (renúncia). Finalmente, Aline poderia, mesmo acreditando ser devedora de apenas 5, pagar a Marina os 10 cobrados (submissão).
Cumpre observar que, embora sejam espécies de autocomposição, e por tal razão formas de equivalentes jurisdicionais, a transação, a renúncia e a submissão podem ocorrer também durante um processo judicial, sendo que a submissão nesse caso é chamada de reconhecimento jurídico do pedido, enquanto a transação e a renúncia mantêm a mesma nomenclatura. Verificando-se durante um processo judicial, o juiz homologará por sentença de mérito a autocomposição (art. 269, II, III, V, do CPC), com formação de coisa julgada material. Nesse caso, é importante perceber que a solução do conflito deu-se por autocomposição, derivada da manifestação da vontade das partes, e não da aplicação do direito objetivo ao caso concreto (ou ainda da criação da norma jurídica), ainda que a participação homologatória do juiz tenha produzido uma decisão apta a gerar a coisa julgada material. Dessa forma, tem-se certa hibridez: substancialmente o conflito foi resolvido por autocomposição, mas formalmente, em razão da sentença judicial homologatória, há o exercício de jurisdição.
Atualmente nota-se um incremento na autocomposição, em especial na transação, o que segundo parcela significativa da doutrina representa a busca pela solução de conflitos que mais gera a pacificação social, uma vez que as partes, por sua própria vontade, resolvem o conflito e dele saem sempre satisfeitas. Ainda que tal conclusão seja bastante discutível, por desconsiderar no caso concreto as condições concretas que levaram as partes, ou uma delas, à autocomposição, é inegável que a matéria “está na moda”. Nesse tocante, é imprescindível que se tenha a exata noção de qual papel desempenham na autocomposição a negociação, a conciliação e a mediação.
Pela negociação as partes chegam a uma transação sem a intervenção de um terceiro, enquanto na conciliação há a presença de um terceiro (conciliador) que funcionará como intermediário entre as partes. O conciliador não tem o poder de decidir o conflito, mas pode desarmar os espíritos e levar as partes a exercer suas vontades no caso concreto para resolver o conflito de interesse.
A mediação é forma alternativa de solução de conflitos fundada no exercício da vontade das partes, mas não se confunde com a autocomposição, porque, enquanto nesta haverá necessariamente um sacrifício total ou parcial dos interesses da parte, naquela, a solução não traz qualquer sacrifício aos interesses das partes envolvidas no conflito. Para tanto, diferente do que ocorre na conciliação, a mediação não é centrada no conflito em si, mas sim em suas causas.
A mera perspectiva de uma solução de conflitos sem qualquer decisão impositiva e que preserve plenamente o interesse de ambas as partes envolvidas no conflito torna a mediação ainda mais interessante que a autocomposição em termos de geração de pacificação social.
Por outro lado, diferente do conciliador, o mediador não propõe soluções do conflito às partes, mas as conduz a descobrirem as suas causas de forma a possibilitar sua remoção e assim chegarem à solução do conflito. Portanto, as partes envolvidas chegam por si sós à solução consensual, tendo o mediador apenas a tarefa de induzi-las a tal ponto de chegada4. O sentimento de capacidade que certamente será sentido pelas partes também é aspecto que torna a mediação uma forma alternativa de solução de conflitos bastante atraente.
Numa ação de indenização por dano moral em razão de policial militar armado ser barrado no ingresso à agência bancária, o autor pretende obter R$ 10.000,00 e a instituição financeira não pretende pagar qualquer valor. O conciliador tentará convencer a instituição financeira a pagar algum valor e o policial a receber menos do que pretendia originariamente. Já o mediador oferecerá outras soluções como um pedido oficial de desculpas, a fixação de aviso em todas as portas de agências bancárias de como deve proceder o policial que pretenda ingressar armado etc.
O PLNCPC mostra sua grande preocupação com os equivalentes jurisdicionais já em seu art. 3.º. No caput do dispositivo, repete-se a promessa constitucional consagrada no art. 5.º, XXXV, da CF, de que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Conforme já defendido com a devida profundidade, o princípio da inafastabilidade da jurisdição deve ser analisado à luz do acesso à ordem jurídica justa, o que certamente não será afetado pelo PLNCPC, bem ao contrário.
Nos três primeiros parágrafos há previsão dos chamados “meios alternativos” de solução dos conflitos. Registro que não concordo com a parcela doutrinária que prefere renomear a autocomposição e a mediação como “meios adequados” de solução dos conflitos, porque adequado é resolver o conflito, não se devendo afirmar a priori ser um meio mais apropriado do que outro. Se esses são os meios adequados, o que seria a jurisdição? O meio inadequado de solução de conflitos? Compreendo que atualmente não seja mais conveniente falar em meios alternativos, o que daria uma ideia de subsidiariedade a tais meios de solução de conflitos, mas certamente chamá-los de meios adequados não parece ser o mais acertado. Por isso, é preferível denominá-los simplesmente de equivalentes jurisdicionais.
De qualquer forma, no § 1.º está prevista a permissão da arbitragem, na forma da lei. No § 2.º, tem-se a recomendação de que o Estado promova, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, enquanto o § 3.º prevê que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por magistrados, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.
O PLNCPC, entretanto, não ficou apenas em disposições principiológicas, em especial no que se refere às formas consensuais de solução de conflitos. Há um capítulo inteiro destinado a regulamentar a atividade dos conciliares e dos mediadores judiciais (art. 166-176), inclusive fazendo expressamente a distinção entre conciliação (melhor teria sido usar autocomposição) e mediação.
Nos termos do art. 166, § 3.º, do PLNCPC, o conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houve vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Já o § 4.º do mesmo artigo prevê que o mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houve vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos.
Os princípios que devem nortear a conciliação e a mediação estão previstos no art. 167, caput, do PLNCPC: independência, imparcialidade, normalização do conflito, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada.
Em razão do sigilo que deve nortear o trabalho do conciliador e do mediador, as informações produzidas no curso do procedimento não podem ser utilizadas para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes (art. 167, § 1.º), estando o conciliador e o mediador proibidos de divulgar e impedidos de depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação (art. 167, § 2.º). A melhor doutrina lembra que o caráter de sigilo não é absoluto, devendo ser aplicado o art. 1.º, I, anexo III, da Resolução n.º 125 do CNJ, que afasta o sigilo na hipótese de expressa autorização das partes, violação à ordem pública ou às leis vigentes.
Nos termos do art. 167, § 3.º, não ofende o princípio da imparcialidade a aplicação de técnicas negociais, com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. O dispositivo garante o ativismo do mediador e conciliador, de forma a não se tornar um mero espectador do debate entre as partes. E o § 4.º do mesmo dispositivo prevê que a autonomia de vontades seja estendida inclusive com relação à definição das regras procedimentais a serem adotadas na conciliação ou mediação.
Segundo o art. 166, caput, PLNCPC, deverão os tribunais criar centros judiciários de solução consensual de conflitos, que ficarão responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, bem como pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. E nos termos do § 1.º do dispositivo legal caberá ao tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça, definir a composição e a organização de tais centros. Já o art. 168 prevê que os tribunais manterão cadastro de conciliadores e mediadores e das câmaras privadas de conciliação e mediação, que conterá o registro dos habilitados, com indicação de sua área profissional.
Como se pode notar, nem sempre haverá uma vinculação direta do conciliador ou mediador com o Poder Judiciário, considerando-se a possibilidade de utilização de membros que componham uma câmara privada. Nesse caso, os mediadores e conciliadores funcionarão como servidores eventuais da Justiça. Essa circunstância só será possível se o tribunal não optar pela criação de um quadro próprio de conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público, conforme lhe faculta o art. 168, § 6.º, do PLNCPC.
Apesar de existirem requisitos para que um sujeito possa ser cadastrado no Tribunal como conciliador ou mediador (art. 168, § 1.º), não há no PLNCPC qualquer exigência expressa para o cadastramento das câmaras privadas de conciliação e mediação, havendo apenas uma contrapartida prevista no art. 170, § 2.º, com a determinação pelo tribunal do percentual de audiências não remuneradas com o fim de atender aos processos em que haja concessão dos benefícios da assistência judiciária. Dos sujeitos que pretendam se cadastrar no Tribunal, passando a integrar os quadros dos centros judiciários de solução consensual de conflitos, o art. 168, § 1.º, do PLNCPC exige ao menos uma capacitação mínima, adquirida por meio de curso realizado por entidade credenciada ou pelo próprio tribunal, conforme parâmetro curricular mínimo definido pelo Conselho Nacional de Justiça.
Segundo o art. 175 do PLNCPC, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como: (I) dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública; (II) avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da administração pública; (III) promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta.
Uma vez efetivado o registro, o art. 168, § 2.º, do PLNCPC determina que o diretor do foro onde atuará o conciliador ou o mediador receba os dados necessários para sua inclusão em lista, para efeito de distribuição alternada e aleatória, observado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional. Nos termos do art. 172, no caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador ou mediador informará o fato ao centro, preferencialmente por meio eletrônico, para que, durante o período em que perdurar a impossibilidade, não haja novas distribuições.
E a atuação dos conciliadores e mediadores poderá ser acompanhada porque o art. 168, § 3.º, exige que do cadastro constem todos os dados relevantes de sua atuação, como número de causas de que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes. Com uma publicação ao menos anual dessas informações, será possível não só avaliar o trabalho feito, bem como colher dados estatísticos que demonstrem a sua produtividade.
As causas de exclusão do cadastro estão previstas no art. 174 do PLNCPC. Será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que: (I) agir com dolo ou culpa na condução da conciliação ou da mediação sob sua responsabilidade, ou violar qualquer dos deveres decorrentes do art. 167, §§ 1.º e 2.º; (II) atuar em procedimento de mediação ou conciliação, apesar de impedido ou suspeito. A exclusão depende de decisão proferida em processo administrativo (§ 1.º), podendo o juiz coordenador do centro de conciliação e mediação ou o juiz da causa afastar temporariamente o conciliador e mediador pelo prazo máximo de cento e oitenta dias, por decisão fundamentada, informando o fato imediatamente ao tribunal para instauração do respectivo processo administrativo (§ 2.º).
Registre-se que qualquer sujeito que se mostre capacitado poderá atuar como conciliador ou mediador, mas, sendo esse sujeito advogado, o art. 168, § 5.º, prevê o impedimento do exercício da advocacia nos juízos em que exerça suas funções. E o art. 173 do PLNCPC prevê que o conciliador e o mediador ficam impedidos, pelo prazo de um ano, contado do término da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes, o que é importante para se evitar o aliciamento de clientes.
No caso concreto, cabe às partes a escolha, de comum acordo, do conciliador, do mediador ou da câmara privada de conciliação e de mediação (art. 169, caput), sendo que nesse caso o escolhido não precisa estar cadastrado junto ao tribunal (art. 169, § 1.º). Somente quando não houver acordo entre as partes haverá distribuição entre os cadastrados no registro do Tribunal (art. 169, § 2.º). Em qualquer das hipóteses, por acordo das partes ou por imposição do juízo, e sempre que recomendável, haverá a designação de mais de um mediador ou conciliador (art. 169, § 3º, do PLNCPC).
O conciliador e mediador não devem atuar em caso de impedimento, devendo tal circunstância ser imediatamente comunicada para que seja indicada outra pessoa para o trabalho (art. 171, caput, do PLNCPC). E, uma vez já iniciados os trabalhos, deve ser a atividade interrompida e o conciliador ou mediador substituído (art. 171, parágrafo único, do PLNCPC).
A realização do trabalho desenvolvido pelo conciliador ou mediador é, em regra, remunerada, na forma prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (art. 170, caput). Não há, entretanto, óbice para a realização de trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal (art. 170, § 1.º).
E a importância da conciliação e da mediação em área tradicional de sua valorização é consagrada no capítulo destinado às ações de família. No art. 709, caput, do PLNCPC há previsão de que nas ações de família todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação. E no parágrafo único do dispositivo consagra-se a possibilidade de o juiz, a requerimento das partes, determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem a mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar.
E também no art. 711 do PLNCPC a preocupação com tentar-se ao máximo a solução pela via consensual é consagrada na previsão de que a audiência poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar tal forma de solução, sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito.
A arbitragem é antiga forma de solução de conflitos fundada, no passado, na vontade das partes de submeterem a decisão a um determinado sujeito que, de algum modo, exercia forte influência sobre elas, sendo, por isso, extremamente valorizadas suas decisões. Assim, surge a arbitragem, figurando como árbitro o ancião ou o líder religioso da comunidade, que intervinha no conflito para resolvê-lo imperativamente.
Atualmente, a arbitragem mantém as principais características de seus primeiros tempos, sendo uma forma alternativa de solução de conflitos fundada basicamente em dois elementos:
(i) as partes escolhem um terceiro de sua confiança que será responsável pela solução do conflito de interesses e,
(ii) a decisão desse terceiro é impositiva, o que significa que resolve o conflito independentemente da vontade das partes.
A Lei de Arbitragem (Lei 9.307/1996) disciplina essa forma de solução de conflitos, privativa dos direitos disponíveis. Registre-se posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que admite a arbitragem em contratos administrativos envolvendo o Estado, tomando-se por base a distinção entre direito público primário e secundário. Nesse entendimento para a proteção do interesse público, o Estado pratica atos patrimoniais, pragmáticos, cuja disponibilidade em prol da coletividade admite a solução por meio da arbitragem5.
Após alguma vacilação na doutrina e jurisprudência, venceu a tese mais correta de que a arbitragem não afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5.º, XXXV, da CF. O Supremo Tribunal Federal corretamente entendeu que a escolha entre a arbitragem e a jurisdição é absolutamente constitucional, afirmando que a aplicação da garantia constitucional da inafastabilidade é naturalmente condicionada à vontade das partes6. Se o próprio direito de ação é disponível, dependendo da vontade do interessado para se concretizar por meio da propositura da demanda judicial, também o será o exercício da jurisdição na solução do conflito de interesse.
Nesse sentido é elogiável o art. 3.º, caput, do PLNCPC ao prever que não se excluirá da apreciação jurisdicional a ameaça ou lesão a direito, salvo os conflitos de interesses voluntariamente submetidos à solução arbitral. Ainda que seja apenas a consagração de uma realidade atualmente incontestável, é interessante o dispositivo explicitar tal realidade.
Questão interessante a respeito da arbitragem diz respeito a sua genuína natureza de equivalente jurisdicional. Ainda que a doutrina majoritária defenda tal entendimento7, é preciso lembrar que importante parcela doutrinária defende a natureza jurisdicional da arbitragem, afirmando que atualmente a jurisdição se divide em jurisdição estatal, por meio da jurisdição, e jurisdição privada, por meio da arbitragem8. Para se ter uma ideia da confusão nesse tocante, bem como da pouca importância prática, registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça que ora trata a arbitragem como equivalente jurisdicional e ora como espécie de jurisdição privada9.
Para a corrente doutrinária que entende ser a arbitragem uma espécie de jurisdição privada, existem dois argumentos principais:
(i) a decisão que resolve a arbitragem é atualmente uma sentença arbitral, não mais necessitando de homologação pelo juiz para ser um título executivo judicial (art. 475-N, IV, do CPC), o que significa a sua equiparação com a sentença judicial;
(ii) a sentença arbitral torna-se imutável e indiscutível, fazendo coisa julgada material, considerando-se a impossibilidade de o Poder Judiciário reavaliar seu conteúdo, ficando tal revisão jurisdicional limitada a vícios formais da arbitragem e/ou da sentença arbitral, por meio da ação anulatória prevista pelos arts. 32 e 33 da Lei 9.307/1996.
O entendimento foi prestigiado em julgamento do Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela possibilidade de existência de conflito de competência entre um órgão jurisdicional e uma câmara arbitral10.
Não concordo com tal entendimento, a princípio porque nem toda imutabilidade da decisão deriva da coisa julgada material, bastando para confirmar a alegação a lembrança do art. 55 do CPC, que prevê a imutabilidade da justiça da decisão, ou seja, dos fundamentos da decisão, para o assistente que efetivamente atua no processo. Depois porque não há como confundir o juiz e o árbitro. O primeiro, agente estatal, concursado, preocupado com os diversos escopos do processo, enquanto o segundo, particular contratado pelas partes, preocupado exclusivamente em resolver o conflito que lhe foi levado, por vezes até mesmo sem a necessidade de se ater a legalidade. Isso sem entrar na polêmica questão que envolve a possibilidade de o árbitro resolver conflito fundado em ilegalidade de ambas as partes envolvidas, o que, naturalmente, não seria feito pelo juiz de direito.
O já mencionado art. 3.º, caput, do PLNCPC parece ter consagrado o entendimento de que a arbitragem não é jurisdição, porque ao prever a inafastabilidade da jurisdição, salvo a arbitragem, fica claro que essa forma de solução de conflitos não é jurisdicional. E no mesmo sentido vai o art. 42 do PLNCPC ao prever que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo órgão jurisdicional nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei.
Essa, entretanto, não foi a conclusão de dois enunciados do II Encontro de Jovens Advogados (IBDP): Enunciado 01: “O árbitro é dotado de jurisdição para processar e julgar a controvérsia a ele apresentada, na forma da lei”; e Enunciado 03: “O árbitro é juiz de fato e de direito e como tal exercer jurisdição sempre que investido nessa condição, nos termos da lei”.
Por escopos da jurisdição deve-se entender os principais objetivos perseguidos com o exercício da função jurisdicional. Numa visão moderna de jurisdição, amparada no princípio da instrumentalidade das formas, é possível verificar a existência de ao menos três, e no máximo quatro, escopos da jurisdição: jurídico, social, educacional (que parcela doutrinária estuda como aspecto do escopo social) e político.
O escopo jurídico consiste na aplicação concreta da vontade do direito (por meio da criação da norma jurídica), resolvendo-se a chamada “lide jurídica”. Note-se que, diante de uma afronta ou ameaça ao direito objetivo, a jurisdição, sempre que afasta essa violação concreta ou iminente, faz valer o direito objetivo no caso concreto, resolvendo do ponto de vista jurídico o conflito existente entre as partes. Durante muito tempo imaginou-se que seria esse o único escopo da jurisdição, entendendo-se que a jurisdição cumpria a sua missão toda vez que se aplicasse a vontade concreta do direito objetivo. Ocorre, entretanto, que no estágio atual da ciência processual seria de uma pobreza indesejável limitar os objetivos da jurisdição somente ao escopo jurídico. Não que ele não seja importante, pelo contrário, mas certamente não é o único.
O escopo social da jurisdição consiste em resolver o conflito de interesses proporcionando às partes envolvidas a pacificação social, ou em outras palavras, resolver a “lide sociológica”11. De nada adianta resolver o conflito no aspecto jurídico se no aspecto fático persiste a insatisfação das partes, o que naturalmente contribui para a manutenção do estado beligerante entre elas. A solução jurídica da demanda deve necessariamente gerar a pacificação no plano fático, em que os efeitos da jurisdição são suportados pelos jurisdicionados. Daí a visão de que a transação é uma excelente forma de resolver a “lide sociológica”, porque o conflito se resolve sem a necessidade de decisão impositiva de um terceiro12. Mas mesmo a decisão impositiva é capaz de gerar a pacificação social, desde que seja dada em processo rápido, barato, com amplo acesso de participação e com decisão justa.
O escopo educacional diz respeito à função da jurisdição de ensinar aos jurisdicionados – e não somente às partes envolvidas no processo – seus direitos e deveres. É interessante notar que, com a popularização do Poder Judiciário, aumentou significativamente o contato entre ele e o jurisdicionado, de forma a serem importantes os ensinamentos transmitidos por suas decisões a respeito dos deveres e direitos de todos13. Os principais julgamentos são acompanhados por diversos meios de comunicação, ampliando o acesso do cidadão comum a informações derivadas de tais julgamentos. A clareza e a utilização de linguagem simples nas decisões, rejeitando-se o rebuscamento pedante, também contribuem significativamente para a consecução do escopo educacional.
Por fim, o escopo político é analisado sob três diferentes vertentes:
(i) se presta a fortalecer o Estado. É claro que, funcionando a contento a jurisdição, o Estado aumenta a sua credibilidade perante seus cidadãos, fortalecendo-se junto a eles. Politicamente, portanto, é importante uma jurisdição em pleno e eficaz funcionamento como forma de afirmar o poder estatal;
(ii) a jurisdição é o último recurso em termos de proteção às liberdades públicas e aos direitos fundamentais, valores essencialmente políticos de nossa sociedade14. Na realidade, o Estado, como um todo, deve se preocupar com tais valores, mas, quando ocorre a concreta agressão ou ameaça, mesmo provenientes do próprio Estado, é a jurisdição que garante o respeito a tais valores;
(iii) incentivar a participação democrática por meio do processo, de forma que o autor de uma demanda judicial, ou ainda o titular do direito debatido, mesmo que não seja o autor (por exemplo, os direitos transindividuais), possa participar, por meio do processo, dos destinos da nação e do Estado. O exemplo mais claro do que se afirma é a ação popular, por meio da qual qualquer cidadão pode desfazer ato administrativo lesivo ao Erário Público, bem como condenar os responsáveis ao ressarcimento. É o cidadão, por meio do processo, interferindo na administração pública15. Por outro lado, nas ações coletivas, em especial nas que tutelam direitos difusos, determina-se a espécie de sociedade em que estaremos vivendo.
Por caráter substituto entende-se a característica da substitutividade da jurisdição, ou seja, a jurisdição substitui a vontade das partes pela vontade da lei no caso concreto, resolvendo o conflito existente entre elas e proporcionando a pacificação social. Dessa forma, havendo um contrato de empréstimo inadimplido, e sendo a vontade da lei o pagamento de tal dívida, a jurisdição terá condições de substituir a vontade do devedor (de não pagar) pela vontade da lei (realização do pagamento).
Ainda que se admita que tal característica se encontra em número considerável de atuações jurisdicionais, não é correto afirmar ser essencial à existência da jurisdição. O próprio Chiovenda, responsável maior pela inclusão do caráter substitutivo entre as características da jurisdição, já apontava para hipóteses nas quais a substitutividade não estaria presente. Duas situações demonstram claramente a existência de jurisdição sem a presença do caráter substitutivo.
Nas ações constitutivas necessárias se busca a criação de uma nova situação jurídica que não poderia ser criada sem a intervenção do Poder Judiciário. Significa dizer que, ainda que as partes não estejam em conflito, precisam obrigatoriamente da jurisdição para que tal situação seja criada. É possível, portanto, existir uma situação na qual as partes que buscam o Poder Judiciário não estejam em conflito; pelo contrário, que a vontade de ambas seja convergente, dado que ambas pretendem criar a nova situação jurídica buscada no processo. Nessa hipótese, não se pode falar em caráter substitutivo da jurisdição, porque não haverá a substituição da vontade das partes pela vontade da lei, servindo a atuação jurisdicional tão somente para atribuir eficácia jurídica ao acordo de vontade entre as partes, única forma de criar a nova situação jurídica pretendida.
Dois cônjuges pretendem se divorciar, não havendo qualquer conflito entre eles no tocante a essa pretensão. Ocorre, entretanto, que ambos têm um filho menor de idade (incapaz), de forma que serão obrigados a buscar o Poder Judiciário para a obtenção do bem da vida desejado, nos termos do art. 982 do CPC (Lei 11.441/2007).
Também não há caráter substitutivo da jurisdição na execução indireta, por meio da qual a obrigação será satisfeita em razão da vontade do devedor, não havendo uma substituição dessa vontade pela vontade da lei. Nesse caso, a vontade originária do devedor é não cumprir a obrigação, enquanto a vontade da lei é que a obrigação seja cumprida. Por meio da execução indireta exerce-se uma pressão psicológica sobre o devedor na esperança de convencê-lo de que o melhor a fazer é mudar sua vontade originária, adequando-se a vontade da lei e, por consequência, cumprindo a obrigação. Sempre que a execução indireta funciona, o cumprimento decorrerá de ato do devedor, que obviamente não será espontâneo, mas nem por isso deixará de ser voluntário, sem qualquer caráter substitutivo da jurisdição16.
O tema da execução indireta é tratado de forma exauriente no Capítulo 34, item 34.3, mas já é importante não confundir essa forma de execução com a submissão (forma de autocomposição), considerando-se que o cumprimento voluntário por meio de execução indireta é resultado da pressão psicológica, enquanto a submissão é ato voluntário sem qualquer ingerência do Poder Judiciário. É essa distinção que faz a execução indireta ser atividade jurisdicional e a submissão, ato de autocomposição.
Segundo a concepção clássica de Carnelutti, a lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. A ideia, portanto, é de um sujeito que pretende obter um bem da vida, no que é impedido por outro, que lhe cria uma resistência a tal pretensão, surgindo desse choque de interesses (obter o bem da vida e impedir a sua obtenção) o conflito de interesse entre as partes. Afirma o doutrinador italiano que a jurisdição se presta à composição justa da lide, de forma que a provocação ao Poder Judiciário estaria condicionada à necessidade do pretendente ao bem da vida de afastar a resistência criada por outrem.
Como se pode notar da própria definição clássica de lide, trata-se de um fenômeno não processual, mas fático-jurídico (ou ainda sociológico), anterior ao processo. A lide não é criada no processo, mas antes dele, e também não é tecnicamente correto afirmar que será solucionada no processo, considerando-se que o juiz resolve o pedido do autor e não a lide em si. A solução da lide pelo processo é uma mera consequência dessa solução do pedido, dependendo de sua abrangência para ser total ou parcialmente resolvida. É curioso notar que a desconsideração dessa realidade leva o legislador a utilizar diversas vezes o termo “lide” de forma equivocada no Código de Processo Civil, como em “denunciação da lide” (arts. 70 a 76 do CPC); “julgamento antecipado da lide” (art. 330 do CPC), “lide e seus fundamentos” (art. 801, III do CPC).
Ainda que se admita a presença da lide em grande número de demandas judiciais, não parece correto afirmar que a lide é essencial à jurisdição, sendo corrente na doutrina o entendimento de que é possível a existência desta sem aquela. E nem é preciso falar em jurisdição voluntária, porque nessa existe polêmica quanto à sua natureza jurisdicional, tema que será enfrentado em capítulo próprio. Existem exemplos de demandas de jurisdição contenciosa nas quais não se verifica a existência da lide, ao menos não em seu conceito clássico.
Nas ações constitutivas necessárias, já comentadas anteriormente, mesmo que as partes tenham vontades convergentes será indispensável a procura da jurisdição para a obtenção do bem da vida desejado por ambas. Embora nesse caso não exista um conflito de interesse entre as partes, existe uma resistência à pretensão de obtenção de bem da vida, criada pela própria lei ao exigir a intervenção jurisdicional para a obtenção do bem da vida. Parece claro que um sujeito que tem sua pretensão resistida por outro sujeito está tão insatisfeito juridicamente como aquele que sofre tal resistência pela obrigatoriedade legal de buscar a atuação jurisdicional. Dos dois elementos do conceito tradicional da lide, nas ações constitutivas necessárias, não existe o conflito de interesses, mas há a pretensão resistida e, certamente, a insatisfação jurídica que leva os sujeitos insatisfeitos a procurar a jurisdição17.
Outras duas hipóteses lembradas pela melhor doutrina de jurisdição sem lide são os processos objetivos (controles concentrados de constitucionalidade)18 e a tutela inibitória, que, buscando evitar a prática, continuação ou repetição de ato ilícito, volta-se para ato futuro19.
O princípio da inércia da jurisdição é tradicional (“ne procedat iudex ex officio”), ainda que exista certa polêmica a respeito de sua extensão. O mais correto é limitar o princípio da inércia da jurisdição ao princípio da demanda (ação), pelo qual fica a movimentação inicial da jurisdição condicionada à provocação do interessado. Significa dizer que o juiz – representante jurisdicional – não poderá iniciar um processo de ofício, sendo tal tarefa exclusiva do interessado. Esse princípio decorre da constatação inequívoca de que o direito de ação, sendo o direito de provocar a jurisdição por meio do processo, é disponível, cabendo somente ao interessado decidir se o exercerá no caso concreto.
Mesmo reconhecendo-se a disponibilidade do direito de ação, excepcionalmente há permissão legal expressa para o início do processo de ofício, como é o caso do art. 989 do CPC, que permite ao juiz dar início de ofício ao processo de inventário e partilha, desde que preenchidos os requisitos legais, e do art. 878 da CLT. Conforme será analisado no Capítulo 1, item 1.7.1.2, também na jurisdição voluntária o processo será iniciado de ofício.
Existem três motivos que justificam a inércia da jurisdição:
(a) o juiz não deve transformar um conflito jurídico em um conflito social, ou seja, ainda que exista uma lide jurídica, as partes envolvidas, em especial a titular do direito material, pode não pretender, ao menos por hora, jurisdicionalizar tal conflito, mantendo uma convivência social pacífica com o outro sujeito. Tudo isso, naturalmente, poderá deixar de existir na hipótese de demanda instaurada de ofício pelo juiz20;
(b) seriam sacrificados os meios alternativos de solução dos conflitos, porque a ausência de demanda judicial pode significar que o interessado, apesar de pretender resolver o conflito em que está envolvido, prefere fazê-lo longe da jurisdição. Com a propositura da demanda de ofício, haveria automaticamente sua vinculação à jurisdição;
(c) perda da indispensável imparcialidade do juiz, considerando-se que um juiz que dá início a um processo de ofício tem a percepção, ainda que aparente, de existência do direito, o que o fará pender em favor de uma das partes. É natural que, se o juiz, desde o início, desacreditasse na existência de direito material violado ou ameaçado, não ingressaria com a demanda de ofício21.
Segundo previsão dos arts. 2.º e 262 do CPC, se confirma legislativamente o princípio da inércia da jurisdição. Pela previsão contida no art. 460 do CPC, que consagra o princípio da congruência (correlação/adstrição), nota-se que não só a jurisdição depende de provocação para se movimentar, como o fará nos estritos limites definidos pelo objeto da demanda, que em regra é determinado pelo autor e excepcionalmente também pelo réu (reconvenção/pedido contraposto). Quanto ao que ficar fora do objeto da demanda, a jurisdição continuará inerte, não podendo haver prestação de tutela jurisdicional, salvo nas excepcionais hipóteses de “pedidos implícitos” e de aplicação da regra da “fungibilidade”, circunstâncias previstas por lei que autorizam a concessão de tutela não pedida.
A inércia da jurisdição diz respeito tão somente ao ato de iniciar o processo, porque, uma vez provocada pelo interessado com a propositura da demanda, a jurisdição já não mais será inerte, pelo contrário, passará a caminhar independentemente de provocação, exatamente como determina o art. 262 do CPC. Uma vez provocada a jurisdição, aplica-se a regra do impulso oficial, de maneira que o desenvolvimento do processo estará garantido, até certo ponto, independentemente de vontade ou provocação das partes22. Afirma-se que tal desenvolvimento está garantido pela atuação oficiosa do juiz até certo ponto porque existem situações nas quais, sem a indispensável participação das partes, não haverá como aplicar o impulso oficial23. Há interessante lição doutrinária a apontar que o impulso oficial pode depender da colaboração das partes em dois aspectos: econômico e prestação de informações24. Tome-se como exemplo o entendimento consagrado na Súmula 631 do STF, que determina a extinção do processo de mandado de segurança se o impetrante não promover, no prazo determinado pelo juiz, a citação do litisconsorte passivo necessário.
Fernanda ingressa com demanda contra um órgão da administração indireta, requerendo sua citação por oficial de justiça, nos termos do art. 222, “c”, do CPC. Ocorre, entretanto, que não recolhe as devidas custas para a diligência do oficial de justiça. Nesse caso, é natural que se depende de um ato de Fernanda para que a demanda prossiga, não havendo como aplicar o impulso oficial. O mesmo ocorre se Fernanda, derrotada nessa demanda, apelar recolhendo como preparo um valor menor do que o devido. O máximo que o juiz poderá fazer é intimá-la para que em cinco dias complemente o valor do preparo (art. 511, § 2.º, do CPC), dependendo exclusivamente de ato a ser praticado por ela para a continuidade do procedimento. Ou, ainda, Fernanda ingressar com petição inicial sem qualquer qualificação do réu, o que impossibilitará o prosseguimento do processo por meio da realização da citação.
No tocante às chamadas “ações sincréticas”, fundamentadas na ideia de um mesmo processo se desenvolver em duas fases procedimentais sucessivas, sendo a primeira de conhecimento e a segunda de execução (satisfação), surge interessante questão a respeito da necessidade de provocação do autor para o início da fase de satisfação. Aplicando-se a regra do art. 262 do CPC, não resta dúvida de que, no confronto entre os princípios da inércia e do impulso oficial, aplica-se o segundo. Para tal conclusão basta a verificação de que não se está iniciando um novo processo e que justamente por isso a continuação procedimental – ainda que seja com a instauração de uma nova fase – pode se realizar de ofício pelo juiz.
Esse raciocínio, entretanto, pode ser excepcionado por expressa previsão legal, porque, mesmo sendo o desenvolvimento do processo tarefa a cargo do juiz, pode o legislador criar situações nas quais tal desenvolvimento dependa de uma expressa manifestação da parte interessada. E é justamente isso o que ocorre no cumprimento de sentença condenatória de pagar quantia certa, fase satisfativa que depende, para o seu início, da provocação do autor, segundo previsão expressa do art. 475-J, caput, do CPC. Cumpre salientar, entretanto, que tal dispositivo legal, segundo previsão do art. 475-I do CPC, só se aplica às demandas que tenham como objeto uma obrigação de pagar quantia certa. Na hipótese de obrigação de fazer ou não fazer aplica-se o art. 461 do CPC e na hipótese de obrigação de entregar coisa o art. 461-A do CPC, sendo que em nenhum desses dois dispositivos existe uma expressa exigência de provocação da parte, de forma que aplicável a regra geral, qual seja, a do impulso oficial25.
Interessante notar que no PLNCPC originário restava expressa a aplicação do princípio do impulso oficial para o início do cumprimento de sentença, independentemente da natureza da obrigação da sentença. No texto do art. 490, § 3.º, do Projeto aprovado no Senado, constava o poder do juiz de dar início ao cumprimento de sentença de ofício, salvo se o credor justificasse a impossibilidade ou inconveniência de sua realização. Em sua atual redação, entretanto, o art. 537, caput, exige o requerimento da parte interessada quando a obrigação exequenda for de pagar quantia certa, enquanto o art. 552, caput, expressamente permite o início de ofício ou a requerimento quando a obrigação exequenda for de fazer ou não fazer. O art. 552, que trata da obrigação de entregar coisa, não tem previsão expressa a respeito do tema, dando a entender que o juiz pode iniciar de ofício o cumprimento de sentença, exatamente como ocorre atualmente, uma vez que continua sendo aplicáveis subsidiariamente a essa espécie de execução as regras procedimentais da execução da obrigação de fazer e não fazer (art. 552, § 3.º, do PLNCPC).
Afirma-se que a solução do conflito por meio jurisdicional é a única que se torna definitiva e imutável, sendo considerada a derradeira e incontestável solução do caso concreto. Essa definitividade significa que a decisão que solucionou o conflito deverá ser respeitada por todos: partes, juiz do processo, Poder Judiciário e até mesmo por outros Poderes. Em razão do desenvolvimento desse raciocínio, a coisa julgada material é fenômeno privativo das decisões jurisdicionais.
Ainda que se possa concluir que somente na jurisdição existe coisa julgada material, não é possível condicionar o exercício da jurisdição a tal fenômeno processual. Existem hipóteses nas quais a doutrina tradicional entende não existir coisa julgada material, ainda que seja evidente a existência de jurisdição, como ocorre no processo cautelar. Havendo decisão de conflito tornada imutável e indiscutível pela coisa julgada material, estar-se-á diante de atividade jurisdicional. Por outro lado, a mera ausência de coisa julgada material não é o suficiente para concluir que a atividade não tem natureza jurisdicional26.
Como é exposto no Capítulo 17, a existência de coisa julgada material é resultado de uma opção político-legislativa, sendo inviável condicionar o exercício de atividade jurisdicional a essa opção. Se existe coisa julgada quando e como o legislador pretender, condicionar a jurisdição à sua existência seria dizer que o legislador pode determinar o que é e o que não é jurisdição, conclusão evidentemente absurda.
É natural que o Poder Judiciário, ser inanimado que é, tenha a necessidade de escolher determinados sujeitos, investindo-os do poder jurisdicional para que representem o Estado no exercício concreto da atividade jurisdicional. Esse agente público, investido de tal poder, é o juiz de direito, sendo por vezes chamado de Estado-juiz porque é justamente ele o sujeito responsável por representar o Estado na busca de uma solução para o caso concreto.
Existem diversas maneiras de obtenção da investidura, algumas delas distantes de nossa realidade como a eleição direta e a escolha dos novos membros da magistratura pelos atuais. No Brasil, são duas as formas admitidas: concurso público (art. 93, I, da CF) e indicação pelo Poder Executivo, por meio do quinto constitucional (art. 94 da CF).
O princípio da aderência ao território diz respeito a uma forma de limitação do exercício legítimo da jurisdição. O juiz devidamente investido de jurisdição só pode exercê-la dentro do território nacional, como consequência da limitação da soberania do Estado brasileiro ao seu próprio território. Significa dizer que todo juiz terá jurisdição em todo o território nacional. Ocorre, entretanto, que, por uma questão de funcionalidade, considerando-se o elevado número de juízes e a colossal extensão do território nacional, normas jurídicas limitam o exercício legítimo da jurisdição a um determinado território. Conforme será analisado em capítulo específico, trata-se de regras de competência territorial.
As regras de competência territorial definirão um determinado território, ou seja, um determinado foro (na Justiça Estadual uma comarca, e na Justiça Federal uma seção judiciária), e pelo princípio da aderência ao território, a atuação jurisdicional só será legítima dentro desses limites territoriais. Em razão da aplicação desse princípio, sempre que for necessária a prática de ato processual fora de tais limites, o juízo deverá se utilizar da carta precatória (dentro do território nacional) e de carta rogatória (fora do território nacional); no primeiro caso por lhe faltar competência, e no segundo caso por lhe faltar jurisdição para a prática do ato.
O princípio ora analisado tem diversas exceções previstas em lei, havendo diversas hipóteses nas quais o juízo tem permissão legal para a prática de atos fora de sua comarca ou de sua seção judiciária. Sem pretensão de exaurimento da matéria, indico as principais exceções a esse princípio.
A citação pelo correio (regra no sistema atual) pode ser feita para qualquer comarca ou seção judiciária do País (art. 222, caput, do CPC); a citação ou intimação por oficial de justiça pode ser feita em comarca ou seção judiciária contígua, de fácil comunicação, ou nas que se situem na mesma região metropolitana (art. 230 do CPC); na ação de direito real imobiliário de imóvel situado em dois ou mais foros, o autor escolherá qualquer um deles, que será o competente por prevenção, passando o juiz desse foro a atuar também relativamente à parte do imóvel que vai além de sua comarca ou seção judiciária (art. 107 do CPC); na penhora de bem imóvel, apresentada nos autos do processo a sua matrícula atualizada, o juiz poderá realizar a penhora de imóvel situado em qualquer local no Brasil (art. 659, §§ 4.º e 5.º, do CPC).
Finalmente, e esse aspecto ainda não despertou o devido interesse da doutrina, a adoção do chamado “processo eletrônico” certamente afetará o princípio da territorialidade, considerando-se que a própria ideia de “mundo virtual” não se compatibiliza com limitações territoriais. Atualmente, inclusive, já é possível apontar exceções ao princípio na citação por meio eletrônico (art. 221, IV, do CPC) e na penhora on-line (art. 655-A do CPC). É impressionante que se tenha que fazer constar de enunciado do FONAJE a permissão de penhora on-line ainda que conta corrente da parte não seja de agência bancária situada no foro em que tramita o processo. O simples fato de tal questão ser objeto de discussão já é mostra suficiente da dificuldade de compreensão dos atos processuais praticados no mundo virtual27.
Essa realidade é reafirmada no PLNCPC, com a previsão de diversos atos processuais a serem praticados de forma eletrônica (arts. 193-199), o que naturalmente afasta o princípio da territorialidade conforme sua configuração clássica. No art. 861, § 1.º, é mantida a penhora de imóvel por mera apresentação de matrícula, incluindo-se a possibilidade de penhora de automóvel localizado em qualquer foro mediante a apresentação de certidão de sua existência. No art. 898, caput, encontra-se a preferência pela forma eletrônica de hasta pública, sendo realizada de forma presencial apenas se não houver alternativa.
O princípio da indelegabilidade pode ser analisado sob duas diferentes perspectivas: externo e interno. No aspecto externo significa que o Poder Judiciário, tendo recebido da Constituição Federal a função jurisdicional – ao menos como regra –, não poderá delegar tal função a outros Poderes ou outros órgãos que não pertencem ao Poder Judiciário. No aspecto interno significa que, determinada concretamente a competência para uma demanda, o que se faz com a aplicação de regras gerais, abstratas e impessoais, o órgão jurisdicional não poderá delegar sua função para outro órgão jurisdicional.
No tocante à indelegabilidade externa, a própria Constituição Federal pode prever, ainda que excepcionalmente, função jurisdicional a outro poder que não seja o Poder Judiciário, criando-se a chamada “função estatal atípica”. A indelegabilidade, nesse caso, parte da impossibilidade de transferência da função determinada na Constituição Federal, sendo que a função jurisdicional é majoritariamente atribuída ao Poder Judiciário.
A impossibilidade de delegação de função jurisdicional entre diferentes órgãos jurisdicionais é excepcionada em ao menos duas hipóteses:
(a) na expedição de carta de ordem pelo Tribunal, que delega sua função de produzir provas orais e periciais ao juízo de primeiro grau (por exemplo, na ação rescisória, nos termos do art. 492 do CPC). A falta de estrutura dos tribunais para a prática de tais atos justifica a delegação;
(b) o art. 102, I, “m”, da CF prevê que o Supremo Tribunal Federal delegue a função executiva de seus julgados ao juízo de primeiro grau, também com a justificativa de que falta a esse tribunal a estrutura para a prática de tais atos. Justamente em razão dessa justificativa, a doutrina é tranquila em interpretar a regra de forma ampla, aplicando-a não só ao Supremo Tribunal Federal, mas a todos os tribunais. Por outro lado, a delegação não é completa, porque atinge somente os atos materiais de execução, mantendo-se o tribunal o único órgão competente para proferir decisões que digam respeito ao mérito da execução, única forma de afastar o perigo de uma decisão de grau inferior modificar uma decisão de tribunal28. Eventuais embargos de terceiro são de competência do juízo de 1.º grau que em atuação delegada foi o órgão competente pela constrição judicial impugnada.
Entendo que a carta precatória e a carta rogatória não são exceções ao princípio da indelegabilidade29, porque nesses casos o juiz deprecante não tem competência ou jurisdição para a prática do ato, de forma que ao pedir a colaboração de outro foro nacional ou estrangeiro, nada estará delegando, afinal não se pode delegar poder que não se tenha originariamente. As cartas precatória e rogatória, na realidade, são a confirmação do princípio da indelegabilidade, determinando que o juízo competente pratique os atos processuais para os quais tenha competência, independente de onde tramita o processo.
O princípio da inevitabilidade é aplicado em dois momentos distintos. O primeiro diz respeito à vinculação obrigatória dos sujeitos ao processo judicial. Ainda que se reconheça que ninguém será obrigado a ingressar com demanda contra a sua vontade e que existem formas de se tornar parte dependentes da vontade do sujeito (por exemplo, assistência, recurso de terceiro prejudicado), o certo é que, uma vez integrado à relação jurídica processual, ninguém poderá, por sua própria vontade, se negar a esse “chamado jurisdicional”. A vinculação é automática, não dependendo de qualquer concordância do sujeito, ou mesmo de acordo entre as partes para se vincularem ao processo e se sujeitarem à decisão, como ocorria no direito romano (“litiscontestatio”).
Essa integração obrigatória à relação jurídica processual coloca os sujeitos que dela participam num estado de sujeição, o que significa dizer que suportarão os efeitos da decisão jurisdicional ainda que não gostem, não acreditem, ou não concordem com ela. O estado de sujeição das partes torna a geração dos efeitos jurisdicionais inevitável, inclusive não havendo qualquer necessidade de colaboração no sentido de aceitar em suas esferas jurídicas a geração de tais efeitos. Na realidade, mesmo diante de resistência, a jurisdição terá total condição de afastá-las e, consequentemente, de fazer valer suas decisões (os meios executivos bem demonstram tal fenômeno).
Esse princípio da inevitabilidade, entretanto, e por incrível que possa parecer, tem uma exceção. Trata-se da previsão contida no art. 67 do CPC, que permite ao terceiro, quando citado em razão de sua nomeação à autoria, simplesmente recusar a sua qualidade de parte, negando-se pura e simplesmente, por sua própria vontade, a integrar a relação jurídica processual. Ao rejeitar a sua integração ao processo, mesmo tendo sido citado, o nomeado à autoria, por sua própria opção, se exclui dos efeitos da jurisdição a serem gerados pela decisão judicial em processo do qual não participará. É caso isolado, e de duvidosa constitucionalidade, de não aplicação do princípio da inevitabilidade da jurisdição30.
Consagrado pelo art. 5.º, XXXV, da CF (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito”), o princípio da inafastabilidade tem dois aspectos: a relação entre a jurisdição e a solução administrativa de conflitos e o acesso à ordem jurídica justa, que dá novos contornos ao princípio, firme no entendimento de que a inafastabilidade somente existirá concretamente por meio do oferecimento de um processo que efetivamente tutele o interesse da parte titular do direito material.
No primeiro aspecto, é entendimento tranquilo que o interessado em provocar o Poder Judiciário em razão de lesão ou ameaça de lesão a direito não é obrigado a procurar antes disso os possíveis mecanismos administrativos de solução de conflito. Ainda que seja possível a instauração de um processo administrativo, isso não será impedimento para a procura do Poder Judiciário. E mais. O interessado também não precisa esgotar a via administrativa de solução de conflitos, podendo perfeitamente procurá-las e, a qualquer momento, buscar o Poder Judiciário31. Nesse tocante, duas observações são importantes.
A regra é expressamente excepcionada pela Constituição Federal em seu art. 217, § 1.º, que prevê a necessidade de esgotamento das vias de solução da Justiça Desportiva como condição de buscar a tutela jurisdicional. Como o próprio texto da norma constitucional disciplina, o Poder Judiciário tem competência para resolver conflitos que envolvam questões desportivas, exigindo-se tão somente o exaurimento prévio do processo administrativo na Justiça Desportiva.
Por outro lado, havendo um processo administrativo, com decisão desfavorável à parte e com recurso recebido com efeito suspensivo, é preciso analisar – como em qualquer outra demanda – se o sujeito que provoca o Poder Judiciário tem interesse de agir, o que deverá ser demonstrado no caso concreto. Ainda que aparentemente a suspensão da decisão em razão do recurso impeça a alegação de qualquer violação ou ameaça de violação a direito, essa análise deverá ser feita no caso concreto. Não se trata de exceção ao princípio da inafastabilidade, mas tão somente de exigência de preenchimento das condições da ação no caso concreto. É nesse sentido que deve ser interpretado o art. 5.º, I, da Lei 12.016/2009, que prevê o não cabimento do mandado de segurança enquanto pendente de julgamento recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução.
Conforme entendimento pacificado no STJ, o habeas data só é cabível se houver recusa de informações por parte da autoridade administrativa32. Note-se que a exigência de recusa nesse caso é indispensável para o surgimento da lide, sem o que não há interesse de agir, não representando qualquer espécie de abrandamento do princípio ora analisado.
Por outro lado, não parece que a exigência de esgotamento da via administrativa para o ingresso de determinada ação judicial represente ofensa ao princípio ora analisado, tal como ocorre com o art. 7.º, § 1.º, da Lei 11.417/2006. Segundo o dispositivo legal, diante de ato administrativo que ofenda súmula vinculante, a parte só poderá se valer da reclamação constitucional após o esgotamento das vias administrativas de solução do conflito.
A regra legal não impede o acesso da parte ao Poder Judiciário, mas somente não habilita o ingresso de uma espécie de ação, a reclamação constitucional. Não consigo compreender como essa previsão pode ofender o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, porque se a limitação a certa forma procedimental de provocar a jurisdição for inconstitucional será complicado, por exemplo, explicar porque não se admite produção de prova oral em sede de mandado de segurança, ou porque a ação coletiva não se presta, ao menos em regra, para a defesa de interesses individuais.
Entendo, portanto, que o acesso à jurisdição está garantido, não pelo caminho mais fácil da reclamação constitucional, mas por meio de qualquer ação impugnativa da decisão ou ato administrativo, seguindo-se as regras regulares de competência para fixar o órgão ao qual caberá o julgamento de tal ação. Caso a parte pretenda se valer do caminho mais fácil e rápido, terá de esperar o esgotamento das vias administrativas, conforme prevê o artigo ora comentado, não sendo possível se apontar qualquer inconstitucionalidade.
Interessante é a leitura do princípio feita pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao prévio requerimento administrativo para obtenção de benefício previdenciário. Segundo o entendimento, o interesse processual do segurado e a utilidade da prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses de recusa de recebimento do requerimento e de negativa de concessão do benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada. Com efeito, se o segurado postulasse sua pretensão diretamente no Poder Judiciário, sem requerer administrativamente o objeto da ação, correr-se-ia o risco de a Justiça Federal substituir definitivamente a Administração Previdenciária33.
O princípio também serve para confirmar a inexistência de coisa julgada material em decisão proferida no processo administrativo, de forma que, mesmo após o esgotamento das vias administrativas de solução de conflitos, a parte que se sentir prejudicada poderá buscar o Poder Judiciário alegando lesão a seu direito. A eventual limitação da atuação jurisdicional respeitante à discricionariedade administrativa, naturalmente não se presta a excepcionar o princípio da inafastabilidade.
Registre-se nesse tocante interessante discussão a respeito das decisões favoráveis ao contribuinte proferidas de forma definitiva no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) – antigo Conselho de Contribuintes. Os defensores da Fazenda Pública em juízo se valem do princípio ora analisado para afirmar a possibilidade de se levar decisões administrativas que lesarem o patrimônio público à apreciação do Poder Judiciário para apreciação de sua legalidade, juridicidade ou hipotético erro de fato, o que se dará por meio de ação de conhecimento, mandado de segurança, ação civil pública ou ação popular34.
Entendo que tal entendimento se vale de importante princípio constitucional para contrariar de forma flagrante previsões legais, gerando uma situação de perplexidade e grave injustiça ao contribuinte. Segundo o art. 156, IX, do CTN, a decisão administrativa irreformável extingue o crédito tributário, de forma que eventual cobrança posterior de crédito já declarado inexistente pela própria Fazenda Pública não encontraria amparo legal. No mesmo sentido é a única interpretação possível do art. 45 do Decreto 70.235/1972.
Como ensina a melhor doutrina, admitir a propositura de ação judicial para discutir crédito tributário já declarado inexistente por decisão administrativa irreformável viola de maneira grosseira e inadmissível o princípio da segurança jurídica, de nada valendo para o contribuinte a decisão favorável no âmbito administrativo35. Na realidade, ao se admitir o entendimento ora criticado, a própria função do órgão administrativo desapareceria, porque sempre a decisão final seria aquela proferida pelo Poder Judiciário36. O controle, portanto, deve se limitar aos vícios formais do processo administrativo.
Em importante julgamento a respeito de tema correlato ao ora enfrentado, o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de decidir incidentalmente que as decisões do Conselho de Contribuintes (atualmente CARF), quando não recorridas, tornam-se definitivas, cumprindo à Administração, de ofício, “exonerar o sujeito passivo” dos gravames decorrentes do litígio, nos termos do art. 45 do Decreto 70.235/197237. Ainda que a decisão não seja definitiva, aguardando-se o julgamento do RExt 535.077/DF, de relatoria do Ministro Carlos Britto, a decisão já gerou uma consequência positiva: o Procurador-Geral da Fazenda Nacional suspendeu todos os atos anteriores referentes ao tema, aguardando a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal38.
A visão moderna do princípio, entretanto, não se importa tanto com a relação da jurisdição com as decisões administrativas, mas com a concreta efetivação da promessa constitucional. O que realmente significa dizer que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixará de ser tutelada jurisdicionalmente? Trata-se da ideia de “acesso à ordem jurídica justa”, ou, como preferem alguns, “acesso à tutela jurisdicional adequada”. Segundo lição corrente na doutrina, essa nova visão do princípio da inafastabilidade encontra-se fundada em quatro ideais principais, verdadeiras vigas mestras do entendimento39.
Em primeiro lugar, deve-se ampliar o máximo possível o acesso ao processo, permitindo-se que eventuais obstáculos sejam mínimos, senão inexistentes. Esse amplo acesso cresce em importância quando referente ao aspecto econômico40 da demanda e aos direitos transindividuais.
No tocante ao acesso dos necessitados econômicos, que não têm condição econômica de acessar o Poder Judiciário, o sistema pátrio vale-se da assistência judiciária ampla para os “pobres” na acepção jurídica do termo e os Juizados Especiais, que com seu princípio de gratuidade (art. 1.º da Lei 9.099/1995), ao menos até a sentença, facilitam o acesso de muitos. Isso sem falar na nobre disposição de alguns Tribunais na instalação de Juizados itinerantes, permitindo o maior acesso de pessoas que não encontram viabilidade em se locomover até a sede do juízo e na ainda incipiente atuação da Defensoria Pública.
Por outro lado, a criação da tutela jurisdicional coletiva, com seus diplomas legais específicos, em especial a Lei de Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, permitiu que os direitos difusos e coletivos finalmente pudessem ser tutelados pelo Poder Judiciário. Com a estrutura da tutela individual, em especial no tocante às regras de legitimação e coisa julgada, é impossível a tutela jurisdicional desses direitos, naturalmente frustrando a promessa de inafastabilidade. Esse acesso também atinge os direitos individuais homogêneos, ainda que de forma diferente. Estes até encontram guarida nas regras da tutela individual, mas são tantas e de tão diversas naturezas os obstáculos para a demanda individual, que naturalmente a tutela coletiva desses direitos auxilia na ampliação do acesso ao processo.
Uma vez ampliado o acesso, deve-se observar o respeito ao devido processo legal, em especial a efetivação do contraditório real e do princípio da cooperação. Significa dizer que as partes devem desempenhar um papel fundamental durante o processo, com ampla participação e efetiva influência no convencimento do juiz. De nada adiantará a ampliação do acesso se tal participação não for incentivada e respeitada no caso concreto. Essa ampla participação pode ser obtida por intermédio de um contraditório participativo, mediante o qual o juiz mantenha um diálogo permanente e intenso com as partes, bem como por meio do contraditório efetivo, sendo as participações das partes aptas a influenciar a formação do convencimento do juiz.
A mencionada participação das partes acarreta ao menos duas evidentes vantagens: a) quanto mais ampla tiver sido a participação das partes, maiores serão as chances de obtenção de pacificação social, considerando-se que a parte derrotada que entende ter feito tudo que havia a fazer para defender seu interesse em juízo tende a se conformar mais facilmente com sua derrota; b) sendo a participação das partes ampla, o juiz terá mais elementos para valorar e proferir uma decisão de melhor qualidade.
Amplia-se o acesso, permite-se a ampla participação, mas profere-se uma decisão injusta. É fácil perceber que nesse caso tanto o acesso como a ampla participação não levaram as partes a lugar nenhum. Em razão disso, a terceira “viga mestra” é a decisão com justiça, ainda que o conceito de justiça seja indeterminado, suscetível de certa dose de subjetivismo. O que se pode afirmar, com segurança, é que a missão de decidir com justiça não significa a permissão de julgamento por equidade, espécie de julgamento reservado a situações excepcionais, expressamente prevista em lei (art. 127 do CPC). Trata-se de preferir a interpretação mais justa diante de várias possíveis, ou, ainda, de aplicar a lei sempre levando-se em consideração os princípios constitucionais de justiça e os direitos fundamentais.
Por fim, de nada adiantará ampliar o acesso, permitir a ampla participação e proferir decisão com justiça, se tal decisão se mostrar, no caso concreto, ineficaz. O famoso “ganhou, mas não levou” é inadmissível dentro do ideal de acesso à ordem jurídica justa. A eficácia da decisão, portanto, é essencial para se concretizar a promessa constitucional de inafastabilidade da jurisdição. A questão da eficácia pode ser enfrentada por três diferentes perspectivas.
Na primeira, a necessidade de tutela de urgência ampla, de forma a afastar concretamente o perigo de ineficácia representado pelo tempo necessário à concessão da tutela definitiva41. Nesse tocante, o direito brasileiro encontra-se excepcionalmente servido, contando com a tutela cautelar, garantidora, e a tutela antecipada, satisfativa, ambas amplas e genéricas, cabíveis em qualquer hipótese e a qualquer momento desde que preenchidos os requisitos legais para sua concessão.
Em segundo lugar, a necessidade de aumentar os poderes do juiz na efetivação de suas decisões, o que se pode fazer – como o direito brasileiro vem fazendo – por dois caminhos distintos:
(a) disponibilizar ao juiz mecanismos de execução indireta, por meio dos quais poderá convencer o devedor que o melhor a fazer é cumprir a obrigação. A execução indireta pode ocorrer de duas formas: ameaça de piora na situação atual (astreintes, prisão civil) ou oferecimento de melhora na situação atual (arts. 652-A, parágrafo único, e 1.102-C, § 1.º, do CPC);
(b) aumentar as sanções processuais a serem aplicadas pelo juiz na hipótese de não cumprimento ou criação de obstáculos à efetivação da decisão judicial, com especial ênfase ao ato atentatório à dignidade da jurisdição (contempt of court), previsto no art. 14, V, parágrafo único, do CPC42.
Em terceiro lugar, cumprir a promessa constitucional prevista no art. 5.º, LXXVIII, que garante às partes uma razoável duração do processo por meio da adoção de técnicas procedimentais que permitam uma maior celeridade, naturalmente sem afastar as garantias constitucionais do processo. O raciocínio é bastante simples: quanto mais demore uma demanda judicial, menores são as chances de o resultado final ser eficaz, devendo-se atentar para essa realidade no momento da estruturação procedimental e da fixação das regras para a condução do processo.
Pelo princípio do juiz natural entende-se que ninguém será processado senão pela autoridade competente (art. 5.º, LIII, da CF). O princípio pode ser entendido de duas formas distintas. A primeira delas diz respeito à impossibilidade de escolha do juiz para o julgamento de determinada demanda, escolha essa que deverá ser sempre aleatória em virtude de aplicação de regras gerais, abstratas e impessoais de competência. Essa proibição de escolha do juiz atinge a todos; as partes, os juízes, o Poder Judiciário etc.
Interessante notar que o legislador tenta evitar a escolha do juiz pelo autor com a previsão do art. 253, II, do CPC43, ao criar uma regra de competência absoluta do juízo que extingue o processo sem resolução do mérito (art. 267 do CPC) quando essa demanda é novamente proposta. Ainda que essa repropositura seja admissível, considerando-se a ausência de coisa julgada material, não pode servir para o autor escolher o juiz que melhor lhe aproveita, situação vedada pelo princípio do juiz natural. O mesmo ocorre com a proibição de formação de litisconsórcio facultativo ativo ulterior, quando já se sabe quem é o juiz para o caso concreto44.
Por incrível que pareça, a previsão no art. 253, II, do CPC que mantém a competência do juízo do primeiro processo passou a ser utilizada justamente contra seus propósitos: para burlar o princípio do juiz natural. O autor ingressa com ação judicial, obtém tutela de urgência e desiste do processo. Posteriormente, em litisconsórcio com outros sujeitos na mesma situação fático-jurídica, volta a ingressar com o mesmo processo – salvo a pluralidade de autores – e pede a aplicação do dispositivo legal ora comentado. Fica claro que nesse caso os sujeitos que não eram autores no primeiro processo estão escolhendo o juiz, o que viola o princípio do juiz natural, cabendo ao juiz no caso concreto determinar o desmembramento do processo, para que a petição inicial referente aos “novos autores” seja distribuída livremente.
Cumpre observar que regras gerais, abstratas e impessoais não agridem o princípio do juiz natural, de forma que a criação de varas especializadas, câmaras especializadas nos tribunais, foros distritais e as regras de competência por prerrogativa da função são absolutamente admissíveis.
Por outro lado, o princípio do juiz natural proíbe a criação de tribunais de exceção, conforme previsão expressa do art. 5.º, XXXVII, da CF. Significa que não se poderá criar um juízo após o acontecimento de determinados fatos jurídicos com a exclusiva tarefa de julgá-los, sendo que à época em que tais fatos ocorreram já existia um órgão jurisdicional competente para o exercício de tal tarefa. O tribunal de exceção mais famoso da história foi o Tribunal de Nuremberg, criado com a função exclusiva de julgar os crimes nazistas praticados por militares do 3.º Reich após o final da 2.ª Grande Guerra Mundial.
Paralelamente ao princípio do juiz natural, parcela da doutrina indica a existência do princípio do promotor natural, que impede que o Procurador-Geral de Justiça faça designações discricionárias de promotores ad hoc, o que elimina a figura do acusador público de encomenda45, que poderia em tese tanto ser indicado para perseguir o acusado como para assegurar a impunidade de alguém. Registre-se que a restrição aos poderes do Procurador-Geral de Justiça de efetuar substituições, designações e delegações não atinge as hipóteses expressamente previstas em lei, em especial na Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).
Há decisões do Supremo Tribunal Federal que delimitam de forma interessante a abrangência do princípio do promotor natural. A indicação de promotor assistente, para atuar em conjunto com o promotor da causa, não ofende o princípio do promotor natural46, o mesmo ocorrendo com as equipes especializadas de promotores de justiça ou formação de forças-tarefas para determinada área de atividade47. Interessante entendimento afirma que a violação do princípio está condicionada à existência do acusador de exceção, decorrente de manifesta lesão ao pleno e independente exercício das atribuições do Ministério Público, manipulação casuística ou designação seletiva por parte do Procurador-Geral de Justiça48.
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, existem várias decisões que tratam do princípio do promotor natural, reconhecendo sua aplicabilidade no sistema processual brasileiro. Registre-se decisão contraditória de relatoria da Ministra Ellen Gracie que afirma que aquele tribunal não reconhece o postulado do promotor natural como inerente ao direito brasileiro, citando julgado do Tribunal Pleno de 2003 (HC 67.759) que teria consagrado esse entendimento49. Ocorre, entretanto, que tal julgamento diz exatamente o contrário, restando clara a contradição ao constar da decisão mencionada a conclusão de não ter existido no caso concreto a figura do acusador de exceção.
Ao se tratar do tema do presente capítulo é essencial um alerta inicial: a jurisdição é una e indivisível50. Portanto, a única forma de conceber a “divisão” da jurisdição em diferentes espécies é adotando-se determinados critérios com a finalidade meramente acadêmica, sob pena de aceitar a ideia de várias jurisdições e, por consequência, de várias soberanias dentro do mesmo território. De qualquer modo, para fins didáticos, é interessante conhecer as “divisões” sugeridas pela doutrina.
Esse critério de classificação leva em conta a natureza do objeto da demanda judicial. Tratando-se de matéria penal, naturalmente haverá jurisdição penal, e, de forma subsidiária, não sendo o direito material discutido na demanda de natureza penal, a jurisdição será civil. Como se pode notar, a jurisdição civil é bastante ampla, pois abrange, ao menos em tese, todas as matérias que não sejam penais. Fala-se em tese porque parece absolutamente procedente a crítica de parcela da doutrina à limitação da divisão da jurisdição entre penal e civil. Se o critério é a natureza do direito material, por que não se falar também em jurisdição trabalhista, jurisdição eleitoral, jurisdição penal militar51?
A jurisdição inferior é exercida pelo órgão jurisdicional que enfrenta o processo desde o início, ou seja, aquele que tem competência originária para a demanda, enquanto a jurisdição superior é exercida em hipótese de atuação recursal dos tribunais. No tocante aos tribunais é interessante consignar que podem tanto exercer jurisdição superior como inferior, tudo a depender do caso concreto. Todos os tribunais têm ações de sua competência originária, e nesses casos exercem a jurisdição inferior. Da mesma forma, todos os tribunais têm competência recursal, quando então exercerão jurisdição superior.
A jurisdição especial é exercida pelas chamadas “Justiças especiais”, que tem a fixação constitucional de sua competência em virtude da matéria que será objeto da demanda judicial. A Constituição Federal reconhece três: Justiça do Trabalho (arts. 111 a 116), Justiça Eleitoral (arts. 118 a 121); Justiça Militar (arts. 122 a 125, §§ 3.º a 5.º). Residualmente, ou seja, tudo o que não for de competência dessas justiças especiais será de competência da Justiça Comum, falando-se nesse caso de jurisdição comum. A Justiça Comum é composta pela Justiça Federal, cuja competência vem prevista nos arts. 108 e 109 da CF, e pela Justiça Estadual, que tem competência residual dentro do âmbito da Justiça Comum.
A mais tradicional das “divisões” da jurisdição é aquela estabelecida entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária, inclusive sendo a única expressamente consagrada no Código de Processo Civil. A jurisdição tradicional é a contenciosa, sendo excepcional a voluntária, de forma que cabe nesse momento a análise dos elementos que tornam tal espécie de jurisdição excepcional, tão excepcional que para parcela considerável da doutrina nem de jurisdição se trata.
Apesar do nome “jurisdição voluntária”, a doutrina entende que, ao menos em regra, essa jurisdição nada tem de voluntária. Pelo contrário, o que se nota na maioria das demandas de jurisdição voluntária é a obrigatoriedade, exigindo-se das partes a intervenção do Poder Judiciário para que obtenham o bem da vida pretendido. Na jurisdição voluntária está concentrada a maioria das ações constitutivas necessárias, nas quais, conforme já analisado anteriormente, existe uma obrigatoriedade legal de atuação da jurisdição.
É interessante notar que essa obrigatoriedade é decorrência exclusiva da previsão legal, significando uma opção do legislador de condicionar o efeito jurídico de determinadas relações jurídicas, em razão de seu objeto e/ou de seus sujeitos, à intervenção do juiz, provavelmente em razão do status de imparcialidade, retidão de conduta e compromisso com a justiça que supostamente todos os juízes deveriam ter. Aquilo que torna obrigatório e exige uma demanda de jurisdição voluntária é fruto de uma opção político-legislativa, como fica claramente demonstrado com a Lei 11.441/2007, que passou a permitir o inventário, partilha, separação52 e divórcio pela via administrativa, desde que preenchidos os requisitos da lei. Atualmente as partes poderão optar por obter o inventário, partilha, separação e divórcio perante o cartório de registro civil das pessoas naturais ou o Poder Judiciário53. Ainda que se continue a admitir a demanda judicial por jurisdição voluntária, nesses casos não são mais ações constitutivas necessárias e, portanto, não há que falar em obrigatoriedade.
O sistema processual na jurisdição contenciosa é um misto de sistema dispositivo e de sistema inquisitivo, com preponderância do primeiro. É um sistema dispositivo “temperado” com certas regras que lembram o sistema inquisitivo, ao menos no tocante à maior liberdade do juiz em tomar providências não requeridas pelas partes. Na jurisdição voluntária parece que o mesmo fenômeno se repete, não sendo correto imaginar um sistema puramente dispositivo ou inquisitivo. A grande diferença encontra-se na maior carga de inquisitoriedade atribuída ao juiz na formação, condução e decisão da demanda.
Essa maior carga de inquisitoriedade, ainda que não seja o suficiente para afastar de todo o princípio dispositivo, é significativa, podendo ser percebida em determinadas realidades da jurisdição voluntária que não existem na jurisdição contenciosa:
(a) o juiz poderá dar início de ofício a determinadas demandas de jurisdição voluntária, afastando-se o rigorismo do princípio da demanda (inércia da jurisdição)54;
(b) maiores poderes instrutórios do juiz, que poderá produzir provas mesmo contra a vontade das partes55;
(c) o juiz poderá decidir contra a vontade de ambas as partes, o que é impossível na jurisdição contenciosa, na qual alguma das partes deverá ter a sua pretensão acolhida, ainda que parcialmente;
(d) o juiz pode julgar utilizando-se de juízo de equidade, o que será analisado no tópico seguinte.
O PLNCPC mantém o julgamento por equidade no art. 738, parágrafo único, mas expressamente passa a prever no art. 735 que o procedimento de jurisdição voluntária terá início por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, parecendo consagrar também para essa espécie de jurisdição o princípio da demanda, ainda que o dispositivo legal seja praticamente cópia do art. 1.104 do atual CPC, com o acréscimo da Defensoria Pública entre os legitimados ativos.
Segundo previsão expressa do art. 1.109 do CPC, o juiz não é obrigado a observar o critério da legalidade estrita, podendo adotar em cada caso concreto a solução que reputar mais conveniente ou oportuna. A doutrina entende que tal dispositivo consagra a possibilidade de o juiz se valer de um juízo de equidade na solução das demandas de jurisdição voluntária, reconhecendo-se a presença de certa discricionariedade do juiz.
A questão relevante nesse ponto é a definição exata do que seja juízo de equidade, em especial quando comparado com o juízo de legalidade. Para os defensores da teoria da jurisdição voluntária como uma atividade administrativa exercida pelo juiz, a previsão ora analisada afasta o princípio da legalidade, permitindo que o juiz resolva inclusive contra a letra da lei, desde que entenda ser sua decisão mais oportuna e conveniente56. A fundamentação da decisão é relevante nessa situação como forma de justificar a não aplicação da lei. Minoritariamente existe doutrina que defende visão mais restritiva de aplicação do art. 1.109 do CPC, entendendo que o juiz não está totalmente liberado da observância da legalidade, devendo levar em conta a oportunidade e conveniência tão somente na hipótese de a legalidade permitir mais de uma conclusão57.
Com razão a primeira e majoritária corrente doutrinária, ao menos em sua premissa. O dispositivo legal ora analisado é suficientemente claro ao afastar o juízo de legalidade estrita, dando ao juiz discricionariedade para resolver a demanda da forma mais oportuna e conveniente, ainda que contrariamente à lei, sempre observando o que será melhor para as partes e para o bem comum. Isso, entretanto, não significa dizer que tal característica leva à conclusão da natureza administrativa da jurisdição voluntária, porque tanto o juiz de legalidade quanto o de equidade fazem parte da jurisdição, conforme expressa previsão do art. 127 do CPC.
Pela previsão do art. 1.105 do CPC, o Ministério Público deverá ser citado, com todos os interessados, em toda e qualquer demanda de jurisdição voluntária. É evidente o equívoco do dispositivo legal ao determinar a citação do Ministério Público, que, não sendo demandado, será intimado para participar do processo. De qualquer forma, o equívoco não causa grandes reflexos práticos. O mais interessante a respeito do art. 1.105 do CPC concerne a seu alcance.
O art. 736 do PLNCPC corrige o equívoco, prevendo que os interessados serão citados e o Ministério Público intimado, abrindo-lhes prazo para manifestação de dez dias. Infelizmente, o dispositivo continua a não deixar claro se essa intimação se dará nos casos em que a intervenção do Ministério Público decorre de sua função como fiscal da lei ou se a intimação é sempre obrigatória, exclusivamente por se tratar de processo de jurisdição voluntária. A polêmica sobre a amplitude da intervenção, portanto, deve continuar. Tem-se como novidade a previsão contida no art. 737, que determina a intimação da Fazenda Pública sempre que tiver interesse. Como o dispositivo não qualifica a espécie de interesse que proporciona tal intimação, é possível supor que seja algo mais amplo que o interesse jurídico que motivaria seu ingresso como assistente.
A corrente restritiva entende que a participação do Ministério Público nos processos de jurisdição voluntária tem as mesmas justificativas de sua participação na jurisdição contenciosa, sendo a previsão legal ora analisada uma mera repetição e reafirmação do art. 82 do CPC. Para essa corrente doutrinária, portanto, não se justifica um tratamento diferenciado da necessidade de presença do Ministério Público como fiscal da lei, devendo ser o art. 1.105 do CPC aplicado à luz do art. 82 do CPC58.
No entendimento dos adeptos da visão ampliativa, o dispositivo legal deve ser aplicado em sua interpretação literal, sendo exigida a presença do Ministério Público na jurisdição voluntária em toda e qualquer demanda, sem a necessidade do preenchimento de qualquer requisito ou condição no caso concreto. Essa corrente doutrinária faz o seguinte questionamento: sendo aplicável à jurisdição voluntária a regra do art. 82 do CPC, por qual razão existiria a previsão do art. 1.105 do CPC? Nessa visão, portanto, o art. 82 do CPC disciplina a intervenção do Ministério Público na jurisdição contenciosa, o que dependerá do caso concreto, enquanto o art. 1.105 do CPC disciplina a matéria na jurisdição voluntária, sendo a intervenção do Ministério Público obrigatória em toda e qualquer demanda59.
O Superior Tribunal de Justiça se inclina a adotar a corrente restritiva, exigindo a comprovação concreta de uma das causas do art. 82 do CPC para permitir a intervenção do Ministério Público nas demandas de jurisdição voluntária60. Parece ser o entendimento mais correto, porque realmente existem demandas de jurisdição voluntária em que a mera presença do juiz já é um exagero, mas, de qualquer forma, suficiente para a regularidade do procedimento. A presença do Ministério Público nessa espécie de demanda é absolutamente desnecessária. Sempre é possível dizer que o entendimento torna letra morta a previsão do art. 1.105 do CPC e que, se a lei não contém palavras inúteis, quiçá um inteiro dispositivo. Mas esse entendimento mostra-se fruto de um positivismo acrítico, contrário às modernas tendências processuais.
É antigo e disseminado em diversos países o debate a respeito da natureza jurídica da jurisdição voluntária. Para a teoria clássica, também chamada de teoria administrativista, apesar do nome que o fenômeno jurídico recebe, o juiz não exerce atividade jurisdicional na jurisdição voluntária61. Trata-se, na visão dessa corrente, de mera administração pública de interesses privados, exercendo o juiz, portanto, uma atividade administrativa. Pela teoria revisionista, também chamada de jurisdicionalista, apesar de contar com peculiaridades que a distinguem da jurisdição contenciosa, na jurisdição voluntária o juiz efetivamente exerce a atividade jurisdicional62.
O debate que mais interessa ao plano acadêmico do que ao plano prático é fundado em determinadas particularidades da jurisdição voluntária, que seriam para uma parcela da doutrina o suficiente para afastá-la da natureza jurisdicional, enquanto para a outra seria apenas uma consequência natural da existência de duas diferentes espécies de jurisdição. Cumpre analisar os tradicionais argumentos utilizados pela teoria administrativista e o modo pelo qual a teoria jurisdicionalista os examina.
Na jurisdição voluntária não há caráter substitutivo considerando-se que o juiz não substitui a vontade das partes pela vontade da lei quando profere sua decisão, tão somente integrando o acordo de vontade entre as partes para que possa gerar seus regulares efeitos jurídicos. Para os administrativistas, a ausência de substituição seria um dos indicativos da natureza administrativa da atividade exercida pelo juiz63. Ocorre, porém, e tal ponto já foi abordado no Capítulo 1, item 1.4.1, a substitutividade, ainda que possa ser considerada uma característica da jurisdição, não é imprescindível à sua existência, como resta cabalmente demonstrado na execução indireta. A ausência de substitutividade, portanto, não é suficiente para afastar a natureza jurisdicional da atividade desenvolvida pelo juiz.
Na jurisdição voluntária não há propriamente a aplicação do direito material ao caso concreto para resolver um conflito existente entre as partes, até mesmo porque esse conflito não existe. A sentença proferida pelo juiz apenas integra juridicamente o acordo de vontades das partes homologando-o, autorizando-o ou aprovando-o, o que permite que sejam produzidos os efeitos jurídicos previstos em lei e pretendidos pelas partes. Essa realidade é indiscutível, sendo ponto de contato entre as duas correntes que tentam explicar a natureza jurídica da jurisdição voluntária. A divergência encontra-se nas conclusões a respeito de tal realidade.
Para a corrente clássica, a ausência de aplicação do direito material ao caso concreto evidencia a natureza administrativa da atividade judicial, considerando-se que, desde a clássica lição de Chiovenda, a jurisdição é entendida como a atuação da vontade concreta do direito objetivo64. Para a corrente revisionista, trata-se tão somente do escopo jurídico da jurisdição, que de fato não se faz presente na jurisdição voluntária. Como a jurisdição não se limita a tal escopo, existindo ainda o educacional, social e político, e sendo todos eles plenamente alcançáveis na jurisdição voluntária, não haverá como excluí-la da jurisdição65. A doutrina lembra em especial a questão da pacificação social, inegavelmente obtida com a sentença proferida em jurisdição voluntária66.
Não existe na jurisdição voluntária um conflito de interesse entre as partes, porque as vontades são convergentes. Ambas as partes pretendem obter o mesmo bem da vida; têm a mesma pretensão, mas precisam da intervenção do Poder Judiciário para que esse acordo de vontades produza os efeitos jurídicos almejados. Sem esse conflito de interesses não há lide, e sem lide não há jurisdição, conforme concluem os defensores da corrente administrativista. Apesar de concordar parcialmente com a ausência da lide na jurisdição voluntária, não parece correto, conforme já analisado, condicionar a existência de jurisdição à existência da lide. Existe jurisdição sem lide, ao menos sem a lide imaginada por Carnelutti. Tal afirmação já seria suficiente para afastar a natureza administrativa da jurisdição voluntária somente em razão da ausência da lide. Há mais, entretanto.
Mesmo que se admita a inexistência da lide clássica – conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida –, é evidente que há uma insatisfação das partes, que por expressa previsão legal não podem obter o bem da vida desejado sem a intervenção do Poder Judiciário. Significa dizer que, se não existe um conflito de interesses, porque as partes têm vontades convergentes, não resta dúvida de que há uma pretensão resistida, justamente pela previsão da lei que condiciona a obtenção do bem da vida à atuação do juiz. O mais importante não é o conflito em si, mas o estado de insatisfação das partes por terem sua pretensão resistida por uma exigência legal. Essa insatisfação jurídica é exatamente a mesma na jurisdição contenciosa e na voluntária, e, por uma razão ou outra – resistência da parte contrária ou exigência legal de intervenção do juiz –, a parte, ou partes, que pretende(m) obter o bem da vida é(são) obrigada(s) a buscar o Poder Judiciário.
Por outro lado, parcela da doutrina lembra que a inexistência da lide não é absoluta na jurisdição voluntária, bastando recordar as demandas de interdição, nas quais é possível que o interditando esteja em conflito com o interditado, o que fica evidente na comum controvérsia verificável entre ambos no tocante às razões da interdição67. A jurisdição voluntária, portanto, mais do que se afastar da lide, não a utiliza como condição de sua atuação, significando dizer que, havendo ou não a lide, existirá necessidade de atuação judicial por meio da jurisdição voluntária.
Segundo a corrente clássica, na jurisdição voluntária não há partes, somente interessados, porque nela só existem sujeitos, que pretendem obter um mesmo bem da vida e, portanto, não estão em situação antagônica na demanda judicial68. Corrobora o entendimento a expressa previsão dos termos “parte” e “interessado” no art. 2.º do CPC. Apesar de se tratar de uma questão meramente semântica, não trazendo relevância prática chamar os sujeitos que participam de demanda de jurisdição voluntária de partes ou interessados, cumpre observar que em nenhum conceito de parte é possível encontrar a necessidade de que estejam os sujeitos em conflito, em posições antagônicas69. O tema é abordado no Capítulo 3, item 3.3.2, percebendo-se estranho ao conceito de parte tal requisito. É natural que parte contrária só exista se houver parte, até porque não é possível ser contrário ao nada. Mas o raciocínio inverso não é correto, porque mesmo sem parte contrária é possível existir parte, visto que parte venha logicamente antes de parte contrária, não dependendo aquela da existência desta.
Afirma-se na doutrina administrativista que não existe processo na jurisdição voluntária, mas mero procedimento. Nesse tocante, a teoria labora em dois equívocos fundamentais. Primeiro existe processo, porque a regra na jurisdição voluntária é a existência de uma relação jurídica processual que se desenvolva por meio de um procedimento em contraditório, observadas todas as garantias fundamentais do processo70. Procedimento e relação jurídica sempre existirão, sendo que, excepcionalmente o contraditório será afastado, como ocorre nas demandas de jurisdição voluntária probatórias, tais como a justificação, notificação, interpelação e protesto, que não admitem a contestação. A exceção só vem a confirmar a regra.
Por outro lado, não existe somente processo jurisdicional, mas também legislativo e administrativo, sendo o processo tema pertencente à teoria geral do direito. Dessa forma, ainda que se pretenda dar à jurisdição voluntária natureza administrativa, isso não seria o suficiente para concluir pela inexistência de processo. Processo administrativo, se preferirem, mas ainda assim processo71.
Com fundamento na previsão do art. 1.111 do CPC, a teoria administrativista defende a ausência de coisa julgada material na jurisdição voluntária72 e, como consequência, a inexistência de atividade jurisdicional desenvolvida pelo juiz. Ainda que já tenha afirmado que a definitividade não é condição essencial para caracterizar a jurisdição, é interessante enfrentar o tema da ausência de jurisdição em decorrência do disposto no art. 1.111 do CPC, que determina que a sentença poderá ser modificada, sem prejuízo dos efeitos já produzidos, se ocorrerem circunstâncias supervenientes. Será mesmo que tal dispositivo afasta a coisa julgada material da sentença proferida na jurisdição voluntária? Acredito que não.
A técnica utilizada pelo legislador no art. 1.111 do CPC foi a mesma usada no art. 471, I, do CPC, que trata da coisa julgada em sentença que tenha por objeto relações continuativas como a sentença condenatória de alimentos, ou ainda a que fixa o valor do aluguel em demanda revisional73. A melhor doutrina defende que nesses casos existe coisa julgada material, e que mantida a situação fático-jurídica deverão ser mantidas também a imutabilidade e a indiscutibilidade próprias dessa decisão. A modificação superveniente, prevista em lei, cria uma nova causa de pedir (fatos e fundamentos jurídicos do pedido), de maneira que a eventual mudança da sentença não violaria a coisa julgada material. Com uma nova causa de pedir, desaparecem a tríplice identidade e, consequentemente, os efeitos negativos da coisa julgada material.
A sentença proferida em jurisdição voluntária não pode ser absolutamente instável, revogável ou modificável a qualquer momento e sob qualquer circunstância. Alguma estabilidade ela deve gerar, até mesmo por questão de segurança jurídica. Ao aproximar o art. 1.111 do CPC do art. 471, I, do CPC, que indiscutivelmente trata de jurisdição contenciosa, o primeiro dispositivo parece não ser suficiente para se concluir pela inexistência da coisa julgada, tampouco para negar a natureza jurisdicional à jurisdição voluntária.
Aparentemente acolhendo a teoria defendida de existência de coisa julgada material nas decisões de mérito da jurisdição voluntária, o PLNCPC não contém previsão a respeito do tema, sendo lícito concluir que se passará a aplicar nessa espécie de jurisdição as mesmas regras de coisa julgada material aplicáveis à jurisdição contenciosa.
Por tutela jurisdicional entende-se a proteção prestada pelo Estado quando provocado por meio de um processo, gerado em razão da lesão ou ameaça de lesão a um direito material. Como se pode notar desse singelo conceito, a tutela jurisdicional é voltada para o direito material, daí ser correta a expressão “tutela jurisdicional de direitos materiais”. Assim como a jurisdição, a tutela jurisdicional é una e indivisível, mas academicamente permite-se sua classificação em diferentes espécies. A tutela jurisdicional pode ser classificada de diversas formas, bastando para tanto a adoção de diferentes critérios. O objetivo do presente capítulo é a apresentação dos principais critérios de classificação apontados pela doutrina.
É tradicional a lição que associa a tutela jurisdicional à espécie de crise jurídica que o demandante busca solucionar por meio do processo. Adotando-se esse critério, a tutela jurisdicional será de conhecimento (meramente declaratória, constitutiva, condenatória), executiva e cautelar74.
A tutela jurisdicional de conhecimento é apta a resolver três diferentes espécies de crise jurídica:
(a) a tutela meramente declaratória resolve uma crise de certeza; ao declarar a existência, inexistência ou o modo de ser de uma relação jurídica, e excepcionalmente de um fato (autenticidade ou falsidade de documento, art. 4.º, II, do CPC), a sentença resolverá a incerteza que existia a respeito daquela relação jurídica ou excepcionalmente do fato descrito no art. 4.º, II, do CPC;
(b) a tutela constitutiva resolve uma crise da situação jurídica; ao criar, extinguir ou modificar uma relação jurídica, a sentença cria uma nova situação jurídica, resolvendo-se a crise enfrentada pela situação jurídica anterior;
(c) a tutela condenatória resolve uma crise de inadimplemento; ao reconhecer esse inadimplemento e imputar ao demandado o cumprimento de uma prestação, estará resolvida a crise.
Numa demanda de investigação de paternidade o demandante pretende tão somente obter a certeza jurídica a respeito de o demandado ser ou não seu pai, o mesmo ocorrendo numa ação de usucapião, na qual o demandante pretende somente a declaração judicial de que preencheu os requisitos necessários para a aquisição de propriedade por usucapião, afastando qualquer dúvida a esse respeito. Numa demanda de divórcio, o demandante busca a ruptura do laço conjugal porque essa relação jurídica encontra-se em crise, a qual será superada com a criação da nova situação jurídica pretendida (as partes passarão de casadas para divorciadas). O mesmo ocorre numa demanda de revisão contratual, na qual essa relação jurídica passa por uma crise jurídica, que pode ser resolvida com a alteração parcial do contrato. Numa demanda na qual se busca a condenação do réu ao cumprimento de um contrato que tem como objeto qualquer espécie de obrigação (fazer, não fazer, entregar, pagar), bem como numa demanda em que se busca a condenação do réu ao pagamento pelos danos causados num acidente automobilístico, a crise a ser resolvida é de inadimplemento.
Cumpre observar que a classificação ora apresentada está associada à teoria ternária das sentenças, que não reconhecem as sentenças executiva lato sensu e mandamental como espécies autônomas. Essa questão, como o próprio nome sugere, interessa mais ao tema “sentença” e será devidamente desenvolvido em capítulo próprio. Por ora, basta dizer que a tutela jurisdicional entregue pela sentença executiva lato sensu e pela sentença mandamental resolve a mesma espécie de crise jurídica da tutela condenatória, qual seja a crise de inadimplemento. A diferença entre elas estaria na forma de efetivação, o que, naturalmente, já não faz parte da tutela de conhecimento75. O tema será retomado com a profundidade necessária no Capítulo 16, item 16.2.1.
Na tutela executiva o que se busca resolver é uma crise de satisfação, considerando que já existe um direito reconhecido, mas o seu titular não se encontra satisfeito em razão da resistência da parte contrária. Esse reconhecimento pode ser judicial – provisório ou definitivo – ou extrajudicial, bastando que a lei autorize a adoção de medidas executivas na busca da satisfação do direito. Lições tradicionais exigem, para a obtenção dessa espécie de tutela jurisdicional, um título executivo, mas com a possibilidade de execução de decisão interlocutória concessiva de tutela antecipada, espécie de pronunciamento não previsto no art. 475-N do CPC, parcela da doutrina já fala em princípio da “execução sem título executivo”, tema abordado no Capítulo 35, item 35.2. De qualquer forma, havendo autorização judicial para a prática de atos materiais de execução na busca da satisfação do direito, estar-se-á diante da tutela jurisdicional executiva.
Atualmente existem duas formas de obter a tutela executiva: processo autônomo e fase procedimental. Note-se que em ambos os casos haverá execução somente diferenciando-se as formas procedimentais por meio da quais se busca resolver a crise de insatisfação76. Segundo previsão do art. 475-I do CPC, a execução de sentença por meio de mera fase procedimental, que se verifica na “ação sincrética”, é chamada de cumprimento de sentença. A execução da tutela antecipada, que o legislador preferiu chamar de “efetivação”, é tratada pelo art. 273, § 3.º, do CPC, não sendo lógico falar em cumprimento de sentença na hipótese de antecipação de tutela concedida por meio de decisão interlocutória, embora sejam aplicadas no que couber à efetivação da tutela antecipada as regras procedimentais do cumprimento de sentença.
Por meio da tutela cautelar resolve-se uma crise de perigo, o que atualmente ocorre por meio do processo autônomo cautelar ou da concessão de medida cautelar, sem a necessidade de existência de processo autônomo, em mais uma mostra de que o direito pátrio passa seriamente a acreditar nos benefícios do sincretismo processual. As exigências para a dispensa do processo autônomo para a obtenção da tutela cautelar serão objeto de apreciação em capítulo próprio.
Aplica-se à tutela cautelar a tradicional ideia do tempo necessário para a concessão da tutela definitiva, representando um perigo de que essa tutela seja ineficaz. Como a prestação de tutela jurisdicional ineficaz equivale na prática à sua não concessão, para preservar a utilidade do resultado final do processo existe a tutela cautelar, que servirá para criar condições materiais para que a tutela final, ao ser obtida como forma de pretensão principal do demandante, seja eficaz. Da mesma forma ocorre com a tutela antecipada de urgência, que ao satisfazer faticamente também garante a eficácia do resultado final do processo, conforme analisado no Capítulo 50, item 50.2.1.1.
Por fim, cumpre ressaltar que a ideia de sincretismo processual não atinge de forma significativa a classificação ora analisada. Em passado recente, quando a regra era da autonomia das ações, havia a necessidade de um processo autônomo para a obtenção de cada uma das três espécies de tutela (cognitiva, executiva, cautelar). Com o sincretismo processual passa-se a permitir que todas essas tutelas sejam objeto de um mesmo processo, o que, entretanto, não embaralha a classificação proposta, considerando-se que a sua reunião num mesmo processo não é suficiente para confundi-las. O sincretismo é do processo e não da tutela jurisdicional, que manterá a sua individualidade em virtude das diferentes espécies de crise jurídica que cada espécie de tutela jurisdicional resolve.
Por esse critério a tutela jurisdicional é dividida em duas espécies: tutela preventiva (tradicionalmente chamada de inibitória) e tutela reparatória (ressarcitória), sendo a primeira uma tutela jurisdicional voltada para o futuro, visando evitar a prática de ato ilícito, enquanto a segunda está voltada para o passado, visando o restabelecimento patrimonial do sujeito vitimado pela prática de um ato ilícito danoso.
A tutela preventiva é sempre voltada para o futuro, com o porvir, tendo como objetivo impedir a prática de um ato ilícito, o que pode ocorrer de três formas:
(a) evitar a prática originária do ato ilícito, ou seja, impedir em absoluto a ocorrência de tal ato, hipótese na qual a tutela preventiva será conhecida como tutela inibitória pura;
(b) impedir a continuação do ato ilícito, na hipótese de ato ilícito continuado;
(c) impedir a repetição de prática de ato ilícito.
Ao impedir a circulação de um medicamento que não passou pelos procedimentos administrativos de aprovação do Ministério da Saúde, evita-se a prática originária do ato ilícito. Numa hipótese de poluição emitida por uma fábrica, a tutela preventiva estará voltada para que a partir de sua concessão esse ato ilícito seja interrompido. Na veiculação de uma propaganda enganosa que consubstancie um ato ilícito, a tutela preventiva se volta a, no futuro, impedir sua nova veiculação.
Importante notar que, mesmo que exista ato ilícito já praticado, a tutela preventiva não é voltada para essa realidade, que já faz parte do passado e, portanto, será objeto da tutela reparatória. Sempre voltada para o futuro, a tutela preventiva não diz respeito, tampouco gera seus efeitos sobre aquilo que já ocorreu.
A tutela preventiva, apesar de reconhecer o passado, é sempre voltada para o futuro, deixando o já ocorrido a cargo da tutela reparatória. É interessante anotar, inclusive, que a tutela preventiva e a tutela reparatória podem ser objeto de pretensão de um mesmo demandante num mesmo processo. O Ministério Público pode pedir a condenação do réu a parar com a poluição e a reparar o meio ambiente já lesado pela prática do ato ilícito, enquanto uma empresa pode pedir a proibição de veiculação de propaganda ofensiva a seu nome, bem como a condenação pelos danos já suportados pela propaganda já veiculada.
O tema da tutela inibitória é extenso e o seu aprofundamento descaracterizaria o objetivo do presente livro. De qualquer forma, alguns apontamentos se fazem necessários para uma compreensão mínima dessa espécie de tutela jurisdicional.
A tutela inibitória surge historicamente com o objetivo de tutelar direitos materiais que não encontravam na tutela reparatória uma proteção plena, ou, ainda pior, nenhuma proteção. Sendo promessa constitucional a inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5.º, XXXV, da CF), notou-se a imprescindível necessidade de admitir uma tutela ampla e genérica capaz de proteger esses direitos materiais de forma efetiva. Direitos tais como o da integridade física, personalidade, saúde, meio ambiente, patrimônio histórico, entre outros, não encontram na tutela reparatória concretização da promessa constitucional de que nenhum direito agredido ou afrontado será excluído do Poder Judiciário. A fim de fazer valer a inafastabilidade da jurisdição, é aceita a ideia de uma tutela inibitória geral.
Fala-se em tutela inibitória geral porque essa espécie de tutela é antiga conhecida de nosso ordenamento jurídico, mas tradicionalmente era tratada de forma específica, prevista somente para tutelar algumas situações determinadas. O mandado de segurança preventivo, o interdito proibitório, a ação cominatória, são exemplos de tradicionais espécies de tutela inibitória específica de nosso sistema. Atualmente a tutela inibitória geral é uma realidade incontestável de nosso direito processual em virtude das previsões contidas nos arts. 84 do CDC e 461 do CPC.
Ainda que se admita que a tutela inibitória surja para preencher um vácuo deixado pela tutela reparatória, estando voltada para determinados direitos materiais que necessitavam de uma proteção preventiva por meio da jurisdição, logo se notou que, mesmo naqueles casos em que é possível e eficaz a tutela reparatória, pode ser preferível a tutela inibitória. Aplica-se no âmbito jurídico um antigo e conhecido brocardo popular: “melhor prevenir do que remediar”. Não é correto falar de preferência de uma espécie de tutela, mas é indiscutível que mesmo naquelas situações em que cabível a tutela reparatória pode a parte, sempre que possível, optar pela tutela inibitória77.
A tese da tutela inibitória funda-se na exata definição de ato ilícito, cuja prática se pretende evitar. Durante muito tempo condicionou-se a prestação de tutela jurisdicional à existência de um dano, o que até se justificava à época em que se imaginava ser a tutela reparatória a única existente. A dificuldade pode ser facilmente percebida pelo art. 186 do CC, que ao conceituar o ato ilícito indica a necessidade da presença de três elementos: contrariedade ao direito, culpa ou dolo e dano. A imprecisão do dispositivo é evidente, considerando-se que o ato ilícito é tão somente o ato contrário ao direito, sendo alheios ao seu conceito os elementos da culpa ou dolo e do dano. O art. 186 do CC não conceitua o ato ilícito, descreve os elementos necessários para a obtenção da tutela reparatória.
Dessa forma, a tutela reparatória, sempre voltada para o passado, buscando a reparação do prejudicado, demanda ao menos dois elementos: ato contrário ao direito e dano, considerando-se que mesmo na tutela reparatória a culpa ou o dolo podem ser dispensados na hipótese de responsabilidade objetiva. A tutela inibitória, sempre voltada para o futuro, buscando evitar a prática do ato ilícito, preocupa-se exclusivamente com o ato contrário ao direito, sendo-lhe irrelevante a culpa ou o dolo e o dano78.
Cumpre lembrar a tese inteligentemente defendida por Marinoni que diferencia a tutela inibitória da tutela de remoção do ilícito, reconhecendo que ambas são tutelas preventivas, voltadas para o futuro. Para o processualista paranaense existe uma diferença entre efeitos continuados do ato ilícito e a prática continuada do ilícito. Na hipótese de o ato ser continuado, é possível imaginar uma tutela que impeça sua continuação, sendo o caso de tutela inibitória. Por outro lado, é possível que o ato ilícito faça parte do passado, não mais existindo, o que não se pode afirmar quanto aos seus efeitos, que continuam a ser gerados. Nessa hipótese, não se pode falar em evitar a continuação do ato porque o ato ilícito já foi praticado na sua totalidade, por exemplo, no caso de uma propaganda enganosa que já foi realizada e continua a gerar seus efeitos. Será o caso de tutela de remoção do ilícito79.
Determinada empresa despeja lixo tóxico em local proibido. Como se pode notar esse ato ilícito se exauriu, mas seus efeitos continuam a se propagar no presente e futuro. Numa eventual ação coletiva em prol da coletividade com o pedido de condenação da empresa, na obrigação de remover o lixo tóxico indevidamente despejado em local inapropriado, apesar de o ato fazer parte do passado, projeta-se uma proteção para o futuro; será caso de tutela preventiva de remoção do ilícito. Por outro lado, caso a mesma empresa emita como resultado de sua produção poluentes acima do limite legal, a ação coletiva que busca condenar a empresa a colocar filtros em sua chaminé visa impedir a continuação do ato ilícito, tratando-se, portanto, de tutela preventiva inibitória.
Tomando-se por base o critério da coincidência de resultados gerados pela prestação da tutela jurisdicional com os resultados que seriam gerados pela satisfação voluntária da obrigação, a tutela jurisdicional pode ser classificada em tutela específica e tutela pelo equivalente em dinheiro. Na primeira, a satisfação gerada pela prestação jurisdicional é exatamente a mesma que seria gerada com o cumprimento voluntário da obrigação, enquanto na segunda, a tutela jurisdicional prestada é diferente da natureza da obrigação e, por consequência, cria um resultado distinto daquele que seria criado com a sua satisfação voluntária.
Carlos ingressa com demanda judicial contra João, pleiteando a entrega de um carro que tinha sido objeto de empréstimo, sendo certo que depois de vencido o prazo contratual o automóvel não foi devolvido. Na hipótese de Carlos conseguir por meio do processo recuperar o automóvel, o Poder Judiciário terá prestado uma tutela específica, porque essa recuperação gera efeitos práticos idênticos àqueles que seriam gerados se João tivesse cumprido o contrato e devolvido o carro no prazo contratual. Por outro lado, caso o processo não seja meio hábil à recuperação do carro, entregando a Carlos somente o valor do automóvel em dinheiro, não se poderá falar em tutela específica, mas sim em tutela pelo equivalente em dinheiro.
A tutela inibitória é sempre tutela específica porque, ao evitar a prática do ato ilícito, obtém-se o status quo ante, conseguindo o demandante a criação de uma situação que será exatamente a mesma que seria criada caso o demandado tivesse voluntariamente deixado de praticar o ato ilícito. O resultado da tutela inibitória sempre será idêntico àquele que seria criado com o voluntário cumprimento da obrigação80.
Já a tutela reparatória pode ser prestada de forma específica (reparação in natura) ou pelo equivalente em dinheiro, dependendo do caso concreto. Tratando-se de obrigação inadimplida de pagar quantia certa, naturalmente a única forma de a tutela ser prestada será mediante a entrega do valor, sendo correto entender que a única forma de tutela possível nesse caso é a específica, porque, se a obrigação já é de pagar dinheiro, não seria correto dizer que a tutela foi prestada pelo equivalente em dinheiro. O dinheiro é dinheiro e não o “equivalente em dinheiro”. Registre-se apenas a atipicidade gerada pela adjudicação de bens (Capítulo 47, item 47.5.2), considerando-se que nesse caso a obrigação de pagar quantia certa gera a satisfação do credor por meio da entrega do bem penhorado. Nesse caso, como é evidente, não se pode falar em identidade com o cumprimento voluntário da obrigação e, tampouco, em tutela pelo equivalente em dinheiro.
Tratando-se de obrigação inadimplida de fazer, não fazer e entrega de coisa, passa a ser possível a tutela ser prestada tanto de forma específica como pelo equivalente por dinheiro.
Nas obrigações de fazer e de não fazer, o essencial é verificar a natureza do inadimplemento. Sendo o inadimplemento definitivo, o que significa dizer que não existe mais a possibilidade de cumprimento da obrigação, a única tutela jurisdicional possível será a tutela pelo equivalente em dinheiro. Caso ainda exista a possibilidade de cumprimento, quando haverá somente um retardamento no cumprimento da prestação, a tutela poderá ser prestada de forma específica, desde que esse ainda seja o interesse do credor. Nas obrigações de entregar coisa, deve ser analisada a possibilidade de a coisa, objeto da obrigação, ser entregue por meio do processo ao demandante. Sendo isso materialmente possível, caberá tutela específica; em caso contrário, a única tutela cabível será pelo equivalente em dinheiro. Naturalmente que, tratando-se de coisa fungível, a entrega de qualquer bem de mesma condição gera tutela específica, porque nessa espécie de obrigação não há preocupação com o bem exatamente individualizado, mas sim com as suas características gerais.
Marilena e Peter celebraram um contrato que tinha como objeto a pintura de uma casa. Diante do inadimplemento do contrato, Marilena ingressa com demanda contra Peter para condená-lo a realizar a pintura contratualmente prevista, sendo tal obrigação ainda possível de ser cumprida, considerando-se que a casa continua a exigir a pintura. Nesse caso, Marilena pretende a obtenção de tutela específica. Por outro lado, imagine-se que a casa desabou, o que naturalmente tornou a obrigação de pintura materialmente impossível de ser cumprida. Restará à Marilena a tutela reparatória pelo equivalente em dinheiro. Marina celebrou contrato de empréstimo de um computador com Olga, que manteve o computador em seu poder após o vencimento do prazo contratual. Sabendo-se que o computador continua com Olga, Marina poderá pedir uma tutela específica para recuperar seu computador. Por outro lado, caso o computador tenha sido roubado, a recuperação torna-se materialmente impossível, restando à Marina tão somente a tutela pelo equivalente em dinheiro.
Na tutela ressarcitória, a tutela específica é preferível à tutela pelo equivalente em dinheiro, porque essa espécie de tutela é a única que proporciona a efetiva reparação do dano suportado. O processo que entrega ao vitorioso exatamente aquilo que ele obteria se não precisasse do processo, em razão do cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor, certamente é o que entrega a tutela jurisdicional mais efetiva. É a consagração do antigo brocardo consagrado por Chiovenda, de que o processo será tanto melhor quanto mais aproximar seus resultados daqueles que seriam gerados pelo cumprimento voluntário da obrigação (princípio da maior coincidência possível). Ocorre, entretanto, que a preferência da tutela específica sobre a tutela pelo equivalente em dinheiro está condicionada à vontade do demandante, que poderá optar pela segunda espécie de tutela se assim desejar, bem como diante da impossibilidade material de obtenção da tutela específica81. Para parcela da doutrina, ainda que possível, a tutela específica pode ser excluída quando não for justificável ou racional em razão de sua excessiva onerosidade82.
Por fim cabe um breve comentário a respeito do art. 461, caput, do CPC, que prevê nas obrigações de fazer e não fazer a possibilidade do juiz conceder a tutela específica ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento da obrigação. Como demonstra a melhor doutrina, o texto legal faz parecer que tutela específica e resultado equivalente são espécies diferentes de tutela jurisdicional, quando, na realidade, a liberdade concedida ao juiz para a obtenção do resultado prático equivalente é voltada justamente para a obtenção da tutela específica dos direitos materiais83.
O Ministério Público ingressa com ação civil pública pedindo a condenação do réu a diminuir seu tempo de produção em uma hora por dia, afirmando que com essa atitude se obterá uma diminuição de 30% dos agentes poluentes emitidos, o que fará com que o réu limite sua atuação poluente aos limites legais. O juiz acolhe o pedido e condena o réu a instalar determinados filtros em sua chaminé, o que não é exatamente o que pediu o autor (diminuição do tempo de produção), mas que gerará um resultado prático equivalente (diminuição de 30% dos agentes poluentes). Como se pode notar, no plano prático, tanto o pedido especificamente formulado pelo Ministério Público como a condenação representam tutela específica, considerando-se atingem um resultado prático que seria obtido pelo cumprimento voluntário da obrigação do réu de não poluir acima do limite legal.
Adotando-se como critério a espécie de procedimento, a tutela jurisdicional é dividida em tutela comum e tutela diferenciada. A tutela comum é aquela prestada pelo procedimento ordinário, que serve como o procedimento padrão oferecido pela lei. Ocorre, entretanto, que nem sempre esse procedimento único é capaz de solucionar de forma eficaz todas as espécies de crises de direito material que são levadas ao Poder Judiciário por meio de processo. Costuma-se dizer, por analogia, que, se não é possível curar todas as doenças com um mesmo remédio, por certo não será um único procedimento capaz de proporcionar tutela jurisdicional de qualidade para todas as situações. Com essa percepção, surge a tutela diferenciada.
Por tutela diferenciada volta-se o processualista às exigências do direito material apresentadas no caso concreto. Nota-se que, apesar de serem ciências autônomas, o direito processual e o direito material estão ligados de maneira indissociável, servindo o processo como instrumento estatal de efetiva proteção ao direito material. Como as várias crises de direito material têm diversas particularidades, é necessário percebê-las, adequando-se o procedimento no caso concreto para que a tutela jurisdicional seja efetivamente prestada com a qualidade que dela se espera. Tutela jurisdicional diferenciada, assim, representa a adoção de procedimentos e técnicas procedimentais diferenciadas à luz das exigências concretas para bem tutelar o direito material84.
Não há dúvida de que a técnica de procedimentos especiais é uma demonstração de adoção pelo legislador da tutela diferenciada, sendo explicação corrente na doutrina que a adoção de tais procedimentos especiais decorre das particularidades das situações de direito material que o processo pretende tutelar85. É interessante notar que em regra os procedimentos especiais previstos pelo Código de Processo Civil tratam de matérias reguladas pelo Código Civil (por exemplo, consignação em pagamento, prestação de contas, ações possessórias, inventário). Também são criados procedimentos especiais que de alguma forma utilizam técnicas contra a complexidade e a consequente morosidade do procedimento ordinário, como é o caso do procedimento monitório, do mandado de segurança etc.
Por vezes não é propriamente criado um novo procedimento, mas adotadas técnicas procedimentais no procedimento comum que descartam fases procedimentais desnecessárias e incompatíveis com a celeridade processual86. São exemplos: a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na revelia, a possibilidade de julgamento antecipado do mérito em razão da desnecessidade de produção probatória, o pressuposto de admissibilidade da apelação que impede a recebimento do recurso quando a sentença está fundamentada em súmula de tribunais.
Além disso, reconhecendo-se mais uma vez que a estrutura complexa do procedimento comum pode colocar em perigo a efetividade da tutela jurisdicional, coloca-se à disposição das partes uma tutela de urgência ampla e genérica – cautelar e tutela antecipada – cabível sempre que a demora do procedimento ordinário representar um perigo à eficácia da tutela87.
Existem, portanto, procedimentos especiais e técnicas procedimentais previstas pelo legislador a par do procedimento ordinário, mas é preciso reconhecer que, por mais inventivo que seja o legislador, nunca lhe será possível considerar todas as especialidades de todas as situações de direito material a exigirem um tratamento diferenciado no processo.
Dessa forma, também contribui para a tutela diferenciada uma maior liberdade concedida pela lei para que o juiz possa realizar algumas adaptações no caso concreto para colocar o processo efetivamente a serviço do direito material. É natural que essa liberdade nunca será ampla e irrestrita, o que geraria uma insuportável insegurança jurídica, mas em algumas situações o legislador entende que será proveitosa a concessão de uma maior liberdade procedimental ao juiz no caso concreto. Nos arts. 461 e 461-A do CPC, que tratam da execução de decisão judicial – provisória ou definitiva – que tenha como objeto a condenação a um fazer, não fazer ou entregar coisa, não existe a previsão de um procedimento executivo. As normas referidas somente preveem as medidas executivas de sub-rogação e de execução indireta, de forma exemplificativa, a serem utilizadas de acordo com a percepção do juiz diante das necessidades do caso concreto, que são percebidas pelo juiz, a adoção de uma ou outra.
Quando analisada sob a ótica vertical, ou em sua profundidade, a cognição pode ser sumária ou exauriente. Uma tutela concedida mediante cognição sumária é fundada em um juízo de probabilidade, considerando que nessa espécie de cognição o juiz não tem acesso a todas as informações necessárias para se convencer plenamente da existência do direito. Já uma tutela concedida mediante cognição exauriente é fundada em um juízo de certeza, porque nesse caso a cognição do juiz estará completa no momento da prolação de sua decisão88.
Os binômios “cognição sumária-juízo de probabilidade” e “cognição exauriente-juízo de certeza” geram diferentes espécies de tutela jurisdicional: provisória no primeiro caso e definitiva no segundo.
Há, portanto, tutela definitiva na prolação da sentença em primeiro grau, do acórdão e das decisões monocráticas que substituem os acórdãos nos tribunais. Note-se que a circunstância de a decisão proferida com tutela definitiva ser passível de recurso não retira dela a definitividade à luz do grau vertical de cognição. Ela não será, por certo, processualmente definitiva se houver o recurso, mas nesse caso o órgão que proferiu a decisão não participará do novo julgamento, o que demonstra que perante ele a tutela é definitiva.
Por outro lado, há tutela provisória em decisões interlocutórias e até finais, sempre que o julgamento esteja fundado em mero juízo de probabilidade em decorrência da cognição sumária desenvolvida pelo juiz. Tradicionalmente, a tutela provisória é associada às tutelas de urgência, afirmando-se que as liminares, tutela antecipada e tutela cautelar são fundadas em cognição sumária em razão dos requisitos necessários à sua concessão. É até lógico que, sendo a tutela de urgência, não haja tempo suficiente para uma cognição exauriente, devendo o juiz decidir com base em juízo de probabilidade sob pena de tutelar o direito tarde demais.
Também há cognição sumária e, por consequência, tutela provisória na tutela de evidência, que dispensa como requisito para sua concessão o perigo do tempo como causa da ineficácia da tutela. Atualmente, podem ser mencionadas como espécies de tutela de evidência a tutela antecipada, prevista no art. 273, II e § 6.º, do CPC (ainda que nesse caso haja divergência enfrentada no Capítulo 51.3), a liminar prevista para as ações possessórias e a ação monitória. Em nenhuma delas é exigido o perigo do tempo como inimigo, mas em todas há uma considerável probabilidade de o direito existir, o que, em um juízo de cognição sumária, permite a concessão de tutela provisória.
No PLNCPC a tutela provisória passa a ser chamada de tutela antecipada, podendo ser de urgência (satisfativa ou cautelar) e de evidência. A tutela de evidência recebeu um Capítulo próprio, ainda que contendo apenas um artigo, diferente da realidade presente no CPC/1973, em que essa espécie de tutela está espalhada pelo diploma legal. E passou a ser chamada de tutela antecipada de evidência. A iniciativa deve ser elogiada, principalmente por afastar expressamente a tutela de evidência da tutela de urgência, mas sua concretização deve ser, ainda que parcialmente, criticada.
O art. 306, caput, do PLNCPC consagra expressamente o entendimento de que tutela de evidência independe da demonstração de perigo da demora da prestação da tutela jurisdicional, em diferenciação clara e indiscutível com a tutela de urgência.
Aparentemente, o inciso I do artigo ora comentado apenas realocou uma hipótese de tutela de evidência que, no CPC/1973, estava prevista como tutela antecipada (de urgência, portanto). Mas não foi bem isso que ocorreu. A tutela prevista equivocadamente no art. 273, § 6.º, do CPC/1973 resulta da combinação dos requisitos previstos no caput e inciso II do dispositivo, de forma que não basta que fique caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, sendo também exigida a prova inequívoca da verossimilhança da alegação. É, portanto, a probabilidade de o autor ter o direito alegado somada à resistência injustificada do réu que justifica a concessão dessa espécie de tutela provisória.
Da forma como ficou redigido o art. 306, I, do PLNCPC, restou como requisito para a concessão da tutela de evidência somente o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, o que parece contrariar até mesmo o espírito dessa espécie de tutela. Difícil acreditar que o autor tenha direito a uma tutela, ainda que provisória, somente porque o réu se comporta indevidamente no processo, sem que o juiz tenha qualquer grau de convencimento da existência do direito do autor. Parece-me extremamente temerário, como simples forma de sanção processual, conceder a tutela de evidência sem que haja probabilidade de o autor ter o direito que alega. Mas, infelizmente, ruma nesse sentido o dispositivo ora comentado.
O inciso II do art. 306 traz nova hipótese de tutela de evidência, inexistente no sistema do CPC/1973: se as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Fica nessa segunda hipótese evidenciada a necessidade de probabilidade de existência do direito do autor, elemento essencial da tutela de evidência. O legislador tomou o cuidado de exigir essa probabilidade tanto no aspecto fático como jurídico, exigindo prova documental para comprovar os fatos alegados e tese jurídica já firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.
É verdade que o legislador poderia ter sido mais incisivo na abrangência do dispositivo, considerando também as súmulas persuasivas e a jurisprudência dominante, ainda que somente dos tribunais superiores, como ocorre no julgamento liminar de improcedência (art. 333, I, do PLNCPC). Ou ainda se valido da mesma técnica utilizada para prever outra hipótese de julgamento liminar de improcedência, com fundamento em súmula de tribunal de justiça sobre direito local (art. 333, V, PLNCPC). Afinal, se para conceder tutela definitiva liminarmente basta súmula persuasiva de tribunal superior, é contraditório exigir para a concessão de tutela provisória uma tese consagrada em súmula vinculante.
Por outro lado, sendo os fatos alegados pelo autor provados documentalmente, salvo na hipótese de o réu alegar defesa de mérito indireta, com fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, que demande produção de prova oral ou pericial, essa hipótese de tutela de evidência só terá sentido se for concedida liminarmente, porque após a citação e defesa do réu será caso de julgamento antecipado da lide.
A última hipótese prevista de tutela de evidência vem prevista no inciso III do art. 306: quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. A probabilidade da existência do direito mais uma vez decorre de prova documental produzida pelo autor, nesse caso de forma mais específica a espécie de pedido (reipersecutório) e ao tipo de documento (contrato de depósito). A expressa previsão de multa para pressionar psicologicamente o réu a entregar o bem é desnecessária, porque em toda e qualquer obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa é cabível a aplicação da multa cominatória (astreintes).
Já que o legislador criou um artigo para prever as hipóteses de tutela antecipada de evidência deveria ter tido o cuidado de fazer uma enumeração mais ampla, ainda que limitada a situações previstas no Código de Processo Civil. Afinal, a liminar da ação possessória, mantida no PLNCPC, continua a ser espécie de tutela de evidência, bem como a ação monitória, e nenhuma delas está prevista no art. 306. A única conclusão possível é que o rol de tal dispositivo legal é meramente exemplificativo.
Certamente, pensando em termos de tutela diferenciada, o PLNCPC original previa em seu art. 151, § 1.º, um amplo poder para o juiz determinar o procedimento no caso concreto. Segundo constava do dispositivo legal, quando o procedimento ou atos previstos em lei mostrarem-se, no caso concreto, inadequados, o juiz terá o poder de determinar os necessários reajustes, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido o art. 107, V, ao admitir ao juiz a adequação das fases e dos atos processuais às especificações do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do bem jurídico, respeitando sempre o contraditório e a ampla defesa.
Apesar de reconhecer a inegável inovação do dispositivo legal, sempre me pareceu incerto que o resultado do aumento de poderes do juiz para fixar o procedimento no caso concreto seja positivo. Ainda que o projeto demandasse o respeito ao contraditório e a ampla defesa, o que seria o suficiente para afastar a eventual surpresa das partes, é de se perguntar até que ponto a liberdade concedida ao juiz não criaria insegurança jurídica e, eventualmente, quebra da isonomia.
Esse receio foi comungado por parcela considerável dos operadores do direito, gerando uma das críticas mais contundentes contra as reformas constantes do PLNCPC. O “levante” parece ter funcionado, considerando-se que na atual redação a regra presente no art. 151, § 1.º, foi suprimida e a do art. 107, V, remodelada, constando, atualmente, do projeto que, nos termos do art. 139, VI, o juiz pode dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do bem jurídico.
Não há dúvida de que o projeto aprovado na Câmara restringiu os poderes do juiz, mas ainda assim o art. 139, VI, deixa dúvidas: poderá o juiz aumentar os prazos processuais considerados peremptórios quando entender que eles são insuficientes, mesmo que não configure a hipótese prevista no art. 222, caput, do PLNCPC? E o prazo de dois meses, previsto nesse dispositivo, poderá ser superado? Caberá aos operadores do Direito tais respostas, que naturalmente só poderão ser dadas após longo tempo de maturação, lapso temporal esse que promete causar calafrios naqueles que atuam no processo, em especial os patronos das partes. Ao menos o art. 222, § 1.º, proíbe o juiz reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes.
Há uma interessante novidade no PLNCPC quanto à adequação procedimental às condições do caso concreto. O art. 191 prevê em seu caput a possibilidade de as partes, desde que plenamente capazes e em causa que verse sobre direitos que admitam a autocomposição, antes ou durante o processo, convencionarem sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. O acordo nesse caso terá como objeto as situações processuais das partes. Ainda que o dispositivo não mencione expressamente o procedimento, é natural que a convenção sobre as situações jurídicas elencadas possa, ainda que indiretamente, influenciar o procedimento.
Mais explícito a respeito do tema ora versado é o § 1.º do art. 191, ao permitir que as partes e o juiz, de comum acordo, estipulem mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa. Trata-se de interessante novidade, ainda que o procedimento acordado entre as partes dependa da anuência do juiz, além de respeitar os limites impostos pelo § 4.º do mesmo dispositivo, que permite ao juiz recusar a convenção nos casos de nulidade ou inserção abusiva em contrato de adesão ou no qual qualquer parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.
Quanto à nulidade do acordo procedimental, há dois interessantes Enunciados do II Encontro dos Jovens Processualistas: Enunciado n.º 15: “O controle dos requisitos objetivos e subjetivos de validade da convenção de procedimento deve ser conjugado com a regra segundo a qual não há invalidade do ato sem prejuízo”; Enunciado n.º 17: “Há indício de vulnerabilidade quando a parte celebra acordo de procedimento sem assistência técnico-jurídica”.
Conforme já se manifestou a melhor doutrina, estão entre os poderes de convenção o poder de não recorrer, ou acordo de instância, de forma que as partes convencionem que o processo será decidido definitivamente somente em uma determinada instância. Esse entendimento afastará a resistência atual na admissão da renúncia prévia ao direito recursal, ainda que realizada mediante acordo das partes89.
As partes não terão, portanto, a mesma liberdade que têm na arbitragem, quando podem livremente determinar o procedimento a ser observado, mas já é um avanço as partes poderem contribuir com o juiz na tentativa de adequar o procedimento às exigências do caso concreto.
Por outro lado, apesar de o caput do dispositivo ora comentado incluir os deveres processuais entre as situações processuais que podem ser objeto de acordo, não parece crível que as partes possam acordar pelo afastamento de seus deveres. Basta imaginar as partes convencionarem sobre o dever de boa-fé e lealdade processual, transformando o processo em verdadeira “terra de ninguém”, obrigando o juiz a aceitar todo tipo de barbaridades sem poder coibir ou sancionar tal comportamento. Nesse sentido é o correto Enunciado n.º 06 do II Encontro de Jovens Processualistas (IBDP): “O negócio jurídico processual não pode afastar os deveres específicos das partes e procuradores, tais como os previstos nos arts. 77 e 78”. O que não significa que as partes não possam prever deveres e sanções concernentes ao descumprimento da convenção (Enunciado 16 do II Encontro dos Jovens Processualistas (IBDP)).
Há três Enunciados do II Encontro de Jovens Processualistas (IBDP) que tentam, por meio de exemplo, definir os limites do acordo procedimental: Enunciado n.º 18: “São admissíveis os seguintes negócios processuais bilaterais, dentre outros: pacto de impenhorabilidade, acordo bilateral de ampliação de prazos das partes, acordo de rateio de despesas processuais, dispensa consensual de assistente técnico, acordo para retirar o efeito suspensivo da apelação, acordo para não promover execução provisória”; Enunciado n.º 19: “Não são admissíveis os seguintes negócios bilaterais, dentre outros: acordo para modificação da competência absoluta, acordo para supressão da 1.ª instância”; Enunciado n.º 20: “São admissíveis os seguintes negócios plurilaterais, dentre outros: acordo para realização de sustentação oral, acordo para ampliação do tempo de sustentação oral, julgamento antecipado da lide convencional, convenção sobre prova, redução de prazos processuais”.
Outra novidade do dispositivo é a fixação de um calendário para a prática dos atos processuais90, o qual, nos termos do art. 191, § 2.º, PLNCPC, vincula as partes e o juiz. Nesse caso, o § 3.º prevê que a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário será dispensada. Eventual modificação dos prazos fixados nos calendários é excepcional, devendo ser justificada pelo juiz.
A tutela jurisdicional individual é a tutela voltada à proteção dos direitos materiais individuais, sendo fundamentalmente regulamentada pelo Código de Processo Civil, além, é claro, de diversas leis extravagantes, tais como a Lei de Locações, Lei dos Juizados Especiais, Lei de Execução Fiscal etc. A tutela jurisdicional coletiva, entretanto, não se resume à tutela de direitos coletivos, ainda que admitida a expressão “direitos coletivos lato sensu” para designar as espécies de direito material protegidas por essa espécie de tutela.
Dessa forma, a tutela coletiva deve ser compreendida como uma espécie de tutela jurisdicional voltada à proteção de determinadas espécies de direitos materiais. A determinação de quais esses direitos é tarefa do legislador, não havendo uma necessária relação entre a natureza do direito tutelado e a tutela coletiva. Significa que mesmo direitos de natureza individual podem ser protegidos pela tutela coletiva, bastando para isso que o legislador expressamente determine a aplicação desse tipo de sistema processual – microssistema coletivo – a tais direitos. Essa parece ser a opção do sistema pátrio, ainda que parcela da doutrina teça críticas a tal ampliação do âmbito de aplicação da tutela coletiva91.
É exatamente o que ocorre com o direito individual homogêneo, que, apesar da natureza individual, é objeto de tutela coletiva por expressa previsão do Código de Defesa do Consumidor92. O mesmo ocorre com os direitos individuais indisponíveis do idoso (arts. 15, 74 e 79 da Lei 10.741/2003), criança e adolescente (arts. 11, 201, V, 208, VI e VII, da Lei 8.069/1990), desde que a ação coletiva seja promovida pelo Ministério Público93.
As variadas espécies de direito material protegidas pela tutela coletiva, tanto de natureza transindividual (difuso e coletivo) como de natureza individual (homogêneo ou indisponíveis em situações excepcionais), não desvirtuam a tutela jurisdicional coletiva porque, apesar de limitada a determinados direitos, a tutela jurisdicional coletiva é una, sendo aplicada a todos eles de maneira basicamente indistinta. É natural que existam algumas particularidades que devem ser sempre consideradas no caso concreto94, mas nunca aptas a desvirtuar o núcleo duro dessa espécie de tutela jurisdicional. Significa que, apesar de alguma influência em decorrência da espécie de direito tutelado, as principais regras que compõem o microssistema coletivo serão aplicadas a todas as ações coletivas, independentemente da espécie de direito material tutelado.
A tutela jurisdicional coletiva, portanto, nada mais é que um conjunto de normas processuais diferenciadas (espécie de tutela jurisdicional diferenciada95), distintas daquelas aplicáveis no âmbito da tutela jurisdicional individual. Institutos processuais, como a competência, a conexão e a continência, legitimidade, coisa julgada, liquidação da sentença etc., recebem na tutela coletiva um tratamento diferenciado, variando o grau de distinção do tratamento dispensado pelos mesmos institutos no Código de Processo Civil.
O PLNCPC manteve a tradição do CPC/1973 de regulamentar a tutela do direito individual, sendo aplicável ao microssistema coletivo apenas de forma subsidiária. Há, entretanto, uma novidade que acaba dizendo respeito à tutela coletiva: a conversão da ação individual em ação coletiva prevista no art. 334 do PLNCPC.
Nos termos do art. 334, caput, do PLNCPC, havendo relevância social e dificuldade de formação do litisconsórcio, a ação individual poderá ser convertida em ação coletiva desde que: (I) tenha alcance coletivo, em razão da tutela de bem jurídico difuso ou coletivo, assim entendidos aqueles definidos pelo art. 81, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, cuja ofensa afete, a um só tempo, as esferas jurídicas do indivíduo e da coletividade; (II) tenha por objetivo a solução de conflito de interesse relativo a uma mesma relação jurídica plurilateral, cuja solução, pela sua natureza ou por disposição de lei, deva ser necessariamente uniforme, assegurando-se tratamento isonômico para todos os membros do grupo.
Ainda que a simples leitura dos incisos mencionados já seja suficiente para tal conclusão, o legislador consagrou expressamente a impossibilidade da conversão ora analisada para a formação de processo coletivo para a tutela de direitos individuais homogêneos. Também não será admitida a conversão nas hipóteses previstas pelo § 3.º: (I) já iniciada, no processo individual, a audiência de instrução e julgamento; (II) houver processo coletivo pendente com o mesmo objeto; ou (III) o juízo não tiver competência para o processo coletivo que seria formado.
A hipótese prevista no art. 334, I, do PLNCPC trata de situações fáticas que concomitantemente ofendem direitos de diferentes naturezas96, exigindo-se no caso a ofensa ao direito individual do autor e da coletividade (direito difuso) ou de uma comunidade (direito coletivo).
E nesse caso entendo que a dificuldade de formação do litisconsórcio, prevista no caput do dispositivo, deve ser afastada como requisito necessário para a conversão, mantendo-se apenas a exigência de relevância social. Não vejo impedimento à conversão ora analisada a circunstância de o ato ilícito afetar apenas um indivíduo e a coletividade ou comunidade. Na realidade nem seria caso de litisconsórcio, mas não teria lógica vetar a conversão. Nesse sentido, o Enunciado n.º 36 do II Encontro dos Jovens Processualistas (IBDP): “É presumida a relevância social na hipótese do inciso I do art. 334, sendo dispensável a verificação da “dificuldade de formação do litisconsórcio”.
Por exemplo, o vizinho de uma fábrica que não tem vizinhos próximos e sofre diretamente os efeitos da emissão de poluentes acima do limite legal ingressa com ação individual para pedir tutela inibitória, tendo como objetivo a tomada de providências para impedir a continuação do ato ilícito. É claro que nesse caso o pedido do indivíduo tem alcance difuso, considerando que a tomada das medidas pretendidas atenderá a toda a coletividade, titular do direito difuso a um meio ambiente equilibrado. E nesse caso pouco importa que o autor seja um vizinho da fábrica que vive isolado (nesse caso não há litisconsórcio a ser formado) ou um vizinho que vive com inúmeros outros ao lado da fábrica (nesse caso haveria dificuldade na formação do litisconsórcio).
Ademais, entendo que deve ser bem compreendido o “alcance coletivo” do pedido individual.
Naquilo que se chama de ação pseudoindividual há apenas uma aparência de tutela de direito individual, quando na realidade está-se tutelando o direito da coletividade ou de um grupo, classe ou categoria de pessoas. Nesse caso, a tutela jurisdicional concedida ao autor da ação em virtude da procedência de seu pedido gera efeitos ultra partes ou erga omnes, tutelando na realidade um direito difuso ou coletivo, para os quais, naturalmente, o indivíduo não tem legitimidade ativa para tutelar.
Os exemplos são variados: Um cadeirante que ingressa com ação judicial para obrigar a Municipalidade a oferecer, em um determinado trajeto, veículo com as especificidades necessárias ao seu transporte; um morador que, incomodado com o transtorno que uma feira livre lhe causa, ingressa com ação judicial para proibir sua realização; um sujeito que, inconformado com uma propaganda enganosa, que fere sua inteligência e boa-fé, ingressa com ação judicial para retirá-la dos meios de comunicação; um sujeito que, entendendo que determinada intervenção em monumentos mantidos em praças públicas viola o seu direito de apreciar o patrimônio histórico e cultural, ingressa com ação para proibir tal conduta; um ouvinte de rádio que ingressa com ação para retirar a “Voz do Brasil” da programação com o argumento que tem o direito de ouvir músicas e informações no tempo que dura o programa oficial.
Imprescindível nesse caso é distinguir se o direito do autor é realmente um direito individual, considerando-o como indivíduo, ou se tal direito lhe pertence não como indivíduo, mas como membro da coletividade ou de uma comunidade. Não é preciso grande esforço para se concluir que em todos os exemplos narrados acima o direito do autor não é individual, porque, por mais justificáveis que sejam suas pretensões, os direitos pleiteados não têm o indivíduo como titular, mas a coletividade, um grupo, classe ou categoria de pessoas. O autor, nesse caso, como membro dessa coletividade ou comunidade, tem o direito de ser tutelado, isso não se discute, mas não como indivíduo, e sim como sujeito pertencente à coletividade ou comunidade.
Parece haver um consenso doutrinário de que tais situações melhor seriam tuteladas pela ação coletiva97, pelas nítidas e indiscutíveis vantagens dessa espécie de tutela. Entendo, entretanto, que a questão não deve ser tratada no âmbito da adequação, mas da admissibilidade. Não vejo como admitir uma ação pseudoindividual, com a justificativa no direito constitucional de inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5.º, XXXV, da CF), porque esse princípio deve respeito às condições da ação. Tal princípio não será violado se o autor da ação judicial não reunir no caso concreto as condições necessárias ao exercício do direito de ação.
Trata-se, na realidade, de impedimento ao exercício de direito de ação em razão da ilegitimidade ativa do autor em tutelar em juízo um direito difuso ou coletivo98. Em nada ajuda à tese contrária a afirmação de que a ação é individual porque assim foi formulada a fundamentação do autor, afinal, ele não pede tutela para os outros, limitando-se a pretender ser individualmente tutelado. O que determina a falsa natureza individual dessa ação é a natureza do direito tutelado, em nada importando a forma de narrativa da causa de pedir pelo autor e/ou de seu pedido.
Por outro lado, conforme corretamente ensinado pela melhor doutrina, esse tipo de ação pseudoindividual conduz a uma apreciação incompleta da questão, cria assimetria porque a coisa julgada opera-se inter partes e pode desorganizar políticas públicas, por meio do comprometimento do orçamento público em desfavor de toda a coletividade99.
Acredito que, nesse caso, a conversão da ação individual não só é possível, mas indispensável, porque o autor não tem legitimidade para levar adiante por meio de um pedido em uma ação individual. A conversão em ação coletiva, com o ingresso no polo ativo de um legitimado coletivo, será a única forma de evitar a extinção da ação individual por sentença terminativa, o que deve ser prestigiado em razão do princípio do interesse no julgamento do mérito.
Outra é a situação criada quando um mesmo ato ilícito ofende direito genuinamente individual e direito difuso ou coletivo. Nesse caso, não há como negar que o indivíduo provavelmente tenha dois direitos no caso concreto: como indivíduo e como membro da coletividade ou comunidade. Exemplo lembrado pela doutrina é o pedido elaborado em ação individual em razão de poluição que está atingindo diretamente o vizinho da fábrica, que, inclusive, já apresenta concretos problemas de saúde associados à poluição100. Nesse caso, há nitidamente um direito individual associado à saúde do autor, de natureza individual, e um direito difuso referente ao meio ambiente equilibrado, de natureza difusa.
O sujeito lesionado em sua saúde indiscutivelmente não tem legitimidade para tutelar o meio ambiente, mas é inegável que o tem para tutelar sua própria saúde. Em situações como essa, parece não ser correta a tese da inadmissibilidade da ação individual. O sujeito nesse caso é titular de um direito individual, independentemente de os direitos de natureza transindividuais também estarem sendo lesionados pelo mesmo ato ilícito. A ofensa ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional nesse caso seria decorrência inexorável da admissibilidade da ação individual.
Uma vez sendo julgada procedente a ação individual, com a tutela individual pleiteada pelo autor, haverá uma geração de efeitos que ultrapassará as partes, atendendo a coletividade ou uma comunidade. Essa tutela decorrerá de uma mera circunstância de fato, e não de direito, porque, nesse caso, o autor da ação individual não tem legitimidade para defender o direito da coletividade ou da comunidade em juízo101. É preciso reconhecer, entretanto, que, apesar de a tutela não decorrer do direito, mas de fato, e ser gerada apenas de forma reflexa, o resultado de uma ação individual terá tutelado um direito difuso ou coletivo.
Nesse caso não se pode negar a legitimidade do indivíduo que propôs a ação tampouco sua natureza individual, mas é de todo inconveniente que a ação siga conforme foi proposta, porque nesse caso o autor estará, ainda que indiretamente, tutelando um direito difuso e coletivo, para o que não tem legitimidade, por meio de uma ação individual, que não será regida pelo microssistema coletivo.
Registre-se apenas que, mesmo havendo uma violação a direitos transindividuais e individuais derivada de um mesmo ato ilícito, é possível que a ação individual proposta tenha pedido de alcance meramente individual, o que não permitirá sua conversão em ação coletiva. No exemplo já dado de emissão de poluentes, basta que o vizinho da fábrica limite sua pretensão na ação individual a tutela reparatória, que, uma vez concedida, beneficiará somente a ele, não tendo qualquer reflexo na coletividade.
O art. 334, § 9.º, do PLNCPC confirma esse entendimento ao prever que a conversão poderá ocorrer mesmo que o autor tenha cumulado pedido de natureza estritamente individual, hipótese em que o processamento desse pedido dar-se-á em autos apartados. Ainda dentro do exemplo, seria o caso de o vizinho ter cumulado em sua ação individual os pedidos de tutela reparatória (alcance individual) e inibitória (alcance coletivo).
A segunda hipótese de conversão, prevista pelo art. 334, II, do PLNCPC é de mais difícil compreensão. Ao tratar de uma mesma relação jurídica plurilateral, cuja decisão deva ser uniforme para todos os membros do grupo em razão de disposição legal ou por sua natureza, o dispositivo parece indicar típica hipótese de litisconsórcio facultativo unitário. O objetivo da conversão de dar a todos um tratamento isonômico é nobre, mas o problema prático é como desvincular essa hipótese daquela já prevista no inciso I do dispositivo legal. Porque, se a relação jurídica conflituosa é incindível, devendo ser decidida uniformemente para todos os membros que compõem o grupo, o pedido do autor terá alcance coletivo.
Em termos procedimentais, são legitimados a pedir a conversão o Ministério Público, a Defensoria Pública (previstos no caput do art. 334 do PLNCPC) e os demais legitimados coletivos previstos nos arts. 5.º da LACP e art. 82 do CDC (previstos no § 1.º). Sendo incomum que os legitimados coletivos participem da ação individual – excepcionalmente o Ministério Público pode funcionar como fiscal da ordem jurídica –, pode-se questionar como esses sujeitos tomariam conhecimento do processo para nele intervir pedindo a conversão ora analisada.
Como forma de aumentar consideravelmente a possibilidade de conversão da ação individual em ação coletiva, é elogiável o Enunciado n.º 38 do II Encontro dos Jovens Processualistas (IBDP): “É dever do juiz intimar os legitimados do art. 334 do CPC para, se for o caso, requerer a conversão, aplicando-se, por analogia, o art. 139, X, do CPC”. Repetindo regra consagrada no art. 7.º da LACP, o art. 139, X, do PLNCPC inclui entre os deveres do juiz a intimação do Ministério Público, da Defensoria Pública e, na medida do possível, dos demais legitimados coletivos, quando notar a pluralidade de demandas individuais repetitivas, para que, se for o caso, seja promovida a devida ação coletiva. Se o juiz tem o dever de provocar a propositura da ação coletiva, é inevitável a conclusão de que também tenha tal poder para provocar a conversão da ação coletiva em ação individual.
Como o legitimado que pede a conversão é o que, após seu deferimento, ingressa como coautor do indivíduo, é interessante a opção do PLNCPC de incluir a Defensoria Pública, aparentemente sem nenhuma exigência vinculada à pertinência temática, como legitimada a conduzir uma ação coletiva, ainda que fruto de conversão de ação individual. O tema, como se sabe, é consideravelmente polêmico quanto à legitimidade originária da Defensoria Pública para a propositura da ação coletiva102.
Segundo o caput do dispositivo ora analisado, o autor da ação individual será ouvido, não ficando muito claro com qual objetivo. É natural que, se o autor for ouvido, ou ao menos se tiver a oportunidade para isso, poderá discordar da conversão e sua manifestação deverá ser levada em consideração pelo juiz. Entendo, entretanto, que a única fundamentação admissível por parte do réu é a que diga respeito ao não preenchimento dos requisitos legais para a conversão. A simples vontade de o autor continuar com sua ação individual não é o suficiente para impedir a conversão, porque, conforme já exposto, ou ela evitará a extinção por ilegitimidade ativa ou será conveniente, quando o interesse público deve se sobrepor ao interesse individual.
Nesse sentido, o Enunciado n.º 40 do II Encontro dos Jovens Processualistas (IBDP): “A oposição das partes à conversão da ação individual em coletiva limita-se à alegação do não preenchimento dos seus pressupostos”.
O autor individual, que continuará no polo ativo da ação, se assim pretender, agora como litisconsorte do legitimado ativo (art. 334, § 6.º), não suportará qualquer ônus em decorrência dessa conversão, considerando que não será responsável por qualquer despesa processual decorrente de tal conversão (art. 334, § 7.º).
Também será ouvido o Ministério Público sobre o pedido, caso não tenha sido ele mesmo que o tenha formulado (art. 334, § 10). E, mesmo não constando expressamente do dispositivo legal, em respeito ao princípio do contraditório, também deve ser o réu, desde que já citado, intimado para se manifestar sobre o pedido de conversão. Nesse sentido, o Enunciado n.º 39 do II Encontro dos Jovens Processualistas: “Havendo requerimento de conversão, o juiz, antes de decidir, ouvirá o autor e, caso já tenha sido citado, o réu”.
Sendo determinada a conversão, nos termos do art. 334, § 4.º, o juiz intimará o autor do requerimento para que, no prazo fixado, adite ou emende a petição inicial, para adaptá-la à tutela coletiva. E, havendo tal aditamento ou emenda, o art. 334, § 5.º, prevê que o juiz determinará a intimação do réu para, querendo, manifestar-se no prazo de quinze dias, em respeito ao princípio do contraditório. A partir daí, o procedimento seguirá as regras do processo coletivo, nos termos do art. 334, § 8.º.
1 Cintra-Grinover-Dinamarco, Teoria, 2008.
2 Na doutrina nacional, confira-se a exposição do tema de forma consideravelmente aprofundada em Marinoni, Teoria, p. 21-139.
3 Scarpinella Bueno, Curso, v. 1, p. 241-243.
4 Neves, Ações, p. 426.
5 STJ, 1.ª Seção, MS 11.308/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. 09.04.2008, DJe 19.05.2008.
6 Houve declaração incidental do STF no julgamento da homologação de sentença estrangeira SE 5.206-7, em 12.12.2001.
7 Theodoro Jr., Curso, v. 1, p. 45; Greco Filho, Direito, v. 1, p. 178; Marinoni, Teoria, p. 148-153. Scarpinella Bueno, Curso, p. 12-13.
8 Carmona, Arbitragem, p. 69; Figueira Jr., Arbitragem, p. 151-158.
9 STJ, 1.a Seção, MS 11.308/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. 09.04.2008, DJe 19.05.2008.
10 Informativo 522/STJ, 2ª Seção, CC 111.230-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.05.2013.
11 Marinoni, Novas, p. 189-190.
12 Dinamarco, Instituições, v. 1, p. 128.
13 Dinamarco, Instituições, v. 1, p. 128-129; Marinoni, Novas, p. 192.
14 Dinamarco, Instituições, v. 1, p. 130-131.
15 Marinoni, Novas, p. 193-194.
16 Lima Guerra, Execução, p. 33.
17 Tesheiner, Jurisdição, p. 22, afirma que nesse caso existe uma presunção absoluta de lide, independentemente da efetiva resistência do réu. Seria possível nesse raciocínio falar em “lide presumida”.
18 Barroso, O controle, p. 145-146; Cunha Junior, Controle, p. 168-169.
19 Didier, Curso, p. 73.
20 Bedaque, Código, p. 38.
21 Greco, Instituições, p. 538; Cintra-Grinover-Dinamarco, Teoria, p. 150-151.
22 Scarpinella Bueno, Curso, p. 248.
23 Arruda Alvim, Manual, v. 1, p. 200.
24 Greco, Instituições, p. 559-560.
25 Theodoro Jr., Processo, n. 469, p. 550.
26 Marinoni, Teoria, p. 143-144; Tesheiner, Jurisdição, p. 18.
27 Enunciado 100, aprovado no XIX Encontro em Aracaju/SE.
28 Neves, Competência, p. 237-238.
29 Contra: Greco, Instituições, p. 121.
30 Dinamarco, Instituições, v. 2, p. 394.
31 Súmula 89/STJ: “A ação acidentária prescinde do exaurimento da via administrativa”.
32 Súmula 02/STJ: “Não cabe habeas data (CF, art. 5.º, LXXII, letra ‘a’) se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa”.
33 Informativo 520/STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1.341.269-PR, Rel. Min. Castro Meira, j. 09.04.2013.
34 Parecer PGFN/CRJ 1.087 de 19.07.2004.
35 Ives Gandra da Silva Martins. Processo, p. 80.
36 Neder e Martínez Lopes. Processo, p. 365.
37 STJ, 1.ª Seção, MS 8.810, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 13.08.2003, DJ 06.10.2003, p. 197.
38 Nota PGFN/PGA/n.o 74, de 06.02.2007.
39 Cintra-Grinover-Dinamarco, Teoria, p. 39-41.
40 Marinoni, Novas, p. 29-32.
41 Dinamarco, Instituições, p. 116; Bedaque, Código, p. 39.
42 Para análise mais aprofundada, consultar Neves, Nova, p. 21-67.
43 Para análise mais aprofundada, consultar Neves, Nova, p. 69-92.
44 Informativo STJ 279: REsp 769.884-RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.03.2006.
45 Nery, Princípios, p. 168.
46 Informativo 390/STJ: 6.ª Turma, HC 40.394/MG, rel. Min. Og Fernandes, j. 14.04.2009, DJe 04.05.2009.
47 STF, 2.ª Turma, HC 96.700/PE, rel. Min. Eros Grau, j. 17.03.2009, DJe 142; STJ, 5.a Turma, HC 40.394/MG, rel. Min. Felix Fischer, j. 04.12.2008, DJe 16.02.2009.
48 Informativo 384/STJ: 5.ª Turma, HC 102.466-SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 17.02.2009.
49 STF, 2.ª Turma, HC 90.277/DF, rel. Min. Ellen Gracie, j. 17.06.2008, DJe 142.
50 Barbosa Moreira, Direito II, p. 47-48.
51 Scarpinella Bueno, Curso, v. 1, p. 252.
52 A PEC 28/2009, ao alterar a redação do art. 226, § 6.º, da CF, retira a separação do sistema jurídico, inclusive a extrajudicial.
53 Nesse sentido Resolução 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça. Na doutrina, Cassetari, Separação, p. 33-37.
54 Greco (Jurisdição, p. 39-40) defende que o princípio da inércia vigora na jurisdição voluntária, somente sendo legítimo o seu afastamento nas hipóteses expressamente previstas em lei.
55 Arruda Alvim, Manual, p. 253.
56 Arruda Alvim, Manual, p. 255, Theodoro Jr., Curso, p. 44-45.
57 Greco, Jurisdição, p. 56.
58 Dinamarco, Ministério, p. 399-406; Marinoni-Mitidiero, Código, p. 935.
59 Nery-Nery, Código, 2003.
60 STJ, 4.ª Turma, REsp 46.770/RJ, rel. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira, DJ 17.03.1997, p. 7.505.
61 Arruda Alvim, Manual, Manual, p. 251-257; Nery Jr., Intervenção, p. 11.
62 Dinamarco, Procedimentos, p. 380-386; Marinoni, Teoria, p. 142-143.
63 Arruda Alvim, Manual, p. 254; Bedaque, Código, p. 36.
64 Nery Jr., Intervenção, p. 11.
65 Dinamarco, Instituições, v. 1, p. 316.
66 Marinoni, Teoria, p. 142, fala em “proteção de um direito socialmente relevante”.
67 Didier, Curso, v. 1, p. 89.
68 Arruda Alvim, Manual, p. 254; Nery Jr., Intervenção, p. 11.
69 Ovídio Baptista-Gomes, Teoria, p. 78-79.
70 Greco, Jurisdição, p. 31-32.
71 Didier, Curso, v. 1, p. 90.
72 Dinamarco (Procedimentos, p. 395-396) e Tesheiner (Jurisdição, p. 48-49), apesar de entenderem ser jurisdicional a natureza da jurisdição voluntária, afastam a existência de coisa julgada material.
73 Greco, Jurisdição, p. 38-39.
74 Fux, Curso, p. 41-57.
75 Bedaque, Efetividade, p. 524-533.
76 Câmara, A nova, p. 89-90.
77 Scarpinella Bueno, Curso, p. 272-273.
78 Marinoni, Tutela, 3.2-3.4, p. 40-50.
79 Marinoni, Tutela, 3.21, p. 152-155.
80 Marinoni, Técnica, p. 153.
81 Nery-Nery, Código, notas 7, 9 e 10 do art. 461, p. 672.
82 Marinoni, Técnica, p. 423.
83 Marinoni-Mitidiero, Código, p. 427.
84 Armelin, Tutela, p. 45; Cruz e Tucci, Ação, p. 14-15; Bedaque, Direito, p. 33.
85 Marcato, Procedimentos, n. 15, p. 74.
86 Theodoro Jr., Curso, p. 55.
87 Araújo, Coisa, p. 147.
88 Kazuo Watanabe, Da cognição no processo civil, 2. ed., CEBEPEJ, 1999, p. 112.
89 Neves, Manual de direito processual civil, n. 22.2.4.2, p. 630.
90 Semelhante a institutos já existentes no direito francês e italiano.
91 Zavascki, Processo, p. 40-41.
92 Neves, Manual de processo coletivo, n. 6.4, p. 119-123.
93 Neves, Manual de processo coletivo, n. 8.2.2, p. 165-166.
94 Zavascki, Processo, p. 40.
95 Leonel, Manual, n. 4.10, p. 147.
96 Mazzilli, A defesa, p. 59.
97 Didier-Zaneti, Curso, p. 95.
98 Watanabe, “Relação entre demanda coletiva e demandas individuais”, RePro 139, p. 34, set. 2006, apesar de inapropriado o exemplo utilizado para conceituar ações pseudoindividuais.
99 Gajardoni, Direito I, p. 31.
100 Assagra de Almeida, Direito, p. 496.
101 Assagra de Almeida, Direito, p. 496.
102 Neves, Manual de processo coletivo, n. 8.2.5, p. 178-185.