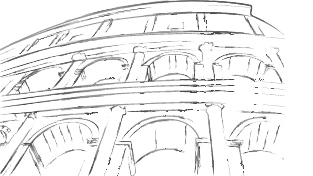
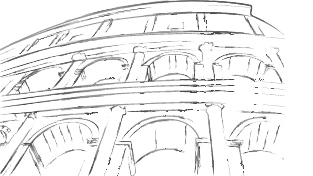 |
41 |
Sumário: 41.1. Conceito de liquidez e obrigações liquidáveis – 41.2. Títulos que podem ser objeto de liquidação – 41.3. Vedação à sentença ilíquida – 41.4. Liquidação na pendência de recurso recebido no efeito suspensivo – 41.5. Decisão que julga a liquidação: decisão interlocutória ou sentença? – 41.6. Natureza da decisão pela qual a liquidação é julgada – 41.7. Liquidação como forma de frustração da execução – 41.8. Natureza jurídica da liquidação – 41.9. Legitimidade ativa – 41.10. Competência – 41.11. Regra da fidelidade ao título executivo (art. 475-G do CPC) – 41.12. Liquidação por mero cálculo aritmético do credor: 41.12.1. Introdução; 41.12.2. Dados necessários à elaboração dos cálculos em poder do executado ou de terceiros; 41.12.3. Consequência da ausência de exibição de dados; 41.12.4. Remessa dos autos ao contador; 41.12.5. Procedimento da remessa dos autos ao contador – 41.13. Liquidação por arbitramento: 41.13.1. Cabimento; 41.13.2. Procedimento – 41.14. Liquidação por artigos.
Liquidar uma sentença significa determinar o objeto da condenação, permitindo-se assim que a demanda executiva tenha início com o executado sabendo exatamente o que o exequente pretende obter para a satisfação de seu direito. Apesar de ser pacífico na doutrina esse entendimento, há uma séria divergência a respeito de quais as obrigações que podem efetivamente ser liquidadas.
Segundo a corrente ampliativa, a liquidação poderá ter como objeto qualquer espécie de obrigação, sendo possível liquidar a obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa e pagar quantia certa1. Outra corrente doutrinária entende serem excluídas do âmbito da liquidação algumas espécies de obrigação que materialmente não podem ser liquidadas, porque, sendo a certeza da obrigação precedente à liquidez, o que faltará a essas obrigações é a certeza, e não a liquidez. Tal circunstância se verifica nas obrigações de fazer e não fazer, porque a certeza de uma obrigação dessa espécie é justamente indicar o que deve ser feito ou o que deve deixar de ser feito2.
Tratando-se de obrigação alternativa ou de entregar coisa incerta, ao título executivo não faltará propriamente liquidez, tanto que a demanda executiva poderá ser imediatamente proposta. A individualização do bem, disciplinada pelos arts. 629 a 631 do CPC, desenvolver-se-á por meio de um procedimento incidental na própria demanda executiva, sem que se confunda com a liquidação de sentença. Fenômeno similar ocorre na obrigação alternativa de entrega de coisa certa, na qual não se fará necessária a liquidação de sentença, mas a especificação do bem a ser entregue ao exequente (art. 571 do CPC). Por outro lado, na hipótese contemplada pelo art. 286, I, do CPC (demanda que tenha como objeto uma universalidade de bens), parece correto concluir pela necessidade de liquidação, ainda que se trate de obrigação de entrega de coisa.
Para a corrente doutrinária restritiva, a liquidação de sentença é instituto processual privativo das obrigações de pagar quantia certa, inclusive como prevê a redação do art. 586 do CPC, que expressamente se refere a “cobrança de crédito”, quando exige da obrigação a certeza, liquidez e a exigibilidade3.
Interessante notar que o art. 603 do CPC, revogado pela Lei 11.232/2005, previa expressamente que a liquidação seria cabível para determinar o valor ou para individualizar o objeto da condenação, o que levou parcela significativa da doutrina a entender que, por uma opção legislativa, a liquidação atingiria também as obrigações de entregar coisa, além das obrigações de pagar quantia certa. Chegou-se até mesmo em falar em liquidação própria para os créditos pecuniários e em liquidação imprópria para a hipótese de individualização de bens4. A redação do art. 603 do CPC, criticável por aparentemente confundir liquidez com incidente de concentração de obrigações, desapareceu com a revogação do dispositivo legal, sendo em seu lugar previsto no art. 475-A, caput, do CPC, que a liquidação se dará exclusivamente quando a sentença não determinar o valor devido.
A modificação é elogiada por corrente doutrinária por limitar a liquidação ao valor da obrigação, o que naturalmente afasta desse instituto jurídico o incidente de escolha de bens ou de concentração de obrigações5. Concordo que a mudança foi positiva, pois impede que se confunda liquidação com outros fenômenos processuais, como o incidente de concentração de obrigação ou a escolha da coisa na obrigação de coisa incerta, mas excepcionalmente é possível a liquidação de obrigação de entrega de coisa, que não deve ser a priori excluída do âmbito da liquidação pela interpretação literal do art. 475-A, caput, do CPC. Tal circunstância se verifica na condenação ilíquida de pedido que tenha como objeto a entrega de uma universalidade de bens (art. 286, I, do CPC)6.
Conforme o próprio nome do instituto jurídico ora analisado sugere, a liquidação está limitada às sentenças, ou, mais genericamente, aos títulos executivos judiciais. Ainda que a Lei 11.232/2005 tenha alocado a liquidação de sentença logo depois da sentença da coisa julgada, não é viável limitar a aplicação do instituto jurídico tão somente à sentença condenatória civil ou, como prefere o legislador, à sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de uma obrigação. Todos os títulos executivos judiciais poderão ser objeto de liquidação7, inclusive a homologação de sentença estrangeira, que nem sentença é, e a sentença arbitral, produzida fora do Poder Judiciário8. Importante a lembrança, embora consagrado a expressão “liquidação de sentença”, de que não se liquidam sentenças, mas sim as obrigações ilíquidas contidas em sentenças genéricas9.
Por outro lado, o título executivo extrajudicial tem necessariamente que conter uma obrigação líquida, porque caso contrário a ele faltará um elemento indispensável para ser título10. Esse pacífico entendimento demonstra o equívoco legislativo ao prever três espécies de liquidação – mero cálculo aritmético, por arbitramento e por artigos – quando na realidade só existem efetivamente duas espécies, já que liquidar por mero cálculo aritmético é na realidade liquidar o que já é líquido. Afinal, nas execuções de título extrajudicial existe o mero cálculo aritmético, ao menos como forma de atualizar o valor exequendo, e nem por isso haverá liquidação de sentença.
A sentença ilíquida é a exceção no direito brasileiro, havendo inclusive uma previsão expressa no sentido de que ela só seja cabível na hipótese de pedido genérico (art. 459, parágrafo único, do CPC). Ainda que a interpretação literal de tal dispositivo não se mostre a mais adequada, é interessante notar a opção do legislador pela sentença líquida, considerando-se que o pedido genérico constitui exceção no sistema processual. O sistema processual busca evitar a liquidação de sentença, na medida do possível, como forma de garantir um processo mais rápido, com a dispensa de uma fase somente para aferir o an debeatur e outra para a fixação do quantum debeatur.
Com essa preferência em mente, o legislador entendeu interessante criar hipóteses nas quais é proibida ao juiz a prolação de sentença ilíquida, ainda que o pedido do autor tenha sido formulado sem cumprir o requisito da determinação. Segundo o art. 475-A, § 3.º, do CPC, em determinadas demandas que seguem o rito sumário (art. 275, II, “d” e “e”, do CPC) não se admite a sentença ilíquida, cumprindo ao juiz, se for o caso, fixar de plano, a seu prudente arbítrio, o valor devido. Registre-se que a previsão criada pela Lei 11.232/2005 não é novidade no ordenamento processual, considerando-se que nos Juizados Especiais também é vedada ao juiz a prolação de sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995). Resta interpretar a melhor forma de aplicar o art. 475-A, § 3.º, do CPC na praxe forense.
Existem três interpretações possíveis:
(i) a norma tem apenas função pedagógica, confirmando expressamente a preferência do legislador pela sentença líquida, mas não condiciona o juiz às hipóteses em que se deparar com a impossibilidade material de fixação do quantum debeatur11;
(ii) a norma permite que o juiz aplique ao caso concreto um juízo de equidade, afastando‑se da legalidade estrita12;
(iii) o dispositivo deve ser aplicado em demandas nas quais a fixação do quantum debeatur não proporcione grande dificuldade prática; prestigia-se a liquidação durante a fase de conhecimento, mas, não sendo isso possível, será caso de conversão do procedimento em rito ordinário.
Não parece correto o entendimento que considera a norma legal como mera sugestão, o que tornaria a norma inútil, tampouco o entendimento de que o dispositivo legal ora comentado tenha consagrado o juízo de equidade para a fixação do valor da obrigação, levando-se em conta a expressa menção ao prudente arbítrio do juiz, porque fixar um valor baseando-se no que pareça mais oportuno e conveniente, sem todos os elementos necessários para tanto, é evidentemente prestar tutela jurisdicional sem a precisão necessária13.
O terceiro entendimento exposto parece ser o mais razoável, ainda que aparentemente possa ser visto como uma forma indireta de afastar a aplicação da norma legal. O dispositivo legal foi imaginado para situações concretas nas quais não haja maiores dificuldades práticas na fixação do quantum debeatur, situação em que é possível ao juiz numa mesma instrução probatória definir todos os elementos da condenação. Ocorre, entretanto, que excepcionalmente a questão do quantum debeatur pode se tornar extremamente complexa, não acompanhando a facilidade para a fixação do an debeatur, sendo que nesse caso não tem nenhum sentido lógico proibir o juiz de condenar o réu por meio de uma sentença ilíquida, aguardando a realização da complexa e demorada prova para a fixação do valor da condenação.
Não se pode desprezar que nesses casos excepcionais é mais interessante para o demandante e para o próprio sistema jurídico a definição do an debeatur por meio de sentença ilíquida, postergando-se a fixação do quantum debeatur para fase posterior. Essa circunstância, entretanto, é excepcional, e tal complexidade na fixação do valor da condenação não se coaduna com o procedimento sumário, sendo caso de conversão em procedimento ordinário, nos termos do art. 277, § 5.º, do CPC. Uma vez convertido o procedimento em ordinário, não mais se exige a prolação de uma sentença líquida, porque a vedação à prolação de sentença ilíquida está limitada pelo art. 475-A, § 3.º, do CPC a duas hipóteses de rito sumário14.
No PLNCPC não existe mais a obrigatoriedade atualmente prevista no art. 475-A, § 3.º, do CPC. Nos termos do art. 501, caberá ao juiz, mesmo diante de um pedido genérico, proferir sentença líquida, salvo se não for possível determinar de modo definitivo a quantia devida ou quando a fixação depender de produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa. Nesses casos, segundo o § 1.º do dispositivo legal, após a prolação da sentença deve se proceder à liquidação do valor devido. O § 2.º estende a previsão a acórdão que alterar a sentença, devendo também, apesar da omissão legal, ser aplicado à decisão monocrática do relator que julga a apelação.
Uma das novidades introduzidas pela Lei 11.232/2005 no tocante à liquidação da sentença foi permitir a sua realização, ainda que no processo exista pendente de julgamento um recurso que tenha sido recebido no efeito suspensivo (art. 475-A, § 2.º, do CPC). Parece que nesse ponto o legislador incluiu ao lado de outros fenômenos jurídicos – a hipoteca judiciária, que é o mais tradicional deles15 – a liquidação como um dos efeitos secundários da sentença, ou seja, aquele efeito que é gerado automaticamente com a prolação da sentença, independentemente de pedido expresso do demandante ou da pendência de recurso com efeito suspensivo.
Segundo o art. 475-A, § 2.º, do CPC, a liquidação será autuada em autos em apenso, decorrência lógica da existência de um recurso pendente de julgamento, o que fará com que os autos principais estejam no respectivo tribunal aguardando julgamento. Mesmo desenvolvendo-se em autos próprios, a liquidação de sentença continuará a ser uma mera fase procedimental, ainda que excepcionalmente, nesse caso, ela se desenvolva concomitantemente com a fase cognitiva em sede recursal.
A liquidação de sentença, a exemplo do que ocorre no cumprimento de sentença, só ocorrerá mediante provocação da parte interessada, ainda mais na hipótese de liquidação provisória16, na qual o demandante assume todos os riscos de começar a liquidar uma sentença que poderá ser modificada pelo recurso pendente de julgamento (teoria do risco-proveito). O requerimento inicial – aqui também se dispensa a petição inicial –, sem maiores formalidades, deverá ser instruído com “cópias das peças processuais pertinentes”, cuja pertinência deverá ser analisada pelo demandante no caso concreto, sendo possível, mas não obrigatória, a aplicação por analogia do art. 475-O, § 3.º, do CPC. No que concerne à instrução, duas observações são interessantes:
(i) as peças não precisam ser autênticas, sendo dispensável inclusive a declaração de autenticidade pelo próprio advogado, como sugere o art. 365, IV, do CPC17;
(ii) eventual falha na instrução não gera o indeferimento de plano da liquidação, devendo‑se conceder ao demandante a oportunidade de juntar as peças que o juiz entender indispensáveis no caso concreto18.
Cumpre por fim fazer mais um registro. Já foi afirmado que o demandante assume todos os riscos de ingressar com a liquidação enquanto a decisão ainda não for definitiva. Na realidade, isso não é uma novidade da Lei 11.232/2005, porque mesmo antes dela já era possível a liquidação enquanto pendente de julgamento o recurso sem efeito suspensivo. Trata-se de aplicação da teoria do risco-proveito: o demandante tem a opção19 de adiantar atos de execução – no caso atos meramente preparatórios –, mas responde objetivamente pelos danos causados ao demandado na hipótese de a sentença que serve como título ser revogada ou modificada.
Segundo o art. 475-H do CPC, da decisão de liquidação caberá o recurso de agravo de instrumento. Como se nota de uma simples leitura do dispositivo legal, em nenhum momento menciona-se a natureza da decisão que julga a liquidação, prevendo-se exclusivamente qual é o recurso cabível. A previsão legal aparentemente se coaduna com a nova realidade quanto à natureza jurídica da liquidação, que deixou de ser processo autônomo para ser uma mera fase procedimental, dentro do ideal de sincretismo processual. O dispositivo legal, entretanto, suscita interessantes questões.
Cumpre registrar que a menção expressa ao cabimento do agravo de instrumento afasta do caso concreto qualquer discussão a respeito do recurso cabível, inclusive relativamente à forma de agravo. Havendo expressa previsão legal, nem se cogita da necessidade de aplicação da regra geral do art. 522 do CPC para analisar se há concretamente perigo de grave dano à parte agravante. Quanto à forma do agravo, portanto, a lei afasta qualquer espécie de dúvida20, mas remanesce a questão da natureza jurídica da decisão que determina o quantum debeatur em liquidação de sentença.
Para parcela da doutrina, a expressa previsão legal de cabimento de agravo de instrumento é suficiente para concluir que a decisão que julga a liquidação é uma decisão interlocutória, espécie de pronunciamento judicial recorrível por essa espécie de recurso21. O pensamento é fundado em equivocada premissa, desconsiderando a modificação do conceito de sentença de mérito, que passou a desprezar o efeito do ato, limitando-se ao seu conteúdo, conforme já defendido no Capítulo 16, item 16.1. Prefiro, assim, o entendimento de que essa decisão tem natureza jurídica de sentença, excepcionalmente recorrível por agravo de instrumento22, apesar de reconhecer tratar-se de entendimento minoritário na doutrina. Importante ressaltar que mesmo a doutrina que defende a natureza de decisão interlocutória reconhece tratar-se de decisão de mérito23, apta a gerar coisa julgada material24 e a ser rescindida por meio de ação rescisória25.
As ponderações feitas têm como objeto tão somente a decisão que determina o quantum debeatur ao final da liquidação, sendo esse o final esperado dessa fase procedimental. Trata-se, portanto, da decisão de procedência do pedido do autor. Ocorre, entretanto, que em situações excepcionais será possível que outras espécies de decisão “julguem” a liquidação, restando nesse caso a questão da aplicação ou não do art. 475-H do CPC, para fins de recorribilidade. Afirma-se que no processo de conhecimento – em lição totalmente aplicável a uma fase cognitiva, como é a da liquidação – o fim normal é o acolhimento ou rejeição do pedido do autor. Na liquidação, o acolhimento do pedido significa a quantificação da obrigação fixada em sentença; mas a rejeição do pedido seria possível? Fala-se na liquidação de valor zero, na qual restaria provado que o valor do dano suportado pela parte é igual a zero, o que poderia significar a improcedência do pedido. Também há doutrina que defende a improcedência em razão da ausência de provas do valor do dano, conforme analisado no momento oportuno.
Por outro lado, é possível uma decisão terminativa da liquidação de sentença, tanto quando a fase de liquidação de sentença é a primeira fase procedimental do processo (sentença penal condenatória transitada em julgado; sentença arbitral; homologação de sentença estrangeira), como quando sucede a fase de conhecimento.
Proposta a demanda judicial por meio da liquidação de sentença, e sendo esse o primeiro momento de contato do Poder Judiciário com a pretensão do demandante, é plenamente possível que alguma matéria processual gere a extinção do processo sem a resolução do mérito (art. 267 do CPC)26. Mesmo na liquidação de sentença como fase procedimental desenvolvida após a fase de conhecimento poderá haver a extinção do procedimento em primeiro grau por meio da decisão que antecipe o conhecimento pelo juiz de matérias que deveria conhecer somente na fase executiva, como o pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença (art. 475-L, VI, do CPC)27.
Como se pode notar, é possível que a decisão que julga a liquidação não tenha como conteúdo a fixação do quantum debeatur. O que interessa é perceber que nem sempre a fase de liquidação será seguida da fase de cumprimento de sentença, e nesse caso não se justifica o sacrifício perpetrado pelo art. 475-H do CPC às regras gerais de recorribilidade. Dessa forma, sempre que a decisão que julgar a liquidação não for seguida da fase de cumprimento de sentença, torna-se a aplicar a regra do art. 513 do CPC, sendo recorrível essa sentença – definitiva ou terminativa – por apelação28. Já quando a decisão declarar o valor devido, cabe o agravo de instrumento, sendo erro grosseiro a interposição de apelação, o que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade29.
A natureza da decisão que julga a liquidação, fixando o quantum debeatur, divide a doutrina que enfrentou o tema, ainda que o debate tenha mais relevância no aspecto acadêmico do que prático. Os mesmos debates travados anteriormente à Lei 11.232/2005, que tomavam por base de análise o processo autônomo de liquidação, valem plenamente para a liquidação como mera fase procedimental, até mesmo porque, conforme já defendido, continua a ser uma sentença a decisão que fixa o quantum debeatur, ainda que recorrível por agravo de instrumento. E mesmo que se entenda tratar-se de decisão interlocutória, como prefere a doutrina majoritária, a determinação de sua natureza continua sendo relevante.
Parcela doutrinária entende que a natureza da decisão da liquidação de sentença é meramente declaratória, porque por meio dela somente se declara o valor da obrigação. Nesse entendimento, a quantificação da obrigação já se encontra no título executivo, ainda que a sua plena definição dependa de atos processuais a serem praticados durante a fase procedimental de liquidação. A natureza meramente declaratória fundamenta-se na ideia de que a sentença condenatória já é um título executivo, sendo que existe uma incerteza jurídica a respeito do quantum debeatur, incerteza essa afastada pela decisão que julga a liquidação30.
Outra parcela doutrinária entende pela natureza constitutiva da decisão que quantifica a obrigação, afirmando que, além de simplesmente declarar o valor, a decisão gera uma nova situação jurídica, tornando o incerto em certo. Antes de a decisão ter sido proferida, a situação jurídica não permitia o desencadeamento dos atos executivos, e após a sua prolação houve uma modificação nessa situação jurídica, considerando-se que por meio dela passou a ser possível o cumprimento de sentença31.
Entendo que a primeira corrente doutrinária é a mais acertada, porque o fundamento utilizado pelos defensores da natureza constitutiva da decisão parece não convencer, considerando-se que em toda sentença declaratória a certeza jurídica será apta a transformar relações jurídicas, sem que com isso a decisão perca a sua natureza meramente declaratória. Dessa forma, a declaração de paternidade permitirá o registro no Cartório de Pessoas Naturais, como a sentença de usucapião permitirá o registro na matrícula do imóvel. Em todos esses casos, a situação jurídica da pessoa ou da coisa era uma antes da sentença e outra depois, mas tal circunstância não desnatura a natureza de decisão meramente declaratória de tais sentenças. O mesmo parece ocorrer com a decisão que fixa o valor devido na liquidação de sentença.
É interessante notar que mesmo a parcela doutrinária que defende a natureza meramente declaratória afirma que a decisão de liquidação tem como função integrar o título até então ilíquido, compondo o segundo elemento necessário a permitir a execução. O título originariamente fixou o an debeatur, enquanto a liquidação fixará o quantum debeatur, exigência para que o título possa ser efetivamente executado32.
A liquidação pode excepcionalmente frustrar a execução, o que se verifica quando o resultado da liquidação impedir que o demandante execute o título executivo ilíquido que tem a seu favor. Essa excepcional frustração pode se verificar em quatro hipóteses: decisão terminativa, prescrição, liquidação de valor zero e liquidação extinta por ausência de provas.
Não se pode negar a possibilidade de extinção terminativa da liquidação com fundamento no art. 267 do CPC. Acredito que alguns incisos preveem matérias que parecem ser de difícil cabimento numa liquidação de sentença, tais como perempção, litispendência ou coisa julgada (V), convenção de arbitragem (VII), ação considerada intransmissível (IX). Mas outros, tais como o abandono (III), falta de pressuposto processual de validade ou existência (IV), carência de ação (VI), desistência (VIII), são totalmente aplicáveis à liquidação, ainda que de incidência prática rara.
Ainda que rara na praxe forense, essa decisão terminativa, com fundamento no art. 267 do CPC, pode servir para julgar a liquidação frustrando a execução, considerando-se que, nesse caso, haverá a extinção do processo sem possibilidade de execução. Como a decisão é terminativa, ao menos o credor poderá posteriormente ingressar com nova liquidação de sentença, de forma que sua frustração é apenas momentânea.
A liquidação de sentença tem natureza declaratória, conforme analisado no item 41.6 e por essa razão não está sujeita a prazos prescricionais. Por medida de economia processual, entretanto, o juiz poderá adiantar para a liquidação o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, extinguindo a liquidação com julgamento de mérito da execução. Dessa forma, apesar de não declarar o valor devido (mérito da liquidação), essa decisão fundada na prescrição da pretensão executiva extinguirá o processo e frustrará de forma definitiva o ingresso da execução.
Discute-se, na doutrina, a respeito da possibilidade de se determinar em liquidação que o dano suportado pelo vencedor tenha valor zero, sem que com isso se afronte a coisa julgada decorrente da sentença que, reconhecendo o an debeatur, condenou o réu ao pagamento de algo que deveria ser valorado em liquidação da sentença. Ainda que de extrema raridade na praxe forense33, parece absolutamente viável tal situação34, devendo-se destacar a distinção entre duas situações juridicamente distintas, ainda que no plano fático se equivalham: não obrigação de pagar e obrigação de pagar zero.
A constatação anômala de que o derrotado tem uma obrigação de pagar zero não desconstitui a sentença condenatória, porque o elemento vinculativo de obrigatoriedade de cumprimento de uma prestação continua a existir, não obstante essa obrigação tenha um valor zero. Há uma diferença jurídica, que deve ser considerada. Quando há uma condenação ao pagamento de alimentos, é possível que em determinado momento, provando-se a falta de capacidade de pagar e/ou a falta de necessidade em receber, o obrigado pare de realizar o pagamento. Isso, entretanto, não significa que ele estará exonerado da obrigação, até porque, advindo circunstâncias supervenientes, será possível que, sem a necessidade de nova condenação, volte a pagar algum valor. Na realidade, durante o período em que não realizou os pagamentos, o devedor continuava obrigado a pagar, mas a sua obrigação era de pagar zero. É lógico que no plano fático as situações são equivalentes, mas no plano jurídico há evidente diferença.
Deve-se observar que a fixação de valor zero, ainda que atípica para alguns e fruto de uma sentença nula para outros, pode se mostrar uma decorrência natural do caso concreto, não havendo outra conduta possível a ser adotada pelo juiz senão a declaração do valor zero. A alternativa seria “inventar” algum valor apenas para não reconhecer que o dano resulta em um valor zero, o que notadamente se mostra inadequado, porque exigiria do juiz decidir contra os elementos de convencimento presentes no processo35. Entre deixar uma sentença sem cumprimento e inventar um valor qualquer somente para impedir essa situação, fica-se com a primeira opção.
Uma vez fixado o valor zero, a doutrina entende ser hipótese de procedência do pedido do autor, por meio de decisão de mérito que colocará fim ao procedimento em primeiro grau – sentença. Apesar de não ser o valor esperado pelo autor, a declaração de valor zero representa o acolhimento do pedido do autor, que é a fixação do valor devido, e por essa razão a decisão será de procedência. Essa decisão é inegavelmente uma sentença, recorrível por apelação, apesar de o art. 475-H do CPC36 prever o cabimento de agravo de instrumento.
Outra situação inusitada na liquidação se refere à ausência de provas relativamente ao dano. Como se pode notar, diverge essa situação da anterior, porque na liquidação de valor zero a prova necessária foi devidamente produzida, mas apontou para um valor zero, enquanto na hipótese que será nesse momento tratada o dano muito provavelmente tem um valor, mas por inépcia do demandante não houve a produção de prova necessária para que o juiz pudesse declará-lo.
Parcela da doutrina defende a declaração do non liquet nesses casos, deixando o juiz de decidir a respeito do pedido em virtude da ausência das provas, com extinção da liquidação sem resolução de mérito. As explicações divergem, mas em todas elas há um ponto em comum, entendendo-se que a ausência de provas não impede que a parte relapsa peça uma nova liquidação, após a frustração da anterior37. Registre-se que o Código de Processo Civil atual não repetiu o art. 915 do CPC de 1939, que previa expressamente na hipótese de ausência de provas a possibilidade de nova liquidação. O silêncio do atual diploma processual, entretanto, não é suficiente nessa visão doutrinária para afastar a possibilidade de nova propositura da liquidação de sentença, em entendimento já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça38.
Para outra parcela da doutrina, as regras do ônus da prova são plenamente aplicáveis na liquidação de sentença, sendo de improcedência a sentença que declarar não provada a extensão valorativa do dano suportado. A sentença, portanto, será de mérito, pela improcedência do pedido, inclusive produzindo coisa julgada material39. Essa corrente doutrinária entende que não há ofensa à coisa julgada formada pela sentença condenatória genérica, porque o an debeatur terá se tornado indiscutível e imutável, mas em virtude da nova sentença de improcedência na liquidação jamais poderá ser executado. A sentença que outrora foi condenatória, sem a possibilidade de execução, torna-se muito semelhante à sentença declaratória, considerando-se que o único bem da vida que será obtido pelo vitorioso será a certeza jurídica da responsabilidade da parte contrária40.
Em todas as quatro situações descritas o ponto em comum é a frustração da execução, com a decisão, resolvendo ou não o mérito, extinguindo o processo sem a possibilidade de continuidade por meio de execução. Entendo que, sempre que tal circunstância se verifica, a decisão judicial é uma sentença recorrível por apelação. Sem a necessidade de continuar o processo em fase executiva, a ratio do art. 475-H do CPC deixa de ser aplicável à situação ora analisada, não havendo qualquer razoabilidade na propositura de agravo de instrumento contra decisão que extingue o processo. É natural que a expressa menção a tal recurso no art. 475-H do CPC gere dúvida suficiente no operador para se aplicar o princípio da fungibilidade recursal nesse caso.
Antes das alterações promovidas pela Lei 11.232/2005, a melhor doutrina afirmava que a liquidação de sentença poderia ser um processo autônomo ou um mero incidente processual, tudo a depender das circunstâncias concretas. Devendo‑se realizar a liquidação de uma sentença, posteriormente à formação do título ao qual faltava a liquidez, entendia-se necessário o processo autônomo de liquidação, que temporalmente ficava entre o processo de conhecimento e o processo de execução. Seria a liquidação de sentença um mero incidente processual sempre que, durante a execução de uma obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, a obtenção da tutela específica se tornasse impossível ou dela desistisse o demandante; nesse caso, haveria conversão em perdas e danos a ser realizada por meio de um mero incidente processual de liquidação. Também haveria liquidação incidental na apuração dos danos gerados por execução provisória ilegítima.
Não resta dúvida de que a nova roupagem da liquidação de sentença modificou substancialmente essa estrutura, em especial no tocante à extinção do processo autônomo de liquidação. O legislador, atento aos reclamos da melhor doutrina, dentro do ideal de sincretismo processual que norteou a Lei 11.232/2005, extinguiu de forma definitiva o processo autônomo de liquidação de sentença, que passa a ser sempre uma mera fase procedimental41. Importante registrar que para parcela da doutrina, a liquidação de sentença continua a se desenvolver por meio de uma ação, mas agora incidental ao processo em que foi proferida a sentença ilíquida42.
Deve-se atentar para o previsto no art. 475-N, parágrafo único, do CPC, que prevê que, sendo o título executivo uma sentença penal condenatória, sentença arbitral ou homologação de sentença estrangeira, o demandado será citado para a execução ou para a liquidação. Para alguns doutrinadores, esse dispositivo legal é suficiente para que se reconheça a manutenção, ainda que limitado a esses casos, do processo autônomo de liquidação43. Não me parece, entretanto, correto tal entendimento.
É natural que, sendo exigida a citação do demandado, o legislador deixe claro que por meio do pedido de liquidação dar-se-á vida a um novo processo, mas isso não é suficiente para concluir que esse novo processo seja um processo autônomo de liquidação. Explica-se. A liquidação nesse caso é a primeira fase procedimental de um processo que não se extingue com a definição do quantum debeatur, porque após essa definição se passará à fase de cumprimento de sentença. O processo, portanto, não é de liquidação, ao menos não é somente de liquidação, é de liquidação e de execução, processo sincrético, portanto. Veja-se que o fato da fase de liquidação ter sido ou não precedida por uma fase de conhecimento é irrelevante, porque não é a primeira fase do processo que determina a sua natureza. Somente na excepcional hipótese de essa fase de liquidação ser extinta por sentença que não permita o seu cumprimento, estar-se-á diante de genuíno processo autônomo de liquidação, mas, como não se pode definir a natureza de um fenômeno levando-se em conta sua frustração, parece mais adequado o entendimento de que o processo autônomo de execução não existe mais.
Já foi devidamente visto que a liquidação tem como objetivo fixar o quantum debeatur, sendo uma complementação da atividade cognitiva já iniciada com a condenação do réu. Não tem a liquidação qualquer função expropriatória, reservada ao momento de cumprimento da sentença. O interesse em obter o valor exato da condenação não é exclusivo do autor, que naturalmente terá tal interesse para que possa dar início ao cumprimento de sentença. Também o réu condenado tem interesse na liquidação, considerando-se que, ciente do valor exato de sua dívida, poderá quitá-la ou oferecer uma transação com base mais concreta44.
Sendo de interesse tanto do vencedor como do vencido a fixação do valor da condenação, não resta nenhuma dúvida de que, ao menos como regra, tanto o credor como o devedor – assim reconhecidos no título executivo – têm legitimidade ativa para dar início à fase procedimental de liquidação de sentença. Essa constatação, inclusive, resta inalterada em virtude da revogação do art. 570 do CPC, que tratava de uma pseudolegitimação ativa para a execução do devedor, fenômeno processual entendido pela melhor doutrina como uma espécie de consignação em pagamento45. Insista-se que execução e liquidação são institutos diferentes e, ainda que revogada a legitimidade ativa do devedor para aquela, não se pode concluir pela vedação à propositura da liquidação da sentença por ele.
Não há nenhuma norma expressa a respeito da competência para a liquidação de sentença, devendo-se analisar o momento procedimental no qual a liquidação ocorre para determinar o órgão jurisdicional competente.
Tratando-se de liquidação incidental em execução – fase de satisfação de sentença ou processo autônomo –, é natural que seja competente para conhecer da liquidação o próprio juízo no qual já tramita a demanda executiva. Tratando-se de liquidação que dá início a processo sincrético que buscará ao final a satisfação do direito do demandante, este deverá fazer um exercício de abstração, determinando qual seria o órgão competente para a execução daquele título caso não fosse necessária a liquidação. Por fim, tratando-se de liquidação entre a fase de conhecimento e a fase de execução, haverá competência absoluta – de caráter funcional – do juízo que proferiu a sentença ilíquida, não se aplicando ao caso o permissivo do art. 475-P, parágrafo único, do CPC46.
A existência de foros concorrentes para o cumprimento de sentença busca facilitar a satisfação do direito, permitindo ao demandante a escolha entre o juízo que formou o título, o foro do atual domicílio do executado, ou ainda o foro do local em que se encontrem seus bens (art. 475-P, parágrafo único, do CPC). Essa facilitação da satisfação do direito, entretanto, nada tem a ver com a liquidação da sentença, entendida como atividade cognitiva integrativa da sentença genérica proferida no encerramento da primeira fase de natureza cognitiva. É natural, portanto, que, havendo entendimento corrente no sentido de que a sentença ilíquida que condena e a decisão da liquidação completam um todo – tanto é assim que em regra serão uma só decisão, com a exata determinação do an debeatur e do quantum debeatur –, o juízo que exerceu a função judicante nessa primeira fase de solução da lide automaticamente se tornará competente para a segunda fase, em nítida ocorrência de competência funcional47.
Esse entendimento é parcialmente excepcionado na tutela coletiva. Sendo a liquidação coletiva, a regra se aplica conforme o exposto, mas sendo a liquidação da sentença coletiva individual, poderá o liquidante realizá-la no foro de seu domicílio48.
A liquidação de sentença tem como único e exclusivo objetivo a fixação do quantum debeatur, sendo vedada pela própria lógica do instituto processual a discussão de qualquer matéria alheia a esse objetivo. Não se permite que a liquidação se preste a discutir matérias que foram discutidas na fase de conhecimento que gerou a sentença condenatória, ou nela deveriam ter sido discutidas. Significa dizer que qualquer matéria que seja alheia ao valor da prestação reconhecida em sentença condenatória ilíquida é estranha ao objeto da liquidação.
Essa vedação à discussão de matérias alheias à fixação do valor da prestação encontra lógica no próprio sistema, porque, ao permitir a discussão de outras matérias que não o quantum debeatur em sede de liquidação, estar-se-ia diante de um vício processual: caso a sentença condenatória já estivesse transitada em julgado, haveria ofensa à coisa julgada ou à eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 472 do CPC)49; havendo recurso contra ela pendente de julgamento, haveria litispendência. Num caso ou noutro, haveria no caso concreto um pressuposto processual negativo, o que geraria a nulidade da liquidação. Atento a essa circunstância, o legislador prevê expressamente no art. 475-G do CPC ser “defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.
É até mesmo possível imaginar uma terceira espécie de vício, quando se discutem na liquidação questões referentes ao an debeatur fora dos próprios limites objetivos do pedido condenatório do autor. Nesse caso, não se poderá falar tecnicamente em ofensa à coisa julgada, mas de fixação de valor de uma prestação que não está reconhecida em título executivo judicial. Basta imaginar que numa demanda em que foi pedida a condenação do réu ao pagamento de uma quantia em decorrência de dano moral, a parte busque na liquidação alegar e provar fatos simples para aumentar o valor da condenação. Nesse caso, haveria ofensa à coisa julgada ou litispendência. Caso, entretanto, se pretenda incluir na liquidação também uma discussão sobre eventuais danos materiais suportados, não se poderá falar em coisa julgada nem em litispendência, porque esse pedido não faz parte da demanda50.
Essa limitação da matéria objeto de cognição na liquidação da sentença, seja para proteger a coisa julgada, seja para evitar a litispendência ou impedir a valoração de dano não reconhecido por título executivo, chamada pela doutrina de regra da “fidelidade ao título executivo”, não é absoluta, havendo a excepcional possibilidade de inclusão na liquidação de matéria não posta na fase de conhecimento da qual resultou a condenação genérica. A jurisprudência vem prestigiando uma interpretação lógica da sentença, não se limitando ao aspecto gramatical, para concluir que deve se admitir contido na sentença não só o que está expressamente afirmado, mas também o que virtualmente se possa presumir como incluído51.
A Súmula 254 do STF indica a possibilidade de inclusão de juros moratórios na liquidação, ainda que a sentença seja omissa a esse respeito. Ainda que não haja súmula nesse sentido, também a correção monetária (desde que não haja exclusão expressa na decisão) e as custas processuais poderão ser incluídas nas mesmas circunstâncias52.
Substituindo a antiga liquidação pelo contador, a liquidação por mero cálculo aritmético não é propriamente uma liquidação, considerando-se o conceito moderno de liquidez que aponta não para a necessária determinação do valor, mas para a sua determinabilidade por meio de meros cálculos com os elementos fornecidos pela sentença. Seja como for, quando houver somente a necessidade da formulação de um cálculo aritmético para determinar o valor exato a ser executado, o art. 475-B do CPC prevê o procedimento a ser adotado, ainda que genuinamente não se trate de uma liquidação de sentença.
O cumprimento de sentença depende de manifestação expressa do demandante, que provocará o Poder Judiciário por meio do requerimento inicial (arts. 475-B, caput, e 475-J, caput, do CPC), que será instruído com o demonstrativo de cálculos. O dispositivo legal faz menção ao art. 614, II, do CPC, que prevê a “data de propositura da ação”, o que deve ser entendido no cumprimento de sentença como “data do protocolo do requerimento inicial”. Essa memória descriminada de cálculos, peça indispensável ao início da execução, deverá indicar todos os elementos utilizados no cálculo do exequente, com a expressa indicação do principal, acessórios, multas, e índices utilizados53.
Como se pode notar, realmente não se trata de liquidação, porque não há propriamente uma fase procedimental antes da execução, bastando o exercício unilateral do credor para dar liquidez ao título. Tanto é assim que a execução já tem início sem qualquer necessidade de ato preparatório que complemente o título executivo, o que, inclusive, justifica esse mesmo procedimento extraprocessual na hipótese de execução de título extrajudicial.
Segundo o art. 475-B, § 1.º, do CPC, quando a elaboração dos cálculos depender de dados aos quais o exequente não tem acesso, porque estão em poder do executado ou de terceiros, a requerimento do exequente o juiz poderá requisitar tais dados, fixando prazo de até 30 dias para o cumprimento da diligência. Tudo leva a crer que o dispositivo legal prevê uma exibição de coisa ou documento incidental à demanda executiva54, devendo ser aplicadas a esse procedimento, ao menos de forma subsidiária, as previsões procedimentais desse meio de prova.
O dispositivo indica que o juiz requisitará os dados por meio de pedido expresso do autor, sendo consequência natural dessa disposição que o autor dê início à liquidação por meio de um requerimento que deverá necessariamente estar fundamentado no sentido de convencer o juiz, ainda que sumariamente – por meio de uma cognição sumária –, de que o terceiro ou o executado está em poder de dados essenciais à elaboração do cálculo. Dessa forma, demonstrará a legitimidade passiva e o interesse de seu pedido. Esclareça-se que o ideal é que tal pedido já seja feito no próprio requerimento inicial, ou na petição inicial, que dará início à liquidação de sentença.
O dispositivo legal ora comentado afirma que o juiz poderá requisitar os dados, dando a entender corretamente que, tendo motivos para acreditar na inutilidade da medida, possa indeferi-la de plano55, determinando ao autor que apresente em dez dias o memorial descrito de cálculos sob pena de extinção sem resolução do mérito da liquidação. É curioso o dispositivo legal ao prever que, mediante o pedido do demandante, o juiz já determinará a exibição dos dados, o que poderia sugerir que não há respeito ao princípio do contraditório. Na realidade, a melhor interpretação é de que se aplica nesse caso o contraditório, sendo natural que o executado ou terceiro se manifeste após ser intimado/citado a apresentar os dados em juízo56. Na ausência de determinação legal, seja por aplicação analógica da cautelar de exibição, seja pela regra geral, o prazo para o executado ou terceiro alegar que a decisão de exibir não é legítima é de cinco dias, sendo natural que a apresentação da defesa suspenda o prazo para o cumprimento da obrigação, que prosseguirá na hipótese de indeferimento.
Conforme afirmado anteriormente, intimado/citado o executado ou terceiro, haverá prazo de cinco dias para manifestação defensiva, sendo que a ausência de resposta ou o seu indeferimento pelo juiz consolida a decisão que determinou a exibição dos dados. O art. 475-B, § 2.º, do CPC cuida da não apresentação injustificada dos dados – o que demonstra cabalmente a possibilidade de defesa. Segundo o dispositivo legal, se os dados não forem exibidos pelo executado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente. A previsão apresenta um problema cronológico, porque, no momento em que o juiz determina a exibição dos dados, o demandante não apresentou os cálculos, até porque, se já o tivesse feito, não haveria necessidade de o executado exibir quaisquer dados. Dessa forma, não haveria sobre o que se presumir acerca da correção57. Essa crítica, apesar de totalmente procedente, pode ser contornada com certa boa vontade na interpretação da norma, devendo-se entender que, não exibidos os dados, o exequente apresentará cálculos fundados nos insuficientes elementos que tenha à sua disposição, aplicando sobre eles a presunção de correção prevista no dispositivo legal.
O problema maior, entretanto, é compreender a lógica do dispositivo: se o demandante reconhece que não tem condições de elaborar os cálculos sem os dados que não estão em seu poder, como irá realizá-los após o descumprimento da ordem do juiz para que o executado os exiba em juízo? Se o demandante precisava dos dados no momento em que pediu ao juiz que determinasse a sua exibição, continua com a mesma necessidade se os dados não são exibidos em juízo. Diante dessa inegável realidade, não parece adequada – ao menos não nesse momento processual – a previsão de que a presunção de correção seja consequência da não exibição, porque o essencial aqui é criar um mecanismo apto a fazer com que os dados sejam efetivamente exibidos em juízo.
Ainda que se trate do demandado, o ideal será permitir ao juiz a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens58, inclusive com o reforço policial, se necessário, aplicando-se concomitantemente multa (astreintes) por dia de atraso na exibição dos dados, não se aplicando nesse caso a Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, caberão, conforme o caso, as sanções processuais por ato atentatório à dignidade da Justiça (arts. 600 a 601 do CPC) e também por ato atentatório à dignidade da jurisdição (art. 14 do CPC)59.
É natural que, em virtude da imprecisão que os cálculos apresentarão nesse caso, a presunção de correção dos cálculos apresentados só possa ser entendida como relativa, cabendo ao demandado, no momento em que se defender – por meio de embargos ou de impugnação –, demonstrar a incorreção do valor apresentado no cálculo apresentado pelo exequente60. O interessante aqui é que, alegando excesso de execução e sagrando-se vitorioso, o executado ainda assim será condenado a pagar os honorários advocatícios decorrentes dos embargos ou da impugnação, porque foi ele que forçou o demandante a cobrar mais do que o devido, aplicando-se ao caso o princípio da causalidade.
Quando a omissão é de terceiro, o legislador trata da consequência da não exibição de forma diferente, prevendo que o juiz determinará a busca e apreensão dos dados, com auxílio da força policial, se necessário (art. 352 do CPC). A omissão do legislador naturalmente não afasta a possibilidade de o juiz se utilizar de medidas de execução indireta (astreintes), além da possibilidade de o ato ser tipificado como crime de desobediência61.
Existe a possibilidade de remessa dos autos ao contador, mas tal circunstância é excepcional, limitando-se às hipóteses previstas em lei. Como as duas hipóteses de remessa dos autos ao contador têm fundamentos diferentes, cumpre realizar uma análise individualizada de cada uma delas.
A primeira hipótese prevista pelo art. 475-B, § 3.º, do CPC para a remessa dos autos ao contador é a aparência de que os cálculos excederam os limites da decisão exequenda, o que não se pode admitir sob pena de agressão ao princípio nulla executio sine titulo, visto que executar em valor superior ao título é o mesmo que executar sem título no tocante a esse excedente. É evidente que não se cobra do juiz uma análise minuciosa do cálculo apresentado, bastando que a desconfiança surja de uma análise sumária, superficial. Não é exigida nesse momento uma atividade técnica profunda do juiz a respeito das contas, mas um simples passar de olhos que se revele suficiente para passar a desconfiar de alguma irregularidade. São, portanto, casos de erros absurdos, perceptíveis prima facie por meio de superficial análise62.
A outra hipótese de remessa dos autos ao contador nada tem a ver com a regularidade dos cálculos apresentados, mas sim com a condição do exequente, que sendo beneficiário da assistência judiciária poderá se valer do contador judicial para determinar o valor de sua execução. Nesse caso, parece mais correto entender que o exequente, sem condições de realizar os cálculos, pede o auxílio judicial por meio da atividade do contador63. Caso o exequente, mesmo beneficiado pela assistência judiciária, apresente cálculos que não gerem qualquer desconfiança no juiz a respeito de sua regularidade, não tem sentido a remessa dos autos ao contador. Sendo norma elaborada para auxiliar o exequente, a remessa pura e simples dos autos contrariaria o objetivo da lei, atrasando o início da execução sem nenhuma justificativa, em nítido prejuízo do exequente.
Parcela da doutrina entende que a norma legal também se aplica na hipótese de o executado ser beneficiado pela assistência judiciária, porque poderia não ter condições de elaborar os cálculos em virtude de sua complexidade, funcionando esse impedimento como um obstáculo à apresentação de sua defesa em juízo, em nítida afronta ao princípio da ampla defesa64. Ainda que a preocupação seja legítima, não parece que o art. 475-B, § 3.º, do CPC seja endereçado ao executado beneficiado pela assistência judiciária, porque o dispositivo legal é aplicável no início da demanda executiva, sendo que o auxílio do contador judicial ao executado, se for necessário, ocorrerá em momento processual posterior, “quando” e “se” o executado oferecer impugnação ou embargos à execução. Nesse momento, poderá pedir o auxílio do contador, mas isso nada tem a ver com a liquidação de sentença.
Como já foi exposto, somente na hipótese de desconfiança quanto à regularidade dos cálculos o exequente já terá apresentado um valor para a execução. Quando o exequente for beneficiário da assistência judiciária, ele não indicará nenhum valor, requerendo a remessa dos autos ao contador, sendo o valor obtido pelo serventuário da justiça o valor da execução. É verdade que o cálculo apresentado pelo contador não vincula o exequente, que poderá indicar outro valor em sua execução65, mas tudo leva a crer que isso dificilmente ocorrerá porque, se o exequente não tinha condições de fazer os cálculos, também não terá condições de entender que os cálculos apresentados pelo contador estejam equivocados.
Já na hipótese de suspeita de irregularidade dos cálculos poderá haver uma divergência entre o valor apresentado pelo exequente na petição inicial e o valor obtido pelo contador, devendo ser o exequente intimado para se manifestar em cinco dias a respeito da divergência: concordando com os cálculos do contador, emendará a petição inicial e esse passará a ser o novo valor da execução; discordando, a execução prosseguirá pelo valor indicado pelo exequente, mas a penhora tomará por base o valor obtido pelo contador judicial.
O propósito da remessa dos autos ao contador não é impedir que o exequente peça o que entende ser devido, mas proteger o executado, que terá uma limitação na constrição patrimonial resultante da penhora. Em tese, como se presume que o cálculo do contador – terceiro sem interesse na solução da demanda – esteja mais próximo da correção do que aquele apresentado pelo exequente, limita-se a penhora àquilo que provavelmente estará mais próximo do valor efetivamente devido.
É importante notar em todo esse procedimento que o juiz não se manifesta a respeito do valor que efetivamente entende devido66. Ao desconfiar dos cálculos, o faz por meio de análise superficial, sem indicar qual o valor que entende o correto. Quando recebe os autos do contador e ouve o exequente, havendo discordância desse último, apenas determinará que a execução siga por um valor e que a penhora se faça tomando por base outro valor, não apontado quem está com a razão. Na realidade, o momento adequado ao juiz para falar a respeito dos cálculos é durante o julgamento da impugnação ou dos embargos à execução. Assim, o exequente indica o valor na petição inicial, o contador quando os autos lhe são remetidos, o executado em sua defesa típica – impugnação/embargos – e o juiz no julgamento dessa defesa. Cada qual com o seu momento processual adequado para falar a respeito dos cálculos.
Questão interessante surge na seguinte situação: o que ocorre se o executado não oferecer a defesa típica? A execução prosseguirá com o valor pretendido pelo exequente, realizando-se um reforço de penhora ou o juiz poderá de ofício determinar a adequação do valor para aquele indicado pelo contador ou para qualquer outro que lhe pareça mais correto? Entendo que o juiz pode corrigir o valor de ofício, porque se entender que o exequente pretende receber mais do que efetivamente tem direito, estará executando sem título, matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício pelo juiz67.
Segundo o art. 475-C do CPC, a liquidação por arbitramento deve ser realizada em três hipóteses: determinação na sentença; acordo entre as partes; quando o exigir a natureza do objeto da liquidação. O dispositivo legal deve ser criticado porque não foi capaz de expor com clareza quando a liquidação por arbitramento se fará efetivamente necessária. Bastaria para atingir tal objetivo ter previsto que sempre que o cálculo do valor de um bem, serviço ou prejuízo depender de conhecimentos técnicos específicos, será o caso de liquidar a sentença por arbitramento. Ou, em outras palavras, sempre que se fizer necessária a elaboração de uma perícia para se obter o quantum debeatur, o caminho será a liquidação por arbitramento68.
O juiz somente fixará em sentença essa espécie de liquidação quando entender que o quantum debeatur só poderá ser obtido por meio da realização de uma perícia, o que demonstra a inutilidade dessa previsão, tanto assim que o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que a liquidação por espécie distinta da constante da sentença não gera nulidade69. Da mesma forma, o consenso entre as partes só gerará efeitos se a perícia for necessária e não houver necessidade de alegação e prova de fatos novos. A vontade das partes não vincula o juiz na determinação da espécie de liquidação, o que demonstra a impropriedade da previsão70.
Registre-se que ao perito não será permitido o enfrentamento de fatos novos, porque essa circunstância necessariamente exigirá que a liquidação seja feita por artigos, ainda que se mostre necessária apenas a prova pericial. A liquidação por arbitramento, portanto, será realizada quando não forem necessárias a alegação e a prova de fato novo, bastando a realização de uma prova pericial a respeito dos fatos já estabelecidos na sentença ilíquida. É possível que o perito tenha no caso concreto necessidade de ouvir testemunhas, exigir novos documentos, conforme lhe faculta o art. 429 do CPC para uma melhor elucidação dos fatos já fixados em sentença, providências que não desvirtuam a natureza da liquidação71.
O único dispositivo legal que prevê o procedimento da liquidação por arbitramento é o art. 475-D do CPC, sendo totalmente omisso quanto ao início dessa espécie de liquidação. A formalidade desse início dependerá do momento processual: sendo a liquidação uma fase incidental, o início se dará por meio de mero requerimento, enquanto se a liquidação der início ao processo sincrético, deverá haver uma petição inicial, nos termos do art. 282 do CPC. A questão interessante que deve ser enfrentada, apesar do silêncio da lei, diz respeito à necessidade de o demandante já nesse requerimento/petição inicial indicar os quesitos e assistente técnico, ou se tal ato processual deverá ser praticado posteriormente no iter procedimental.
Para parcela da doutrina é necessária a indicação dos quesitos e assistentes técnicos já no início da liquidação, como requisito da peça que dá início a ela. Esse entendimento se justifica na ideia de sumariedade procedimental da liquidação, com uma maior concentração de atos processuais72. Como a liquidação por arbitramento se desenvolve basicamente por uma prova pericial, é natural que o demandante já esteja preparado no início da liquidação a especificar esse meio de prova, indicando seus questionamentos ao perito e comunicando quem será seu assistente técnico. Apesar da coerência do raciocínio, não me parece que o demandante esteja obrigado a assim proceder, sendo tal conclusão derivada da interpretação conjunta dos arts. 475-D e 421, ambos do CPC.
Segundo o art. 475-D do CPC, “requerida a liquidação por arbitramento, o juiz nomeará o perito e fixará o prazo para a entrega do laudo”, enquanto o art. 421, caput, do CPC determina que “o juiz nomeará perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo”. Como se nota numa comparação entre os dois dispositivos legais, há identidade de previsão entre eles, devendo-se aplicar o § 1.º do art. 421 do CPC ao art. 475-D do CPC, de forma que, após a determinação do perito, as partes deverão ser intimadas para que em cinco dias indiquem os quesitos e os assistentes técnicos73. Sendo corrente na doutrina que, na ausência de previsão expressa, se aplica à liquidação por artigos as regras da prova pericial, essa parece ser a solução mais acertada.
Ainda que a lei silencie a esse respeito, o princípio do contraditório exige a intimação (quando a liquidação for fase intermediária) ou citação (quando a liquidação for fase inicial) do demandado, sempre na pessoa de seu advogado (art. 475-A, § 1.º, do CPC), para que ofereça sua defesa no prazo geral de cinco dias (art. 185 do CPC)74. Registre-se que não há na liquidação de sentença os efeitos da revelia na hipótese de o demandado deixar de se manifestar, até porque não existem fatos que possam se presumir verdadeiros. Ademais, tendo advogado constituído nos autos, o demandado continuará a ser regularmente intimado75. Na realidade, a intimação/citação tem como objetivo o convite ao demandado para que participe da prova, respeitando-se assim o princípio do contraditório.
Decorrido o prazo de cinco dias, caso o demandado tenha apresentado defesa, o juiz deverá, sempre que possível, resolvê-la de plano. Sendo acolhida alguma defesa peremptória (por exemplo, inadequação da forma de liquidação), a liquidação será extinta, e, sendo acolhida alguma defesa dilatória (por exemplo, incompetência do juízo), as medidas cabíveis serão tomadas. Sendo rejeitada a defesa, ou não tendo sido apresentada, o juiz nomeará perito e indicará um prazo para a entrega do laudo, cabendo às partes em cinco dias apresentar os quesitos ou assistentes técnicos. A partir daí, aplica-se ao procedimento da liquidação as regras da prova pericial (arts. 420 a 439 do CPC), inclusive com a possibilidade de realização de audiência de instrução para prestação de esclarecimentos pelo juiz (art. 435 do CPC).
A liquidação por artigos é a última alternativa no âmbito das liquidações, porque é a mais complexa e demorada entre todas as suas espécies, de forma que deverá ser reservada somente para as situações em que não se mostre possível a liquidação por mero cálculo aritmético do credor ou por arbitramento. Tradicionalmente, a liquidação por artigos é associada com a necessidade de alegação e prova de fato novo, sendo essencial para a compreensão do instituto processual a conceituação de “fato novo”.
A primeira confusão que deve ser evitada na conceituação de fato novo diz respeito ao momento em que o fato ocorreu, sendo inadmissível confundir fato novo com fato superveniente. O fato novo pode ter ocorrido antes, durante ou depois da demanda judicial donde se produziu o título executivo ilíquido, não sendo o momento um critério correto para conceituar o fenômeno processual. Por fato novo deve-se entender aquele que não foi objeto de análise e decisão no processo no qual foi formado o título executivo que se busca liquidar. A novidade, portanto, não é temporal, mas diz respeito ao próprio Poder Judiciário, que pela primeira vez enfrentará e decidirá determinados fatos referentes ao quantum debeatur76.
Para a alegação e prova de um fato novo, a liquidação em muito se assemelha a um processo – ou fase procedimental – de conhecimento, tanto assim é que o art. 475-F do CPC prevê que, “na liquidação por artigos, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum (art. 272)”. A mera previsão de procedimento comum como apto a ser seguido na liquidação por artigos suscita uma séria dúvida na doutrina, partindo-se da premissa de que no procedimento comum existem o procedimento sumário e o procedimento ordinário. Qual desses dois procedimentos seria o adequado à liquidação de sentença por artigos?
Existe corrente doutrinária que entende não haver uma correlação necessária entre o procedimento adotado na fase de conhecimento, que resultou na sentença ilíquida, e aquele a ser adotado na liquidação. Para essa corrente doutrinária, o que importa é a análise do momento em que a liquidação é proposta, sendo possível que uma demanda que até então teve na fase de conhecimento para fixação do an debeatur um procedimento sumário, passe a adotar um procedimento ordinário e vice-versa. A justificativa é a própria autonomia concedida pelo legislador, ao prever expressamente no art. 475-F do CPC o procedimento comum77.
Para outra parcela da doutrina, tendo seguido o processo de conhecimento o rito sumário ou ordinário, deve-se seguir o mesmo procedimento na liquidação de sentença. Caso o processo de conhecimento – atualmente, melhor será falar em fase de conhecimento – tenha seguido um rito especial, a liquidação poderá seguir no rito sumário ou ordinário, a depender do valor da causa atribuído pelo demandante ao processo – ou fase – de conhecimento donde surgiu a sentença ilíquida que ora se busca liquidar78.
O termo “artigos” utilizado no nome da liquidação é derivado de antiga tradição, presente em nosso ordenamento desde os tempos das Ordenações. Tradicionalmente, significava que o demandante era obrigado a indicar os fatos novos que pretendia ver provados em forma de artigos, sob pena de indeferimento da peça inicial79. É óbvio que atualmente uma espécie de formalismo exacerbado como esse é algo totalmente despropositado, bastando que o demandante exponha com clareza – mas na forma que quiser – quais são os fatos que pretende ver provados80.
Em virtude da própria complexidade dessa espécie de liquidação de sentença, após a intimação/citação do demandado, sempre na pessoa de seu advogado, a resposta do demandado poderá ser a mais ampla possível, dentro apenas dos limites do procedimento estabelecido. Apesar de certa divergência quanto à possibilidade de o demandado responder à sua intimação/citação com intervenções de terceiros ou reconvenção81, o que me parece admissível desde que haja no caso concreto o preenchimento dos requisitos legais (o que certamente se mostrará difícil), não resta muita dúvida de que a contestação poderá ser a mais ampla possível, com defesas processuais dilatórias e peremptórias e defesas de mérito direta e indireta.
Diferente da liquidação por arbitramento, na qual não há fatos novos que precisem de prova, de forma que não há nenhuma lógica em falar em presunção de veracidade dos fatos alegados pelo demandante diante da ausência de defesa do demandado, na liquidação por artigos a situação é outra. Nessa espécie de liquidação, o demandante indica expressamente em sua peça inaugural – petição inicial ou requerimento – quais são os fatos que pretende provar como verdadeiros para chegar à fixação do quantum debeatur, de forma que a ausência de defesa do demandado, configura sua revelia e, ainda mais importante, a geração de presunção de que os fatos que o demandante pretendia provar são verdadeiros.
Deve-se recordar que a liquidação por artigos, conforme já afirmado, é uma verdadeira fase de conhecimento de cognição limitada, seguindo o procedimento sumário e ordinário, donde se pode concluir que tudo o que se aplica em fase de conhecimento que siga o procedimento comum deva também se aplicar à liquidação por artigos. Esse pensamento, naturalmente, se estende à revelia, em especial quanto à presunção de veracidade dos fatos alegados, até porque, quanto à desnecessidade de intimação, não haverá a geração de tal efeito, pois, uma vez representado nos autos, o demandado será regularmente intimado por meio de seu advogado82.
A liquidação de sentença é simplificada no PLNCPC, que tem como grande mérito excluir a chamada “liquidação por mero cálculo aritmético” do capítulo referente ao tema, considerando-se que a necessidade de mero cálculo aritmético para se chegar ao valor devido não exige liquidação da obrigação.
Fiel a esse entendimento, o art. 802, parágrafo único, do PLNCPC prevê que a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título. Enquanto o § 2.º do art. 523 dispõe que, dependendo a apuração do valor apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença, podendo inclusive ser auxiliado por programa de atualização financeira a ser disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça (§ 4.º).
A previsão contida no art. 523, caput, do PLNCPC parece resolver algumas divergências doutrinárias a respeito do tema. Primeiro, ao prever expressamente a necessidade de uma sentença condenatória ao pagamento de quantia ilíquida, posiciona-se no sentido da doutrina que entende ser a obrigação de pagar quantia a única liquidável. Segundo, por consagrar o entendimento de que tanto o credor como o devedor têm legitimidade para dar início à liquidação de sentença.
Com a correta exclusão da “liquidação por mero cálculo aritmético”, os dois incisos do art. 523 do PLNCPC preveem apenas a liquidação: (I) por arbitramento e (II) pelo procedimento comum. O legislador parece ter acabado com as diferentes espécies de liquidação de sentença, limitando-se a dispor dois diferentes procedimentos: liquidação por arbitramento quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, e liquidação pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegação e prova de fato novo (antiga liquidação por artigos).
O legislador, ao manter as hipóteses de cabimento da liquidação por arbitramento previstas no art. 475-C do CPC/1973, não deve ser aplaudido, afinal a convenção das partes ou mesmo a determinação pela sentença não são aptas a justificar o cabimento dessa espécie de liquidação. Melhor teria sido o legislador se limitar a prever que a liquidação seria por arbitramento quando a fixação do valor depender de prova pericial.
No § 1.º do dispositivo ora comentado consagra-se a teoria dos capítulos da sentença, permitindo à parte concomitantemente liquidar capítulo ilíquido e executar capítulo líquido. Nesse caso, a liquidação dar-se-á em autos apartados. O § 4.º repete a regra já consagrada no art. 475-G do CPC/1973, sendo, portanto, mantida a regra da fidelidade ao título executivo.
O art. 524 do PLNCPC prevê o procedimento da liquidação por arbitramento. Segundo o dispositivo, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar; caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Naturalmente essa intimação dependerá da provocação da parte interessada, preservando-se o princípio da inércia da jurisdição. Apesar do silêncio da lei, a peça inicial deve ser informal, bastando ao credor demonstrar o cabimento dessa forma de liquidação e pedir o início da liquidação.
No art. 525 do PLNCPC está previsto o procedimento da liquidação pelo procedimento comum. Nos termos do dispositivo o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de quinze dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. O dispositivo também é omisso quanto à indispensável peça inicial a ser apresentada pelo credor para dar início à liquidação de sentença. E nesse caso tal peça é mais complexa que aquela que dá início à liquidação por arbitramento, cabendo ao credor especificar sobre quais fatos a prova a ser produzida deve recair, demonstrando o nexo de causalidade entre eles e a fixação do quantum debeatur.
A qualidade efeito secundário da sentença, previsto no art. 475-A, § 2.º, do CPC/1973, é mantida pelo art. 526 do PLNCPC, de forma que a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes.
1 Araken de Assis, Manual, n. 52.1.2, p. 271; Mazzei, Reforma, p. 155-158.
2 Dinamarco, Instituições, n. 1.745, p. 634-635.
3 Dinamarco, Instituições, p. 615; Theodoro Jr., Processo, n. 534, p. 623.
4 Nesse sentido Carmona, O processo, p. 44. Shimura, Título, p. 197.
5 Scarpinella Bueno, A nova, p. 39; Gusmão Carneiro, Cumprimento, p. 33.
6 Câmara, A nova, e Araken de Assis, Cumprimento, p. 93, elogiam a mudança legislativa, mas afirmam que nem toda condenação genérica tem como objeto uma obrigação pecuniária.
7 Araken de Assis, Manual, n. 52.1.4, p. 272; Dinamarco, Instituições, n. 1.731, p. 615.
8 Contra, Marinoni-Arenhart, Execução, n. 7.2, p. 123.
9 Dinamarco, Instituições, p. 616; Wambier-Wambier-Medina, Breves, p. 99.
10 Araken de Assis, Manual, n. 52.1.4, p. 272; Theodoro Jr., Processo, n. 533, p. 622. Contra, Nery-Nery, Código, p. 721.
11 Marinoni-Arenhart, Execução, n. 7.2, p. 123; Araken de Assis, Manual, n. 52.1.1, p. 271.
12 Fidélis dos Santos, As reformas, p. 12; Theodoro Jr., As novas, n. 6.2, p. 184.
13 Araken de Assis, Manual, n. 52.1.1, p. 271.
14 Câmara, A nova, p. 83; Gusmão Carneiro, Cumprimento, n. 11.3, p. 36; Mazzei, Reforma, p. 164-165. Bondioli, O novo, p. 72.
15 Informativo 417/STJ, 3.ª Turma, REsp 981.001-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.11.2009.
16 Gusmão Carneiro, Cumprimento, n. 11.2, p. 34. Contra, entendendo tratar-se de liquidação definitiva, Nery-Nery, Código, p. 722.
17 Bondioli, O novo, p. 71.
18 Scarpinella Bueno, A nova, p. 44.
19 Marinoni-Arenhart, Manual, n. 7.2, p. 122.
20 Didier, A terceira, p. 84-85.
21 Shimura, A execução, p. 553; Scarpinella Bueno, A nova, p. 61; Câmara, A nova, p. 86-87; Greco, Primeiros, p. 73; Nery-Nery, Código, p. 730.
22 Mazzei, A reforma, p. 190; Didier, A terceira, p. 85; Fidélis dos Santos, As reformas, p. 24.
23 Marinoni-Arenhart, Execução, n. 7.8, p. 138-139; Theodoro Jr., Processo, n. 535, p. 624.
24 Araken de Assis, Manual, n. 55.1, p. 277; Nery-Nery, Código, p. 730; Gusmão Carneiro, Cumprimento, n. 12.1, p. 40.
25 Theodoro Jr., Processo, n. 550, p. 635; Nery-Nery, Código, p. 730; Gusmão Carneiro, Cumprimento, n. 12.1, p. 40. Contra, Marinoni-Arenhart, Execução, n. 7.9, p. 140-141, falando em preclusão e revisão por qualquer ação autônoma.
26 Bondioli, O novo, p. 80.
27 Didier-Braga-Oliveira, Curso, p. 400. Admitindo a antecipação de tais matérias como defesa na própria liquidação, Zavascki, Processo, p. 396.
2828 STJ, 3.ª Turma, REsp 1.291.318-RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.02.2012, DJe 24.02.2012; STJ, 1ª Turma, REsp 1.090.429-RJ, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 20.05.2010, DJe 26.0.2010.
29 Informativo 437/STJ, 2.ª Turma, REsp 1.130.862-ES, rel. Min. Eliana Calmon, j. 1.º.06.2010.
30 Liebman, Processo, p. 50-51; Dinamarco, Instituições, p. 625; Theodoro Jr., Processo, p. 218; Carmona, Processo, p. 48-49.
31 Pontes de Miranda, Comentários, v. 9, p. 506; Nery-Nery, Código, p. 721.
32 Zavascki, Processo, p. 409; Dinamarco, Instituições, n. 1.739, p. 625.
33 É mais fácil imaginar a ocorrência de tal circunstância em títulos executivos nos quais a iliquidez atinja outro elemento além do quantum debeatur, como ocorre na sentença penal condenatória transitada em julgado e na execução de sentença proferida em demanda coletiva que tenha como objeto direito individual homogêneo.
34 Zavascki, Processo, p. 402. Contra, Buzaid, Da liquidação, p. 10, para quem a redução do valor a zero na liquidação importaria a rescisão do julgado.
35 Dinamarco, Instituições, n. 1.740, p. 627. Contra, Nery-Nery, Código.
36 Wambier, Sentença, p. 169-170; Didier-Braga-Oliveira, Curso, p. 413.
37 Greco Filho, Direito, v. 3, p. 48; Theodoro Jr., Processo, n. 542, p. 627; Dinamarco, Instituições, n. 1.740, p. 628.
38 Informativo 505/STJ, 3.ª Turma, REsp 1.280.949-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.09.2012.
39 Wambier, Sentença, p. 170-172; Zavascki, Processo, p. 403.
40 Araken de Assis, Manual, n. 55.3, p. 279.
41 Marinoni-Arenhart, Execução, n. 7.3, p. 124-125; Theodoro Jr., Processo, n. 535, p. 624; Shimura, A execução, n. 3.1, p. 552-553.
42 Araken de Assis, Manual, n. 52.2, p. 273; Wambier, Sentença, n. 3.2.1, p. 94; Nery-Nery, Código, p. 720.
43 Didier-Braga-Oliveira, Curso, p. 392-393; Flach, A nova, p. 33-34, apontando ainda para a autonomia da liquidação da sentença coletiva.
44 Dinamarco, Instituições, p. 620; Araken de Assis, Manual, p. 305; Pontes de Miranda, Comentários, v. 9, p. 502-503.
45 No sentido do texto, Theodoro Jr., As novas, p. 189; Mazzei, Reforma, p. 195-197. Em sentido contrário, Abelha Rodrigues, Manual, p. 451.
46 Contra: Nery-Nery, Código, p. 722.
47 Lucon, Código, p. 1.789; Didier-Braga-Oliveira, Curso, p. 395-396; Abelha Rodrigues, Manual, p. 451-452.
48 Informativo 452/STJ, 3.ª Turma, REsp 1.098.242-GO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.10.2010; Informativo 422/STJ: 3.ª Seção, CC 96.682-RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 10.02.2010.
49 Informativo 489/STJ, 4.ª Turma, REsp 1.112.858-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2011.
50 Wambier, Sentença, p. 179-181.
51 Dinamarco, Instituições, v. 4, p. 634; Lucon, Código, p. 1.805.
52 Araken de Assis, Manual, p. 319-320; Zavascki, Processo, p. 399; Lucon, Código, p. 1.805-1.806.
53 Marinoni-Arenhart, Execução, n. 7.4, p. 125.
54 Camiña Moreira, Nova, p. 376; Ferreira, Aspectos, p. 271. Para Zavascki (Processo, p. 416-417), trata-se processo autônomo de exibição, sendo, inclusive, sentença o pronunciamento que o decide.
55 Figueira Jr., Comentários, p. 217.
56 Marinoni-Arenhart, Execução, n. 7.4.1, p. 126-127.
57 Zavascki, Processo, p. 416; Mazzei, Reforma, p. 177.
58 Marinoni-Arenhart, Execução, n. 7.4.1, p. 127.
59 Wambier, Sentença, p. 247; Lucon, Código, p. 1.778-1.779; Shimura, A execução, n. 3.5, p. 557.
60 Araken de Assis, Cumprimento, p. 121; Costa Machado, Código, p. 1.115; Didier, A nova, p. 250; Marinoni-Arenhart, Execução, n. 7.4.1, p. 127; Shimura, A execução, n. 3.5, p. 557. Contra: Figueira Jr., Comentários, p. 218; Câmara, Lições, p. 237; Theodoro Jr., Processo, n. 545, p. 630, que permite somente o controle de ofício; Nery-Nery, Código, p. 723-724.
61 Marinoni-Arenhart, Execução, n. 7.4.1, p. 127.
62 Dinamarco, A reforma, p. 263; Cruz e Tucci, Lineamentos, p. 153.
63 Cruz e Tucci, Lineamentos, p. 153; Marinoni-Arenhart, Execução, n. 7.4.2, p. 129.
64 Dinamarco, Reforma, p. 265; Cruz e Tucci, Lineamentos, p. 153; Didier-Braga-Oliveira, Curso, p. 405.
65 Zavascki, Processo, p. 417; Fidélis dos Santos, Manual, p. 73.
66 Dinamarco, Reforma, p. 263-265; Cruz e Tucci, Lineamentos, p. 153; Fidélis dos Santos, Manual, p. 72. Contra: Nery-Nery, Código, p. 724.
67 Zavascki, Processo, p. 417-418; Theodoro Jr., Processo, n. 546, p. 631. Informativo 391/STJ, 3.ª T., REsp 1.012.306-PR, rel. Nancy Andrighi, j. 28.04.2009. Contra: Araken de Assis, Cumprimento, p. 123; Marinoni-Arenhart, Execução, n. 7.4.2, p. 129; Câmara, Lições, p. 236-237.
68 Marinoni-Arenhart, Manual, n. 7.5, p. 130; Nery-Nery, Código, p. 726.
69 Súmula 344/STJ.
70 Greco, O processo, p. 246-247; Dinamarco, Instituições, n. 1.738, p. 624; Nery-Nery, Código, p. 726. Contra: Carmona, O processo, p. 51.
71 Zavascki, Processo, p. 420.
72 Lucon, Código, p. 1.789; Greco, O processo, p. 251.
73 Câmara, Lições, p. 232; Fidélis dos Santos, Manual, p. 76; Amaral Santos, Primeiras, p. 268; Araken de Assis, Manual, n. 58.2, p. 291; Theodoro Jr., Processo, n. 547, p. 632.
74 Marinoni-Arenhart, Manual, n. 7.5, p. 130-131; Araken de Assis, Manual, n. 58.3, p. 293. Contra: Fidélis dos Santos, Manual, p. 76.
75 Greco, O processo, p. 251; Zavascki, Processo, p. 423; Araken de Assis, Manual, p. 316.
76 Dinamarco, Instituições, n. 1.737, p. 621; Araken de Assis, Manual, n. 58.3, p. 292.
77 Zavascki, Processo, p. 428-429; Greco, O processo, p. 252.
78 Dinamarco, Instituições, p. 622; Wambier, Sentença, p. 130.
79 Theodoro Jr., Processo, n. 548, p. 633.
80 Nery-Nery, Código, p. 728.
81 No sentido do texto: Araken de Assis, Manual, p. 317-318; Lucon, Código, p. 1.802. Contra: Greco, O processo, p. 253.
82 Araken de Assis, Manual, p. 318; Lucon, Código, p. 1.802.