
NOÇÕES INTRODUTÓRIAS
Sumário: 1.1 O Direito Tributário como ramo do Direito Público – 1.2 Atividade financeira do Estado – 1.3 Definição de Tributo: 1.3.1 Prestação pecuniária, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir; 1.3.2 Prestação compulsória; 1.3.3 Prestação que não constitui sanção de ato ilícito; 1.3.4 Prestação instituída em lei; 1.3.5 Prestação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada – 1.4 Os tributos em espécies: 1.4.1 A determinação da natureza jurídica específica do tributo; 1.4.2 Os impostos; 1.4.3 As taxas; 1.4.4 As contribuições de melhoria; 1.4.5 Os empréstimos compulsórios; 1.4.6 As contribuições especiais – 1.5 Classificações doutrinárias dos tributos: 1.5.1 Quanto à discriminação das rendas por competência: federais, estaduais ou municipais; 1.5.2 Quanto ao exercício da competência impositiva: privativos, comuns e residuais; 1.5.3 Quanto à finalidade: fiscais, extrafiscais e parafiscais; 1.5.4 Quanto à hipótese de incidência: vinculados e não vinculados; 1.5.5 Quanto ao destino da arrecadação: da arrecadação vinculada e da arrecadação não vinculada; 1.5.6 Quanto à possibilidade de repercussão do encargo econômico-financeiro: diretos e indiretos; 1.5.7 Quanto aos aspectos objetivos e subjetivos da hipótese de incidência: reais e pessoais; 1.5.8 Quanto às bases econômicas de incidência – A classificação do CTN.
É clássica a divisão do direito entre os ramos público e privado.
A principal característica do direito privado é a predominância do interesse dos indivíduos participantes da relação jurídica. Mesmo havendo normas jurídicas de aplicação cogente ao caso concreto, haverá necessariamente a subjacência do interesse individual.
Assim, a título de exemplo, num casamento existe um conjunto de regras do direito de família consideradas normas de ordem pública a cuja observância não se podem furtar os cônjuges. Não obstante, há claramente, subjacente ao interesse da manutenção da ordem pública, o interesse dos indivíduos participantes da relação jurídica instaurada, o que situa o conjunto de normas aplicáveis na seara do direito privado.
Em direito privado, portanto, pela subjacência sempre presente do interesse privado, a regra é a livre manifestação da vontade, a liberdade contratual, a igualdade entre as partes da relação jurídica (os interesses privados são vislumbrados como equivalentes). Além disso, a regra em direito privado é a disponibilidade dos interesses, podendo os particulares abrir mão de seus direitos, ressalvados aqueles considerados indisponíveis, pois, como já destacado, a necessária subjacência do interesse privado não exclui a existência de disposições cogentes relativas à ordem pública.
Quando se passa a tratar de direito público, a análise parte de premissas bastante diferentes, quase que diametralmente opostas.
Os princípios fundamentais do regime jurídico de direito público são: a) a supremacia do interesse público sobre o interesse privado; e b) a indisponibilidade do interesse público.
Nessa linha, em virtude do primeiro princípio, quando há, numa relação jurídica, um polo ocupado pelo Estado, agindo nesta qualidade (como ente estatal buscando a consecução de fins públicos), e outro ocupado por particular defendendo seus direitos individuais, é considerada normal a atribuição de vantagens ao Estado. Há um desnivelamento, uma verticalização na relação jurídica. O Estado comparece um pouco acima; o particular, um pouco abaixo.
Explique-se melhor este ponto. Se um particular, proprietário de um estabelecimento comercial, deseja expandir seus negócios e, para isso, vê como fundamental a aquisição do prédio vizinho, também pertencente a outro particular, a única possibilidade à sua disposição é o acordo. Se o vizinho não se interessar pelas propostas do visionário comerciante, o negócio não se aperfeiçoará.
Ambos são particulares. Ambos defendem seus interesses individuais. A relação jurídica é horizontalizada, e nenhum deles pode impor sua vontade ao outro, pois o ordenamento jurídico não assegura a preponderância de quaisquer dos interesses em jogo.
Imagine-se agora a duplicação de uma rodovia entre as cidades “A” e “B”. Suponha-se que, num determinado ponto do trajeto da nova pista, exista um imóvel pertencente a um particular que é utilizado como residência familiar. Novamente, há uma pessoa (o Estado) precisando de um imóvel pertencente a outra (o particular). Nesse caso, a inexistência de acordo não impedirá que o Estado adquira a propriedade. Mesmo com a possível discordância do particular, o ordenamento jurídico possibilita ao Estado utilizar-se do instituto da desapropriação. Aqui a relação jurídica é verticalizada, ou seja, o Estado comparece numa situação de supremacia, pois a duplicação da rodovia atende aos interesses de toda a coletividade. Dessa forma, o interesse do particular, embora legítimo, cederá em homenagem à supremacia do interesse público sobre o privado.
O segundo princípio, a indisponibilidade do interesse público, traz como consectário a impossibilidade de os agentes públicos praticarem atos que possam menoscabar o patrimônio público ou o interesse público.
Assim, se um particular “A” conta para um particular “B” a história de sua desditosa vida, com todas as nuances possíveis e imagináveis de sofrimento e penúria, para, ao fim, arrematar com um pedido de perdão de uma determinada dívida, “B” poderá livremente tomar a decisão que melhor lhe aprouver. Seu patrimônio (o crédito) é plenamente disponível, não havendo qualquer restrição à concessão do perdão (remissão).
Todavia, se “B” é um fiscal de tributos e o crédito que “A” deseja ver perdoado é um crédito tributário, o perdão não poderá ser concedido. O crédito tributário é parte do patrimônio público e, justamente por isso, indisponível.
Alguns poderiam se perguntar como é possível, diante da indisponibilidade do interesse público, a concessão de perdão por intermédio de lei, algo tão comum no direito brasileiro. Ocorre que, nessa situação, o perdão está sendo concedido pelo próprio Estado ou, em face do princípio democrático, pelo próprio povo, verdadeiro destinatário teórico de todas as ações estatais.
O ponto crucial é que, ao menos na teoria, no parlamento estão os representantes do povo. Dessa forma, a concessão de qualquer benefício fiscal por lei significa que o povo quis o proveito do beneficiário.
Seguindo esse raciocínio, pode-se dizer que o patrimônio público é indisponível apenas para aqueles meramente obrigados ao cumprimento das ordens dadas pelo povo, consubstanciadas em leis. Mas o próprio povo tem a prerrogativa de dispor de tal patrimônio – que, em última análise, pode ser visto como seu patrimônio – por meio das leis que elabora, por meio de seus representantes legítimos.
Tudo o que foi exposto deixa claro que o direito tributário é, inequivocamente, ramo do direito público e que a ele são inteiramente aplicáveis os princípios fundamentais inerentes ao regime jurídico de direito público.
A supremacia do interesse público sobre o interesse privado é facilmente vista pelo fato de a obrigação de pagar tributo decorrer diretamente da lei, sem manifestação de vontade autônoma do contribuinte (foi proprietário de um imóvel na área urbana, tem que pagar IPTU, querendo ou não) e pelas diversas prerrogativas estatais que colocam o particular num degrau abaixo do ente público nas relações jurídicas, como, por exemplo, o poder de fiscalizar, de aplicar unilateralmente punições e apreender mercadorias, entre tantos outros.
Já a indisponibilidade do interesse e do patrimônio público é visualizada, de maneira cristalina, na sempre presente exigência de lei para a concessão de quaisquer benefícios fiscais. Por ser extremamente oportuno, transcreve-se o pedagógico art. 150, § 6.º, da CF:
“§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g”.
São claros os termos do dispositivo. Todos os institutos citados enquadram-se na definição de “benefícios fiscais”, dependendo da edição de lei específica a implementação de quaisquer deles, afinal, como já afirmado, só o povo pode dispor do patrimônio público.
O Estado existe para a consecução do bem comum. Para atingir tal mister, precisa obter recursos financeiros, o que faz, basicamente, de duas formas, que dão origem a uma famosa classificação dada pelos financistas às receitas públicas.
Para obter receitas originárias, o Estado se despe das tradicionais vantagens que o regime jurídico de direito público lhe proporciona e, de maneira semelhante a um particular, obtém receitas patrimoniais ou empresariais. A título de exemplo, cite-se um contrato de aluguel em que o locatário é um particular e o locador é o Estado. O particular somente se obriga a pagar o aluguel porque manifesta sua vontade ao assinar o contrato, não havendo manifestação de qualquer parcela do poder de império estatal.
Na obtenção de receitas derivadas, o Estado, agindo como tal, utiliza-se das suas prerrogativas de direito público, edita uma lei obrigando o particular que pratique determinados atos ou se ponha em certas situações a entregar valores aos cofres públicos, independentemente de sua vontade. Como exemplo, aquele que auferiu rendimento será devedor do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (imposto de renda) independentemente de qualquer manifestação volitiva.
Registre-se, por oportuno, que tanto nas receitas originárias quanto nas derivadas existem hipóteses em que o sujeito passivo (devedor) também é ente estatal, sendo a nota distintiva entre as espécies de receita ora estudadas o regime jurídico a que estão essencialmente submetidas (direito público ou privado) e não os polos da respectiva relação jurídica.
A classificação ora analisada pode ser esquematizada da seguinte forma:

Atualmente, com a concepção de Estado mínimo que tem sido globalmente adotada, tornando excepcional a exploração de atividade econômica por parte do Estado, perderam importância as receitas originárias, tendo como consequência a concentração da arrecadação estatal precipuamente nas receitas derivadas.
A excepcionalidade da exploração de atividade econômica por parte do Estado é decorrente de previsão constitucional expressa (CF, art. 173):
“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei”.
Nesta obra, o objeto de estudo serão as receitas derivadas, especificamente a modalidade tributos. Antes, entretanto, um esclarecimento extremamente necessário.
É lugar-comum se afirmar que o Estado tributa para conseguir carrear recursos para os cofres públicos, possibilitando o desempenho de sua atividade financeira, tudo em busca do seu desígnio maior: o bem comum. Essa visão é correta, mas incompleta.
No período clássico das finanças públicas (Estado Liberal dos séculos XVIII e XIX), a regra fundamental, quase que absoluta, era a não intervenção do Estado na economia. Foi nessa época que Adam Smith apontou a existência de uma “mão invisível do mercado”, que se responsabilizaria pelo ótimo funcionamento da economia, automaticamente corrigindo os desvios, propiciando as condições necessárias ao crescimento econômico e à melhoria das condições da vida em sociedade.
Nessa linha, o liberalismo entendia que o Estado não deveria intervir no domínio econômico, de forma que os tributos deveriam ser neutros, ou seja, apenas uma forma de obtenção de meios materiais para as atividades típicas do Estado (Estado Polícia), jamais um instrumento de mudança social ou econômica.
Nesse período, não se tinha como princípio da tributação a isonomia. Os desiguais eram tratados igualmente, de forma que cada contribuinte estava sujeito à mesma carga tributária, sem se cogitar a possibilidade de aferição individual da capacidade.
Foi só no final do século XIX que a “mão poderosa e visível” do Estado passou a ser utilizada como instrumento para correção das distorções geradas pelo liberalismo.
Os humores da economia variavam bruscamente entre a depressão e a euforia. As fases depressivas sempre eram acompanhadas por epidemias de desemprego, agravadas pelos efeitos que a Revolução Industrial e seu alto índice de mecanização trouxeram sobre o mercado de trabalho.
Adentra-se, então, no período moderno das finanças públicas, caracterizado pela intervenção do Estado no domínio econômico e social. Sai de cena o liberalismo. Entra em cartaz o Estado do Bem-Estar Social (Welfare State).
Precisando intervir, o Estado passa a perceber que dispunha de uma poderosa arma em suas mãos: o tributo.
O tributo passa a ser, sempre que possível, graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Ressalte-se que, na Constituição atual, o princípio vincula apenas a instituição de impostos, o que, conforme será explicitado no momento oportuno, não impede sua aplicação no tocante às demais espécies tributárias.
Nessa nova fase, o Estado também percebe que nenhum tributo é completamente neutro, pois, mesmo que objetive exclusivamente arrecadar, acaba gerando impactos sobre o funcionamento da economia.
Assim, o Estado passa a aproveitar esses efeitos colaterais dos tributos, instituindo-os com o objetivo de intervir no domínio econômico e na ordem social.
Num passado recente, a título de exemplo, o Estado, visando a estimular o desenvolvimento da indústria automobilística nacional, em vez de simples e radicalmente proibir a importação de veículos, recorreu ao imposto de importação, majorando-lhe as alíquotas, de forma a inibir as operações.
Verifica-se que o efeito da medida sobre a arrecadação tributária é relativamente imprevisível, pois, apesar do aumento de alíquota, é provável que as importações caiam e talvez a arrecadação total, mesmo com a nova alíquota, também venha a cair (aliás, nesse caso, o Estado estará, indiretamente, desejando essa queda de arrecadação do imposto).
Na mesma linha, é muito comum que, em alguma época do ano, seja divulgada a notícia de que as grandes montadoras de veículos irão promover demissão em massa ou, no mínimo, férias coletivas, em virtude de uma estagnação econômica que esteja causando queda nas vendas. Temendo o impacto social da medida, o governo chama para a negociação os representantes da indústria e dos empregados, propondo uma redução da alíquota do IPI para que o veículo se torne mais barato, o mercado automotivo ganhe fôlego e os empregos sejam mantidos. Novamente, o impacto sobre a arrecadação é imprevisível, pois a queda da alíquota pode ser compensada pelo aumento das vendas (inclusive, tal aspecto é irrelevante do ponto de vista do objetivo precípuo do governo no caso: manter os empregos).
É muito importante ressaltar que esses tributos também arrecadam, mas a finalidade arrecadatória fica num segundo plano, dado o objetivo principal das medidas.
Assim, existem tributos cuja finalidade principal é fiscal, ou seja, arrecadar, carrear recursos para os cofres públicos (ex.: ISS, ICMS, IR etc.). Há tributos, contudo, que têm por finalidade precípua intervir numa situação social ou econômica. É a finalidade extrafiscal (como nos exemplos citados, no IOF, no IE, no ITR etc. – em momento oportuno, será detalhada a maneira como estes e outros tributos são utilizados de forma extrafiscal).
Também nos casos de tributos com finalidade fiscal, a finalidade extrafiscal, não obstante secundária, far-se-á presente. Analise-se, a título de exemplo, o imposto de renda. Trata-se um tributo claramente fiscal, mas a progressividade das alíquotas, apesar de ter uma finalidade arrecadatória (exigir mais de quem pode contribuir mais) acaba trazendo um efeito social interessante.
Quem ganha “pouco” nada paga (isenção); quem ganha “muito” contribui sob uma alíquota de 27,5%. Em contrapartida, parte da arrecadação é utilizada para prestar serviços públicos e, em regra, quem usa tais serviços (educação e saúde, por exemplo) são as pessoas isentas, uma vez que as que possuem maior renda normalmente têm planos privados de saúde e pagam por educação particular. Dessa forma, o IR acaba tendo uma função extrafiscal embutida: redistribuir renda (alguns, mais românticos, chamam-no, por isso, de imposto Robin Hood – tira dos ricos para dar aos pobres).
Ao lado dessas duas finalidades (fiscal e extrafiscal), a doutrina cita uma terceira, em que, na realidade, objetiva-se também a arrecadação. A diferença reside no fato de a lei tributária nomear sujeito ativo diverso da pessoa que a expediu, atribuindo-lhe a disponibilidade dos recursos arrecadados para o implemento de seus objetivos. Como exemplo, podem ser citadas as contribuições previdenciárias, que, antes da criação da Secretaria da Receita Previdenciária (hoje parte da Receita Federal do Brasil), eram cobradas pelo INSS (autarquia federal), que passava a ter, também, a disponibilidade dos recursos auferidos. Tem-se aí a finalidade parafiscal da tributação.
É possível concluir, portanto, que, na parafiscalidade, o objetivo da cobrança de tributo é arrecadar, mas o produto da arrecadação é destinado a ente diverso daquele que institui a exação. Por óbvio, o beneficiário dos recursos sempre será uma instituição que desempenhe uma atividade tipicamente estatal (como o caso do INSS) ou de interesse do Estado, como os denominados serviços sociais autônomos (SESI, SESC, SENAI, SEBRAE, SEST, dentre outros).
Hoje em dia, a maioria dos tributos tradicionalmente definidos como “contribuições parafiscais” tem por sujeito ativo a própria União, não se enquadrando na tradicional definição de parafiscalidade (em virtude da não atribuição da condição de sujeito ativo ao beneficiário).
Assim, é possível se afirmar que, atualmente, o fenômeno da parafiscalidade somente se caracteriza pelo destino do produto da arrecadação a pessoa diversa da competente para a criação do tributo. Não obstante, em concursos públicos tem-se adotado o entendimento clássico, considerando corretas as assertivas que incluem como elemento do conceito de parafiscalidade a delegação da capacidade tributária ativa.
A título de exemplo, no concurso para Auditor do Estado de Minas Gerais, realizado em 2005, a ESAF considerou correta assertiva que afirmava textualmente o seguinte: “Quando a lei atribui a capacidade tributária ativa a ente diverso daquele que detém a competência tributária, estar-se-á diante do fenômeno da parafiscalidade”.
Registre-se que a banca não afirmou ser a parafiscalidade dependente da delegação da capacidade tributária ativa, mas asseverou que quando a delegação está presente existe parafiscalidade.
A doutrina é rica em definições de tributo. A título de exemplo, Luciano Amaro define tributo como “a prestação pecuniária não sancionatória de ato ilícito, instituída em lei e devida ao Estado ou a entidades não estatais de fins de interesse público”.
Para os objetivos desta obra, torna-se importante ressaltar que, não obstante as críticas da doutrina, a definição de tributo tem sede legal. É o art. 3.º do Código Tributário Nacional que traz a “definição oficial” de tributo, lavrada nos seguintes termos:
“Art. 3.º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.
Para um completo entendimento do tema, tal definição deve ser analisada em todos os seus aspectos.
É impossível não perceber certa redundância na redação do dispositivo. Prestações pecuniárias são justamente aquelas em moeda. Alguns entendem que a expressão “ou cujo valor nela se possa exprimir” constituiria uma autorização para a instituição de tributos in natura (em bens) ou in labore (em trabalho, em serviços), uma vez que bens e serviços são suscetíveis de avaliação em moeda.
Seguindo esse raciocínio, se a alíquota do imposto de importação incidente sobre determinada bebida fosse de 50%, o importador, ao adquirir mil garrafas, poderia deixar quinhentas na alfândega a título de tributo; ou, como já aceito por alguns Municípios, seria permitido ao devedor de IPTU quitar suas dívidas pintando prédios públicos ou podando algumas árvores espalhadas pela cidade. As situações beiram o cômico e ilustram a impossibilidade.
Apesar de a Lei Complementar 104/2001 ter acrescentado o inciso XI ao art. 156 do CTN, permitindo a dação em pagamento de bens imóveis como forma de extinção do crédito tributário, não se pode tomar a autorização como uma derrogação da definição de tributo no ponto em que se exige que a prestação seja “em moeda”, pois o próprio dispositivo oferece a alternativa “ou cujo valor nela [em moeda] se possa exprimir”. Assim, é lícito entender que o CTN permite a quitação de créditos tributários mediante a entrega de outras utilidades que possam ser expressas em moedas, deste que tais hipóteses estejam previstas no próprio texto do Código, que no seu art. 141 afirma que o crédito tributário somente se extingue nas hipóteses nele previstas.
Foi na esteira deste entendimento que a ESAF, no concurso para provimento de cargos de Auditor-Fiscal do Tesouro do Município de Natal/RN, considerou incorreta a seguinte assertiva: “A Lei Complementar n. 104/2001, ao permitir a dação em pagamento de bens imóveis, como forma de extinção do crédito tributário, promoveu a derrogação do art. 3.º do CTN, que confere ao tributo uma prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir”.
Inicialmente adotando uma interpretação bastante restritiva do art. 141 do CTN, o Supremo, no julgamento da Medida Cautelar na ADI 1.917, considerou inconstitucional lei do Distrito Federal que permitia o pagamento de débitos das microempresas, das empresas de pequeno porte e das médias empresas, mediante dação em pagamento de materiais destinados a atender a programas de Governo do DF. Um dos fundamentos da decisão foi a reserva de lei complementar para tratar de extinção do crédito tributário (Pleno, ADI 1.917-MC, rel. Min. Marco Aurélio, j. 18.12.1998, DJ 19.09.2003, p. 15).
Posteriormente, no julgamento da ADI 2.405-MC o Tribunal, por maioria de votos, afirmou ser possível a criação de novas hipóteses de extinção do crédito tributário na via da lei ordinária local (Pleno, ADI 2.405-MC, rel. Min. Carlos Britto, j. 06.11.2002, DJ 17.02.2006, p. 54). Os principais fundamentos para o julgado foram os seguintes:
a) o pacto federativo, que permite ao ente estipular a possibilidade de receber algo do seu interesse para quitar um crédito de que é titular; e
b) a diretriz interpretativa segundo a qual “quem pode o mais pode o menos”, uma vez que se o ente pode até perdoar o que lhe é devido, mediante a edição de lei concessiva de remissão (o mais), pode, também, autorizar que a extinção do crédito seja feita de uma forma não prevista no Código Tributário Nacional (o menos).
No julgamento do mérito da ADI 1.917 (Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.04.2007, DJ 24.08.2007, p. 22), o STF reafirmou seu entendimento relativo à inconstitucionalidade da previsão, em lei local, de extinção do crédito tributário mediante dação em pagamento de bens móveis, só que desta feita apenas em virtude da reserva de lei federal para estipular regras gerais de licitação (se um ente recebe em pagamento um bem, está, na prática, adquirindo tal bem sem licitação). Repise-se que a dação em pagamento em bens imóveis somente é possível porque está prevista em lei nacional (o CTN).
Pelo exposto, nas provas de concurso público, deve-se manter o tradicional entendimento de que o crédito tributário não pode ser extinto mediante dação em pagamento de bens móveis tendo em vista a reserva de lei nacional para dispor sobre regras gerais de licitação. Não obstante, em algumas questões já tem sido abordada a evolução do entendimento do STF ao admitir a previsão em lei local de novas hipóteses de extinção do crédito tributário. A título de exemplo, o CESPE, no concurso para provimento de cargos de Juiz Federal do TRF da 1.ª Região, com provas realizadas em 2009, considerou correta a seguinte assertiva “O STF passou a entender que os Estados e o DF podem estabelecer outros meios não previstos expressamente no Código Tributário Nacional de extinção de seus créditos tributários, máxime porque podem conceder remissão, e quem pode o mais pode o menos”.
Perceba-se que a banca adotou expressamente o segundo fundamento apontado acima, defendido pelo tributarista Luciano Amaro e expressamente encampado por alguns Ministros do Supremo nas razões dos seus votos.
Não obstante tal raciocínio, entende-se que a expressão “ou cujo valor nela se possa exprimir” possui também a utilidade de permitir a fixação do valor dos tributos por meio de indexadores (como a UFIR – Unidade Fiscal de Referência, hoje extinta). Nesse caso, a justificativa adotada é bastante razoável, pois com uma mera operação aritmética é possível a conversão imediata entre o indexador utilizado e a moeda corrente adotada no País, o que prova que o indexador é algo “cujo valor pode ser expresso em moeda”.
Há discussões também sobre a possibilidade de “pagamento” de tributo com títulos da dívida pública. Tal hipótese de extinção configura, a rigor, compensação tributária prevista no art. 156, II, do CTN. O raciocínio é simples: se o contribuinte possui um título da dívida pública contra determinado ente federado e deve tributo a este mesmo ente, as obrigações se extinguem até o montante em que se compensarem. Da caracterização da hipótese como compensação decorre a necessidade de lei autorizativa para a utilização dos títulos da dívida pública na extinção do crédito tributário (CTN, art. 170).
O tributo é receita derivada, cobrada pelo Estado, no uso de seu poder de império. O dever de pagá-lo é, portanto, imposto pela lei, sendo irrelevante a vontade das partes (credor e devedor).
É verdade que somente a lei pode obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa (CF, art. 5.º, II); assim, toda obrigação tem a lei por fonte (ao menos mediata).
Ocorre que são comuns os casos em que as obrigações têm por fonte imediata o contrato, cuja celebração depende da manifestação de vontade do contratante. Assim, o locatário é obrigado a pagar aluguel, porque assinou o respectivo instrumento de contrato, manifestando livremente sua vontade.
Em se tratando de obrigação tributária, contudo, a lei é fonte direta e imediata, de forma que seu nascimento independe da vontade e até do conhecimento do sujeito passivo. A regra, sem exceção, é a compulsoriedade (obrigatoriedade) e não a voluntariedade. Assim, o proprietário de imóvel localizado na área urbana do Município deve pagar o respectivo IPTU, não havendo espaço para se falar em manifestação de vontade no nascedouro da obrigação.
É exatamente neste ponto que reside a diferença entre tributo e multa. Apesar de ambos serem receitas derivadas, a multa é, por definição, justamente o que o tributo, também por definição, está proibido de ser: a sanção, a penalidade por um ato ilícito.
Esquematicamente, tem-se:
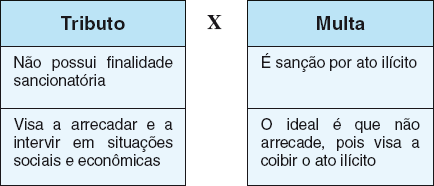
Aqui, uma importantíssima observação. O dever de pagar tributo – conforme será detalhado em momento oportuno – surge com a ocorrência, no mundo concreto, de uma hipótese abstratamente prevista em lei (o fato gerador). Portanto, se alguém obtém disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos, passa a ser devedor do imposto de renda (CTN, art. 43), mesmo se esses rendimentos forem oriundos de um ato ilícito, ou até criminoso, como a corrupção, o tráfico ilícito de entorpecentes etc.
A justificativa para o entendimento é que, nesses casos, não se está punindo o ato com o tributo (a punição ocorrerá na esfera penal e, se for o caso, na administrativa e civil). A cobrança ocorre porque o fato gerador (obtenção de rendimentos) aconteceu e deve ser interpretado abstraindo-se da validade jurídica dos atos praticados (CTN, art. 118, I).
Alguns entendem que o Estado, ao tributar rendimentos oriundos de atividades criminosas, estaria se associando ao crime e obtendo, imoralmente, recursos de uma atividade que ele mesmo proíbe. Entretanto, seria injusto cobrar imposto daquele que trabalha honestamente e conceder uma verdadeira “imunidade” ao criminoso. Nessa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar um caso sobre tráfico ilícito de entorpecentes, entendeu que, antes de ser agressiva à moralidade, a tributação do resultado econômico de tais atividades é decorrência do princípio da isonomia fiscal, de manifesta inspiração ética (Habeas Corpus 77.530-4/RS).
Esta possibilidade é conhecida na doutrina como princípio do pecunia non olet (dinheiro não cheira). A expressão, hoje tão popular entre os tributaristas, surgiu de uma situação, no mínimo, curiosa.
Um dos mais bem-sucedidos imperadores romanos, Vespasiano, instituiu um tributo – semelhante à atual taxa – a ser cobrado pelo uso dos mictórios públicos (latrinas). Seu filho, Tito, não concordou com fato gerador tão “malcheiroso”. Ao tomar conhecimento das reclamações do filho, Vespasiano segurou uma moeda de ouro e lhe perguntou: Olet? (Cheira?). Tito respondeu: Non olet (Não cheira).
Não importava, portanto, se o “fato gerador”, lá na latrina, cheirava mal, o dinheiro de lá proveniente não mantinha o cheiro da origem. A sabedoria popular explicaria o pensamento de Vespasiano de outra forma: “dinheiro é dinheiro”.
Aplicando a lição histórica neste estudo, é possível afirmar que não importa se a situação é “malcheirosa” (irregular, ilegal ou criminosa): se o fato gerador ocorreu, o tributo é devido.
Assim, a título de exemplo, para evitar o que aconteceu a Al Capone (condenado e preso por sonegação fiscal), o criminoso teria de informar os rendimentos do crime na declaração entregue à Receita Federal, sob pena de responder também pela sonegação fiscal.
Por fim, um último ponto que merece destaque é a correlação entre a proibição de tributo de caráter sancionatório e o princípio que proíbe a instituição de tributo com efeito de confisco (detalhado no item 2.8).
O raciocínio é bastante simples. A Constituição Federal, no seu art. 5.º, XLVI, “b”, prevê a possibilidade de que a lei, regulando a individualização da pena, adote, entre outras, a de perda de bens. Trata-se de formal autorização para a existência de confisco no Brasil, mas tão somente como punição.
Ora, considerando que o tributo não pode se constituir em sanção por ato ilícito e que o confisco somente é admitido no Brasil como pena, há de se concluir que o tributo não pode ter caráter confiscatório, justamente para não se transformar numa sanção por ato ilícito.
O entendimento foi expressamente adotado pelo CESPE, quando, no concurso para provimento de cargos de Auditor-Fiscal da Receita Estadual do Estado do Espírito Santo, com provas realizadas em 2009, considerou correta a seguinte assertiva: “O princípio da não utilização de tributo com efeito de confisco dá-se, principalmente, pela falta de correspondência entre a punição de um ato ilícito e a cobrança de um tributo”.
Na mesma linha, a Fundação Carlos Chagas, no concurso para provimento de cargos de Agente Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo, promovido em 2009, considerou correta assertiva que afirmava serem identificáveis no conceito legal de tributo, previsto no art. 3.º do CTN, os princípios da legalidade e da vedação ao efeito de confisco. Ora, obviamente o princípio da legalidade salta aos olhos quando o Código afirma que o tributo é prestação instituída em lei; já o princípio da vedação ao efeito de confisco (não confisco), conforme explicado, além da expressa previsão constitucional, também reside na proibição legal de que o tributo configure sanção por ato ilícito, constante no conceito de tributo.
Essa é uma regra sem exceção: o tributo só pode ser criado por lei (complementar ou ordinária) ou ato normativo de igual força (Medida Provisória). Isso decorre do princípio democrático: como a lei é aprovada pelos representantes do povo, pode-se dizer, ao menos teoricamente, que o povo só paga os tributos que aceitou pagar.
Tal ideia, no direito norte-americano, é manifestada no brocardo “No taxation without representation” (não haverá cobrança de tributos sem representação). A representação exigida pela sentença é exatamente a aprovação da cobrança por meio dos representantes do povo (legalidade).
Uma última observação é importante. Embora não haja exceção à legalidade quanto à instituição de tributos, existem várias exceções ao princípio quanto à alteração de alíquotas, conforme apontado no esquema abaixo:
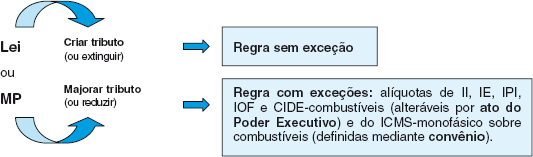
O detalhamento das exceções, com seus respectivos limites, é feito no Capítulo 2, no item 2.5.2, relativo ao princípio da legalidade.
A vinculação da atividade de cobrança do tributo decorre do fato de ele ser instituído por lei e se configurar como uma prestação compulsória. A autoridade tributária não pode analisar se é conveniente, se é oportuno cobrar o tributo. A cobrança é feita de maneira vinculada, sem concessão de qualquer margem de discricionariedade ao administrador. Mesmo que o fiscal, o auditor ou o procurador se sensibilizem com uma situação concreta, devem cobrar o tributo.
É muito importante registrar que, além do sentido acima analisado, as palavras vinculado/vinculada aparecem em Direito Tributário com dois outros significados. Em provas objetivas de concurso público, muitos candidatos têm sido prejudicados por confundir tais acepções.
Não obstante os conceitos serem aprofundados nos momentos oportunos, desde já se propõe a cuidadosa análise do seguinte esquema:
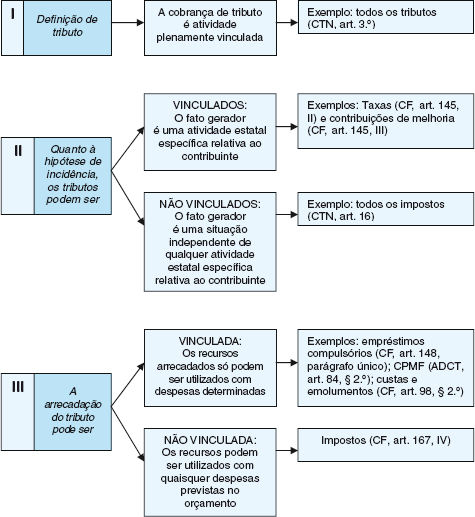
A definição de tributo, acima detalhada, não possui qualquer elemento relativo à destinação legal do produto da arrecadação. Ao contrário, inclusive, é afirmado no art. 4.º do CTN que tal dado é irrelevante para definir a natureza jurídica específica do tributo. Apesar disto, nos julgados em que foi discutida a natureza jurídica das contribuições destinadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o fato de a arrecadação não ser destinada “ao erário, devendo ser carreada às contas vinculadas dos empregados, que poderão sacar seus saldos em caso de despedida sem justa causa”, demonstraria que a exação não tem caráter tributário (REsp 981.934/SP). Posteriormente, o Tribunal sumulou seu entendimento nos seguinte termos:
STJ – Súmula 353 – “As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS”.
Registre-se que o art. 9.º da Lei 4.320/1964 traz uma outra definição de tributo em que, expressamente, se exige que o produto da arrecadação tributária seja destinado ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas pelas pessoas jurídicas de direito público. Numa prova subjetiva de concurso público em que seja necessário fundamentar o posicionamento do STJ, é conveniente citar o dispositivo. Nas provas de direito financeiro, que normalmente são fiéis seguidoras das disposições da Lei 4.320/1964, tal norma também deve ser utilizada. Nos demais casos, aconselha-se ao candidato seguir estritamente a definição constante do art. 3.º do CTN.
A controvérsia sobre a classificação dos tributos em espécies fez com que surgissem quatro principais correntes a respeito do assunto: a primeira, dualista, bipartida ou bipartite, que afirma serem espécies tributárias somente os impostos e as taxas; a segunda, a tripartida, tricotômica ou tripartite, que divide os tributos em impostos, taxas e contribuições de melhoria; a terceira, a pentapartida ou quinquipartida, que a estes acrescenta os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais previstas nos arts. 149 e 149-A da Constituição Federal e a última, a quadripartida, tetrapartida ou tetrapartite, que simplesmente junta todas as contribuições num só grupo, de forma que os tributos seriam impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios.
O Código Tributário Nacional – CTN, no seu art. 5.º, dispõe que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria, claramente adotando a teoria da tripartição das espécies tributárias.
Alguns entendem que a Constituição Federal segue a mesma teoria, ao estabelecer, no seu art. 145, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. O dispositivo, na realidade, não restringe as espécies tributárias às três enumeradas, mas apenas agrupa aquelas cuja competência para criação é atribuída simultaneamente aos três entes políticos. Trata-se, portanto, de norma atributiva de competência e não de norma que objetive listar exaustivamente as espécies de tributo existentes no ordenamento jurídico brasileiro.
Neste ponto, é importante perceber que, ainda na Seção que trata dos “Princípios Gerais” do “Sistema Tributário Nacional” (arts. 145 a 149-A), a Constituição Federal estatui outras regras atributivas de competência. Os empréstimos compulsórios estão previstos no art. 148, como de competência exclusiva da União, o que justifica o fato de não haverem sido citados no art. 145, que enumera apenas os tributos cuja instituição é possível a todos os entes políticos. Raciocínio semelhante é aplicável aos arts. 149, que prevê como de competência exclusiva da União as contribuições especiais (com exceção da que financia a previdência dos servidores públicos, que obviamente pode ser instituída por todos os entes federados), e 149-A, que atribui exclusivamente ao DF e aos municípios a competência para criação da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública.
Ao se deparar com o tema, o Supremo Tribunal Federal tem adotado a teoria da pentapartição. Apesar disso, é extremamente importante deixar claro que mesmo os adeptos da teoria da tripartição dos tributos entendem que as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios são tributos, possuindo natureza jurídica de taxas ou impostos, dependendo de como a lei definiu o seu fato gerador, conforme analisado a seguir.
Graficamente, as duas teorias de maior relevância prática no direito brasileiro podem ser visualizadas da seguinte forma:
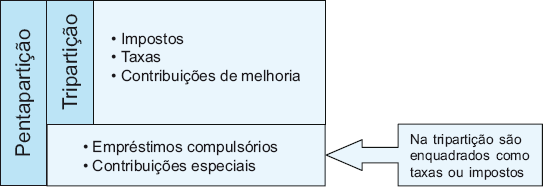
Nos termos do art. 4.º do CTN, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei, bem como a destinação legal do produto de sua arrecadação.
A análise do fato gerador do tributo é feita sob a ótica da classificação dos tributos como vinculados ou não vinculados (aqui se adota a expressão “vinculado” num sentido completamente diferente daquele utilizado na definição de tributo, pois a atividade de cobrança de todo e qualquer tributo é sempre vinculada).
Para classificar um tributo qualquer quanto ao fato gerador, deve-se perguntar se o Estado tem de realizar, para validar a cobrança, alguma atividade específica relativa ao sujeito passivo (devedor). Se a resposta for negativa, trata-se de um tributo não vinculado; se for positiva, o tributo é vinculado (pois sua cobrança se vincula a uma atividade estatal especificamente voltada ao contribuinte).
Assim, todos os impostos são não vinculados. Se alguém obtém rendimentos, passa a dever imposto de renda; se presta serviços, deve ISS; se é proprietário de veículo automotor, deve IPVA. Repare-se que, em nenhum desses casos, o Estado tem de realizar qualquer atividade referida ao contribuinte. Daí a assertiva, correta e muito comum em doutrina, de que o imposto é um tributo que não goza de referibilidade. Aliás, justamente pelo fato de ser um tributo não vinculado a qualquer atividade, deixa de ser argumento juridicamente relevante (apesar de politicamente sê-lo) afirmar que “não se deve pagar IPTU, caso as avenidas da cidade estejam esburacadas”.
Note-se que o CTN, em seu art. 16, define imposto como sendo o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Ora, pelo exposto, essa seria uma definição precisa de tributo não vinculado. Portanto, o imposto é, por excelência, o tributo não vinculado.
Já as taxas e contribuições de melhoria são, claramente, tributos vinculados, como se passa a demonstrar.
O art. 145, II, da CF deixa claro que, para a cobrança de uma taxa, o Estado precisa exercer o poder de polícia ou disponibilizar ao contribuinte um serviço público específico e divisível.
Da mesma forma, a cobrança da contribuição de melhoria depende de uma anterior atividade estatal. É necessário que o ente federado (União, Estado, Distrito Federal ou Município) realize uma obra pública da qual decorra valorização imobiliária.
Registre-se que a escola da bipartição das espécies tributárias, baseada na classificação dos tributos como vinculados ou não vinculados, entende que somente existem duas espécies de tributos: os que possuem natureza de impostos (não vinculados) e os que possuem natureza de taxas (vinculados). Para os adeptos da teoria, tanto os tributos que o direito brasileiro denomina taxas, quanto aqueles oficialmente tratados como contribuições de melhoria, teriam natureza de taxas, porque igualmente vinculados a uma atividade estatal.
A classificação é esposada por doutrina minoritária e, apesar de não ser seguida formalmente pelo direito brasileiro, foi objeto de questão da prova do concurso para Procurador Federal, aplicada pelo CESPE em 2006. A banca, expressamente invocando a teoria dualista, considerou correta a seguinte assertiva: “No Sistema Tributário Nacional, para efeitos didáticos, os tributos são divididos em duas classes: tributos que têm natureza de impostos, ou seja, não vinculados a uma contraprestação estatal e tributos que têm natureza de taxa, composta pelos tributos vinculados a uma contraprestação estatal.”
De qualquer forma, se adotada a teoria tripartida, como o faz o Código Tributário Nacional, o problema da identificação da natureza jurídica específica do tributo estaria resolvido. Se o tributo for não vinculado, é um imposto; se for vinculado, ou é taxa ou contribuição de melhoria. Como o fato gerador desta contribuição é inconfundível (valorização imobiliária decorrente de obra pública), a classificação estaria imune a equívocos.
Esquematicamente, a infalível técnica de identificação da natureza jurídica dos tributos poderia ser visualizada da seguinte forma:
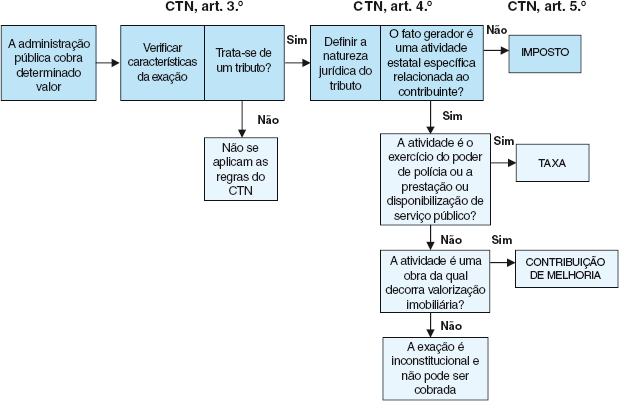
Todavia, apesar de tecnicamente superior, a doutrina adotada pela escola tricotômica traz alguns “problemas” práticos, inviabilizando, por vezes, algumas manobras que a malsinada “sede arrecadatória do Estado” parece exigir. Dois exemplos ratificam a afirmação:
a) após a Emenda Constitucional 33, a Constituição passou a prever que, com exceção do ICMS, do II e do IE, nenhum outro imposto – antes se falava nenhum outro tributo – poderá incidir sobre algumas operações, dentre elas as relativas a combustíveis no País (CF, art. 155, § 3.º). O principal objetivo da alteração foi possibilitar a incidência da denominada CIDE-combustíveis (CF, art. 177, § 4.º). Na linha da escola tricotômica, a manobra não seria possível, pois tal contribuição, tendo por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, seria um imposto; e a cobrança, inconstitucional.
b) é entendimento pacífico e sumulado do STF que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa (Enunciado da Súmula 670). A fundamentação para o posicionamento é que o serviço, sendo de caráter geral (uti universi), ou seja, prestado a pessoas indeterminadas (ou, ao menos, indetermináveis), não atende aos requisitos de especificidade e divisibilidade, devendo ser remunerado com a arrecadação dos impostos. Visando a driblar o entendimento, foi promulgada a EC 39/2002, que conferiu competência aos Municípios e ao Distrito Federal para instituir uma contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Novamente, na linha da escola tricotômica, a cobrança seria impossível, uma vez que, em virtude de o fato gerador da exação ser uma atividade estatal (serviço de iluminação pública), o tributo é vinculado, não podendo ser considerado imposto. Também não seria possível considerá-lo uma contribuição de melhoria, que tem fato gerador peculiar. Restaria dizer que a nova exação é a velha “taxa de iluminação pública”, travestida numa roupagem de “contribuição”. Também aqui pairaria a suspeita de inconstitucionalidade, pois, apesar de a previsão decorrer de Emenda à Constituição, seria plausível a tese de que violaria limitação constitucional ao poder de tributar e garantia individual do contribuinte consistente na impossibilidade de cobrança de tributo destinado especificamente a custear serviço público não específico ou indivisível.
Assim, vê-se que a adoção da pentapartição das espécies tributárias, antes de ser tecnicamente sofrível, é bastante conveniente aos “interesses” arrecadatórios estatais.
Nesse ponto, surge um problema difícil de contornar. Ao comparar as contribuições para financiamento da seguridade social até hoje criadas com os impostos, percebe-se que os fatos geradores não servem para distinguir as duas figuras tributárias (por exemplo, o fato gerador do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ é praticamente idêntico ao da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL), as diferenças perceptíveis são, apenas, o nome e a destinação do produto da arrecadação. Contudo, ambos são critérios considerados irrelevantes pelo citado art. 4.º do CTN.
A única maneira de diferenciá-los e de “salvar” a teoria da pentapartição é considerar que a normatividade do art. 4.º foi parcialmente não recepcionada pela Constituição Federal de 1988, não sendo mais aplicável às contribuições especiais e aos empréstimos compulsórios (estes só se distinguem das demais espécies pelo fato de serem – ou, ao menos, deverem ser – restituíveis pelo destino da arrecadação).
Um último aspecto é digno de nota. Em virtude de a Constituição Federal, no art. 145, § 2.º, proibir que as taxas tenham bases de cálculo próprias de imposto, pode-se concluir que, além do fato gerador, torna-se necessário, também, avaliar a base de cálculo para decifrar sua natureza jurídica. Dessa forma, um cotejo entre base de cálculo e fato gerador é o melhor método para o deslinde da questão.
Em concurso público, a questão dos aspectos a serem considerados para identificar a natureza jurídica específica do tributo tem sido cobrada de três formas:
1. De maneira literal. Exemplo:
(ESAF/PROCURADOR FORTALEZA/2002) “Para conhecimento da natureza específica das diversas espécies tributárias previstas no Sistema Tributário Nacional, é essencial o exame do fato gerador da respectiva obrigação, tendo em vista que, à luz do Código Tributário Nacional, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto da sua arrecadação”. (CERTO)
2. Fazendo uma análise combinada do art. 145, § 2.º, da CF com o art. 4.º do CTN. Exemplo:
(PROCURADOR DO ESTADO RN/ 2002) “A natureza jurídica específica de um tributo é dada pelo cotejo entre o seu ‘fato gerador’ e a sua base de cálculo”. (CERTO)
3. Em questões de nível mais elevado, exigindo que o candidato conheça que a adoção da classificação pentapartida dos tributos, como faz o direito brasileiro, implica, necessariamente, a inaplicabilidade às contribuições especiais e aos empréstimos compulsórios do art. 4.º do CTN. Exemplo:
(CESPE/JUIZ FEDERAL/TRF5/2006) Consoante o CTN, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes, para qualificá-la, tanto a denominação e demais características formais adotadas pela lei quanto a destinação legal do produto da sua arrecadação. Todavia, com o advento da Constituição de 1988, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais assumiram o status de espécies tributárias. Algumas dessas exações, todavia, têm fato gerador idêntico ao dos impostos, o que torna inaplicável a citada regra do CTN. (CERTO)
Como dito anteriormente, os tributos podem ser vinculados ou não vinculados, dependendo da necessidade ou não de o Estado realizar alguma atividade específica relativa ao contribuinte para legitimar a cobrança. Quando o tributo é vinculado, o ente tributante competente para instituí-lo é justamente aquele que realiza a respectiva atividade estatal. Assim, quem realiza a obra da qual decorre valorização imobiliária cobra a contribuição de melhoria; quem presta o serviço público específico e divisível ou exerce o poder de polícia cobra a taxa.
Os impostos são, por definição, tributos não vinculados que incidem sobre manifestações de riqueza do sujeito passivo (devedor). Justamente por isso, o imposto se sustenta sobre a ideia da solidariedade social. As pessoas que manifestam riqueza ficam obrigadas a contribuir com o Estado, fornecendo-lhe os recursos de que este precisa para buscar a consecução do bem comum. Assim, aqueles que obtêm rendimentos, vendem mercadorias, são proprietários de imóveis em área urbana, devem contribuir respectivamente com a União (IR), com os Estados (ICMS) e com os Municípios (IPTU). Estes entes devem usar tais recursos em benefício de toda a coletividade, de forma que os manifestantes de riqueza compulsoriamente se solidarizem com a sociedade. Em resumo, as taxas e contribuições de melhoria têm caráter retributivo (contraprestacional) e os impostos, caráter contributivo.
É importante perceber que os impostos não incorporam, no seu conceito, a destinação de sua arrecadação a esta ou àquela atividade estatal. Aliás, como regra, a vinculação de sua receita a órgão, fundo ou despesa é proibida diretamente pela Constituição Federal (art. 167, IV). Portanto, além de serem tributos não vinculados, os impostos são tributos de arrecadação não vinculada. Sua receita presta-se ao financiamento das atividades gerais do Estado, remunerando os serviços universais (uti universi) que, por não gozarem de referibilidade (especificidade e divisibilidade), não podem ser custeados por intermédio de taxas.
A competência para instituir impostos é atribuída pela Constituição Federal de maneira enumerada e privativa a cada ente federado. Assim, a União pode instituir os sete impostos previstos no art. 153 (II, IE, IR, IPI, IOF, ITR e IGF); os Estados (e o DF), os três previstos no art. 155 (ITCMD, ICMS e IPVA); os Municípios (e o DF), os três previstos no art. 156 (IPTU, ITBI e ISS). Em princípio, essas listas são exaustivas (numerus clausus); entretanto, a União pode instituir, mediante lei complementar, novos impostos, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição Federal (art. 154, I). É a chamada competência tributária residual, que também existe para a criação de novas fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social (art. 195, § 4.º). Em ambos os casos, a instituição depende de lei complementar, o que impossibilita a utilização de medidas provisórias (CF, art. 62, § 1.º, III).
Além da competência residual, a União detém a competência para criar, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária (CF, art. 154, II).
No uso dessa competência, denominada extraordinária, a União poderá delinear como fato gerador dos Impostos Extraordinários de Guerra – IEG – praticamente qualquer base econômica não imune, inclusive as atribuídas constitucionalmente aos Estados, Municípios e Distrito Federal (arts. 155 e 156). Assim, seria possível, em caso de guerra externa ou sua iminência, a instituição de um ICMS extraordinário federal. Não seria um caso de invasão de competência estadual, pois a União estaria usando competência própria, expressamente atribuída pela Constituição Federal. Tem-se, aqui, o único caso de bitributação (cobrança do mesmo tributo, sobre o mesmo fato gerador, por dois entes tributantes diversos) constitucionalmente autorizada. Dessa forma, é possível afirmar que, no tocante a impostos, somente a União possui competência tributária privativa absoluta, pois, no caso de guerra externa ou sua iminência, está autorizada a tributar as mesmas bases econômicas atribuídas aos demais entes políticos.
Portanto, a competência privativa para a criação de impostos pode ser visualizada da seguinte forma:
|
ORDINÁRIA |
EXTRAORDINÁRIA |
RESIDUAL |
||
|
IPTU, ITBI, ISS |
ITCMD, ICMS, IPVA |
II, IE, IR, IPI, ITR, IOF, IGF |
Impostos extraordinários de guerra |
Novos impostos Requisitos: - lei complementar; - novos “Fatos - não cumulatividade. |
|
Municípios (CF, art. 156) |
Estados (CF, art. 155) |
União (CF, arts. 153 e 154, I e II) |
||
|
DF – competência cumulativa (CF, art. 147) |
||||
A Constituição Federal não cria tributos, apenas atribui competência para que os entes políticos o façam. Da mesma forma que os penalistas dizem que não há crime sem lei anterior que o defina, pode-se afirmar que não há tributo sem lei anterior que o defina. Assim, apesar de a Constituição Federal atribuir à União a competência para a criação do imposto sobre grandes fortunas (art. 153, VII), a inércia legislativa faz com que esse tributo não exista no atual ordenamento jurídico.
Enfim, para que sejam criados tributos, o ente tributante deve editar lei (ou ato normativo de igual hierarquia, diga-se, Medida Provisória) instituindo-os abstratamente, ou seja, definindo seus fatos geradores, bases de cálculo, alíquotas e contribuintes.
No tocante a impostos, todavia, a Constituição Federal exige que lei complementar de caráter nacional defina os respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes (art. 146, III, a). Para esta espécie tributária, a amplitude da autonomia legislativa desfrutada pelos entes tributantes é menor, visto que condicionada por legislação nacional. Tudo isso visa a assegurar a uniformidade da incidência tributária em todo o território nacional, de forma a dar concretude ao princípio da isonomia.
Apesar disso, é importante ressaltar que o STF entende aplicável ao exercício da competência tributária a regra de que, quando a União deixa de editar normas gerais, os Estados podem exercer a competência legislativa plena, conforme dispõe o art. 24, § 3.º, da CF (RE 191.703-AgR/SP). O caso submetido ao Tribunal referia-se ao IPVA, que, por ter sido previsto apenas na Constituição Federal de 1967 (Emenda Constitucional 27/1985), sequer foi mencionado no CTN, editado um ano antes.
De acordo com o art. 145, § 1.º, da CF, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
Tecnicamente teria sido melhor o legislador constituinte ter se referido à capacidade contributiva e não à capacidade econômica do contribuinte. Isto porque quem manifesta riqueza demonstra capacidade econômica, mas às vezes tal riqueza não pode ser atingida pelo poder de tributar do Estado. São casos em que a capacidade econômica não coincide com a capacidade contributiva. A título de exemplo, o milionário turista americano que passa férias no Brasil possui capacidade econômica, mas não pode ter seus rendimentos tributados no país, não possuindo, por conseguinte, capacidade contributiva.
A redação adotada, contudo, apesar de não ser a mais precisa, não se revela errada, uma vez que, ao qualificar a capacidade econômica com a expressão “do contribuinte”, o legislador conseguiu, por via transversa, prever a tributação com base na capacidade contributiva.
O legislador constituinte, na redação do dispositivo, adotou a classificação dos impostos como reais ou pessoais. Assim, são reais os impostos que, em sua incidência, não levam em consideração aspectos pessoais, aspectos subjetivos. Ou seja, incidem objetivamente sobre determinada base econômica, incidem sobre coisas. A título de exemplo, têm-se o IPTU, o IPVA, o ITR, o IPI, o ICMS. Dessa forma, se um sujeito passa um ano inteiro juntando dinheiro para comprar o sonhado televisor, vai pagar, embutido no preço, o mesmo valor de ICMS que o milionário adquirente de um aparelho idêntico para o quarto da empregada. Ao contrário, são pessoais os impostos que incidem de forma subjetiva, considerando os aspectos pessoais do contribuinte. Nessa linha de raciocínio, a incidência do imposto de renda é personalizada, levando em conta a quantidade de dependentes, os gastos com saúde, com educação, com previdência social etc.
O legislador ordinário, ao elaborar as leis que instituam impostos, deve obrigatoriamente verificar a possibilidade de conferir caráter pessoal ao tributo. Havendo viabilidade, a pessoalidade é obrigatória. A finalidade clara do dispositivo é dar concretude ao princípio da isonomia, tratando diferentemente quem é diferente, na proporção das diferenças (desigualdades) existentes. É uma maneira de buscar a justiça social (redistribuir renda) utilizando-se da justiça fiscal (paga mais quem pode pagar mais).
A Constituição não impõe a aplicação do princípio a todos os tributos, mas apenas aos impostos, e somente quando possível.
Justamente por isso, o CESPE, no concurso para Procurador Federal, realizado em 2002, considerou correta a seguinte assertiva: “Embora o princípio da isonomia aplique-se também à esfera tributária e se aproxime em muito do princípio da capacidade contributiva, nem todos os tributos são delineados na lei em função da capacidade econômica dos contribuintes”.
Na mesma linha de raciocínio, a ESAF, no concurso para Procurador do Município de Fortaleza, também realizado em 2002, considerou incorreta, por tentar submeter à regra todas as espécies tributárias, a assertiva: “Em consonância com os princípios gerais ditados pela Constituição Federal, referentes ao Sistema Tributário Nacional sempre que possível, os tributos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte” (grifou-se).
Já a Fundação Carlos Chagas, seguindo a literalidade, tem sido mais incisiva e, no concurso para Advogado da DESENBAHIA, no mesmo ano de 2002, considerou correta a afirmação: “É certo que o princípio da capacidade contributiva encontra-se intrinsecamente ligado ao da igualdade tributária e aplica-se apenas aos impostos, e não às taxas, empréstimos compulsórios e contribuição de melhoria”.
Aqui, um ponto deve ser destacado. Conforme será detalhado adiante, o Supremo Tribunal Federal entende que, apesar de previsto como de observância obrigatória apenas na criação dos impostos (sempre que possível), nada impede que o princípio da capacidade contributiva seja levado em consideração na criação de taxas.
Segundo a Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição (CF, art. 145, II – na mesma linha de raciocínio, conferir o art. 77 do CTN).
O ente competente para instituir e cobrar a taxa é aquele que presta o respectivo serviço ou que exerce o respectivo poder de polícia. Como os Estados têm competência material residual, podendo prestar os serviços públicos não atribuídos expressamente à União nem aos Municípios (CF, art. 25, § 1.º), a consequência é que, indiretamente, a Constituição Federal atribuiu a competência tributária residual para instituição de taxas aos Estados. Esse entendimento, apesar de controverso, já foi adotado pela ESAF no concurso para Fiscal de Tributos Estaduais do Pará, realizado em 2002, em que foi considerada correta (após se completarem as lacunas) a seguinte assertiva: “A Constituição Federal atribui a denominada competência residual ou remanescente, quanto aos impostos à União e, no que se refere às taxas e às contribuições de melhoria aos Estados-membros”.
Os contornos da definição constitucional deixam claro que as taxas são tributos retributivos ou contraprestacionais, uma vez que não podem ser cobradas sem que o Estado exerça o poder de polícia ou preste ao contribuinte, ou coloque à sua disposição, um serviço público específico e divisível.
São dois, portanto, os “fatos do Estado” que podem ensejar a cobrança de taxas: a) o exercício regular do poder de polícia, que legitima a cobrança da taxa de polícia; e b) a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, que possibilita a cobrança de taxa de serviço.
As taxas de polícia têm por fato gerador o exercício regular do poder de polícia (atividade administrativa), cuja fundamentação é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, que permeia todo o direito público. Assim, o bem comum, o interesse público, o bem-estar geral podem justificar a restrição ou o condicionamento do exercício de direitos individuais.
Nesse sentido, o CTN, em seu art. 78, conceitua poder de polícia como a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Para que seja possível a cobrança de taxas, o exercício do poder de polícia precisa ser regular, ou seja, desempenhado em consonância com a lei, com obediência ao princípio do devido processo legal e sem abuso ou desvio de poder (CTN, art. 78, parágrafo único).
A lista de interesses públicos fundamentais cuja proteção pode dar ensejo ao exercício do poder de polícia (acima transcrita) é meramente exemplificativa (numerus apertus), pois, com base na mesma fundamentação (supremacia do interesse público sobre o privado), outros interesses também podem ser protegidos.
Observe-se que a redação do art. 145, II, da Constituição deixa claro que a possibilidade de cobrança de taxa por atividade estatal potencial ou efetiva refere-se apenas às taxas de serviço, de forma que só se pode cobrar taxa de polícia pelo efetivo exercício desse poder. Dessa forma, a título de exemplo, a taxa municipal de licença de localização e funcionamento pode ser cobrada quando da inscrição inicial, se o Município dispõe de órgão administrativo que fiscaliza a existência de condições de segurança, higiene etc. (STF, RE 222.251; e STJ, REsp 152.476). Entretanto, é ilegítima a cobrança de tal taxa anualmente, a título de mera renovação, sem que haja novo procedimento de fiscalização. O entendimento é o mesmo tanto no STF (RREE 195.788, 113.835 e 108.222) quanto no STJ (REsp 236.517 e 76.196). Não obstante, o STF tem, em decisões mais recentes, presumido o exercício do poder de polícia quando existente o órgão fiscalizador, mesmo que este não comprove haver realizado fiscalizações individualizadas no estabelecimento de cada contribuinte (RE 416.601). Conforme comentado por Sacha Calmon, “andou bem a Suprema Corte brasileira em não aferrar-se ao método da vistoria porta a porta, abrindo as portas do Direito às inovações tecnológicas que caracterizam a nossa era”.
Também já passaram pelo crivo do STF, sendo consideradas legítimas, a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários (Súmula 665), a taxa de fiscalização e controle dos serviços públicos delegados (ADI 1.948-RS) e a taxa de fiscalização de anúncios (RE 216.207), todas fundamentadas no exercício do poder de polícia.
A criação das taxas de serviço só é possível mediante a disponibilização de serviços públicos que se caracterizem pela divisibilidade e especificidade. Segundo o Código Tributário Nacional, os serviços são específicos quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas; são divisíveis quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários (art. 79, II e III).
Na prática, o serviço público remunerado por taxa é considerado específico quando o contribuinte sabe por qual serviço está pagando, o que não acontece, por exemplo, com a taxa de serviços diversos, cobrada por alguns municípios.
A tese tem sido bastante cobrada pelo CESPE. A título de exemplo, no concurso para provimento de cargos de Procurador do Estado do Ceará, promovido em 2008, a banca considerou correta a seguinte assertiva: “Os serviços públicos justificadores da cobrança de taxas são considerados específicos quando o contribuinte, ao pagar a taxa relativa a seu imóvel, sabe por qual serviço está recolhendo o tributo”.
Já a divisibilidade está presente quando é possível ao Estado identificar os usuários do serviço a ser financiado com a taxa. Assim, o serviço de limpeza dos logradouros públicos não é divisível, pois seus usuários não são identificados nem identificáveis, uma vez que a limpeza da rua beneficia a coletividade genericamente considerada.
Foi com base nesse raciocínio que o STF, analisando o que, de maneira exageradamente resumida, tem se chamado de “taxa de lixo”, editou a Súmula Vinculante 19, cujo teor se encontra abaixo transcrito:
STF – Súmula Vinculante 19 – “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.
Ora, se o lixo é proveniente de imóveis, podem-se identificar como usuários do serviço os proprietários de tais bens. Por este motivo, a Corte tomou o cuidado de inserir a palavra exclusivamente no enunciado sumular, pois existe manifesta inconstitucionalidade quando a taxa também é destinada à limpeza dos logradouros públicos ou a qualquer outro serviço de natureza indivisível.
Da mesma forma, não podem ser financiados por taxa, tendo em vista a indivisibilidade, os serviços de segurança pública, diplomacia, defesa externa do país etc. (para uma apreciação detalhada da tese encampada pelo STF, consultar o AgRg-AI 231.132, 2.ª T., rel. Min. Carlos Velloso, j. 25.05.1999, DJ 06.08.1999, p. 16).
Pelo exposto, um serviço reúne as características da especificidade e da divisibilidade, podendo ser remunerado por taxa, quando para ele é possível, tanto ao Estado quanto ao contribuinte, a utilização da frase: “Eu te vejo e tu me vês”. O contribuinte “vê” o Estado prestando o serviço, pois sabe exatamente por qual serviço está pagando (especificidade atendida) e o Estado “vê” o contribuinte, uma vez que consegue precisamente identificar os usuários (divisibilidade presente).
Neste ponto, a lógica que preside o sistema tributário é incontornável. Se o Estado consegue identificar os usuários de determinado serviço e estes sabem qual serviço lhe está sendo prestado, o justo é deles cobrar pela atividade estatal, e não transferir o encargo para toda a sociedade. Quando o usuário não identifica que serviços lhe estão sendo prestados ou, o que é mais comum, o Estado não tem como identificar os usuários de determinado serviço, não é possível a cobrança por tal serviço de maneira individualizada, sendo mais justo que toda a coletividade arque com o respectivo financiamento, o que é cumprido mediante a utilização da receita de impostos (recolhidos por todos em virtude de determinadas manifestações de riqueza) para remunerar o serviço.
É na esteira deste entendimento que o Supremo Tribunal Federal, adotando a classificação dos serviços públicos como gerais ou específicos, tem pacificamente entendido que os primeiros devem ser financiados com a arrecadação dos impostos, e os últimos por meio das taxas. O raciocínio é bastante lógico.
Nos serviços públicos gerais, também chamados universais (prestados uti universi), o benefício abrange indistintamente toda a população, sem destinatários identificáveis. Tome-se, a título de exemplo, o serviço de iluminação pública. Não há como identificar seus beneficiários (a não ser na genérica expressão “coletividade”). Qualquer eleição de sujeito passivo pareceria arbitrária. Todos os que viajam ao Recife, sejam oriundos de São Paulo, do Paquistão ou de qualquer outro lugar, utilizam-se do serviço de iluminação pública recifense, sendo impossível a adoção de qualquer critério razoável de mensuração do grau de utilização individual do serviço.
Nessa linha de raciocínio, o STF sumulou seu entendimento nos seguintes termos:
STF – Súmula 670 – “O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa”.
Destaque-se que, após a Emenda Constitucional 39/2002, passou a ser possível aos Municípios e ao Distrito Federal instituir contribuição de iluminação pública (CF, art. 149-A), o que não muda o posicionamento aqui esposado. A instituição de taxa de iluminação pública continua sendo ilegítima.
Já nos serviços públicos específicos, também chamados singulares (prestados uti singuli), os usuários são identificados ou, ao menos, identificáveis. Sua utilização é individual e mensurável.
A cobrança de taxa de serviço, conforme já visto, pode ser feita em face da disponibilização ao contribuinte de um serviço público específico e divisível. Quando esse serviço é definido em lei como de utilização compulsória e é posto à disposição do contribuinte mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento, a taxa pode ser cobrada mesmo sem a utilização efetiva do serviço pelo sujeito passivo. É o que a lei denomina de utilização potencial (CTN, art. 79, I, b).
Cabe ao legislador, ao instituir a taxa, verificar se o serviço transpõe a fronteira dos interesses meramente individuais, de forma que se fosse dado ao particular decidir por não utilizá-lo, o prejuízo pudesse reverter contra a própria coletividade. Em tais casos, o serviço deve ser definido em lei como de utilização compulsória e o contribuinte deve recolher a taxa mesmo que não use efetivamente o serviço; nos demais casos, o particular somente se coloca na condição de contribuinte se usar o serviço de maneira efetiva. A título de exemplo, o serviço de coleta domiciliar de lixo é definido em lei como de utilização compulsória, pois se fosse possível ao particular decidir por não utilizar o serviço, deixando seu lixo “às moscas”, a falta de higiene e de preocupação com a saúde pública, características de algumas pessoas, poderia prejudicar toda a coletividade. Já o serviço de emissão de passaportes não é definido em lei serviço de utilização compulsória, pois os particulares que não desejam viajar para o exterior e, por conseguinte, não utilizam o serviço, não trazem qualquer prejuízo para a coletividade.
Percebe-se, portanto, que a famosa frase segundo a qual “as taxas de serviço podem ser cobradas mesmo que o contribuinte não utilize efetivamente do serviço disponibilizado” somente pode ser aplicada aos serviços definidos em lei como de utilização compulsória, permitindo a cobrança pela chamada “utilização potencial”. Quanto aos demais serviços, a cobrança somente é possível diante da utilização efetiva.
Há de se realçar que pode ser apenas potencial a utilização do serviço, jamais sua disponibilização. Por óbvio, não é possível a cobrança de taxa pela coleta domiciliar de lixo em locais onde tal serviço não é prestado. Entretanto, imagine-se uma pessoa que possua um apartamento que utiliza apenas para dormir, não produzindo lixo algum. Nessa situação, apesar de não utilizar o serviço de coleta domiciliar de lixo, essa pessoa está sujeita à respectiva taxa se o serviço lhe foi disponibilizado.
A Constituição Federal proíbe que as taxas tenham base de cálculo própria de impostos (art. 145, § 2.º). Já o Código Tributário Nacional dispõe que a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondem a imposto (art. 77, parágrafo único).
Vê-se que, relativamente a bases de cálculo, a Constituição Federal estabelece uma vedação mais ampla e tecnicamente superior à estatuída pelo CTN, uma vez que leva em consideração a existência de bases de cálculo próprias de taxas e bases de cálculos próprias de impostos.
Assim, para cobrar um determinado imposto, o Estado não precisa realizar qualquer atividade específica relativa ao contribuinte. Portanto, a base de cálculo deste imposto será uma grandeza econômica que não possui qualquer correlação de valor com o que o Estado gasta para a consecução de seus fins próprios. A título de exemplos, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel; a do ITR, o valor da terra nua, grandezas que correspondem a manifestações de riqueza dos respectivos contribuintes, alheias ao custo de qualquer atividade estatal.
Já no tocante às taxas, apesar de não ser possível, na maioria dos casos práticos, apurar com exatidão o custo do serviço público prestado a cada contribuinte, de forma a cobrar o mesmo valor a título de taxa, é extremamente necessário que exista uma correlação razoável entre esses valores. Numa situação ideal, o Estado conseguiria ratear o custo total despendido com a prestação do serviço entre os contribuintes beneficiários. Entretanto, para efeitos práticos, não é necessária uma precisão matemática. O que não pode ocorrer é uma total desvinculação entre o custo do serviço prestado e o valor cobrado pelo Estado, pois nunca é demais ressaltar que a taxa é um tributo vinculado a uma atividade estatal anterior e serve de contraprestação a esta, de forma que, se o Estado cobrar um valor acima do que gasta para a consecução da atividade, haverá o enriquecimento sem causa do Estado, o que, por princípio, é algo que deve ser evitado.
Enfim, se o tributo é vinculado, sua base de cálculo está ligada ao valor da atividade anteriormente exercida pelo Estado, sendo idealmente a mensuração econômica dessa atividade; se é não vinculado, a base de cálculo é uma grandeza econômica desvinculada de qualquer atividade estatal. Foi justamente com base nessa linha de raciocínio que o STF sumulou o seguinte entendimento:
STF – Súmula 595 – “É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica a do imposto territorial rural”.
É importante notar que, apesar de não ter ficado claro no Enunciado transcrito, a cobrança da taxa de conservação de estradas não seria possível também por um outro motivo, cujos fundamentos já foram citados: a falta de especificidade e divisibilidade. Sobre esse aspecto, esclarecedor é o seguinte excerto, da lavra do Ministro Ilmar Galvão:
“... Dessa espécie, sem sombra de dúvida, é a taxa de conservação de estradas. A manutenção de tais bens públicos não representa um serviço específico prestado uti singuli, nem tampouco serviço divisível, já que insuscetível de ser mensurado em relação a cada integrante do universo indefinido de usuários do referido bem, para efeito de remuneração proporcional” (STF, 1.ª T., RE 185.050-7/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, rel. p/ acórdão Min. Octavio Gallotti, j. 28.06.1996, DJ 07.03.1997, p. 5.409) (grifo do original).
Voltando à questão das bases de cálculo, na mesma linha dos posicionamentos acima expendidos, o STF entende que as custas judiciais, por serem tributos da espécie taxa, cobrados para remunerar a prestação do serviço público específico e divisível da jurisdição (conceito amplo de serviço público), podem ser cobradas tendo por base de cálculo o valor da causa ou da condenação (custas ad valorem). Entretanto, se a alíquota for excessiva ou se inexistir previsão de um teto (valor máximo absoluto), elas se tornam ilegítimas, por não guardarem qualquer correlação com o valor gasto pelo Estado para prestar o serviço, e por configurarem uma maneira indireta de a lei excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, ferindo, portanto o princípio do livre acesso à jurisdição.
Tal entendimento, já cediço, é hoje objeto da Súmula 667 do Supremo Tribunal Federal, conforme abaixo transcrito:
STF – Súmula 667 – “Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa”.
Ainda no tocante às custas, é interessante relembrar que nem sempre elas foram cobradas sobre o valor da causa ou da condenação. No direito brasileiro, houve uma época em que elas eram estipuladas com base no número de carimbos apostos no processo. Apesar de soar antiquada, a sistemática era bem mais condizente com o espírito do sistema tributário nacional, visto que uma maior quantidade de carimbos significava uma maior quantidade de despachos e decisões proferidas durante o trâmite processual, de forma a gerar uma razoável proporcionalidade entre a “quantidade do serviço prestado” e o valor da taxa cobrada.
O STF tem se mantido nessa linha de raciocínio, apesar de, por vezes, utilizar-se de verdadeiros “malabarismos interpretativos” para vislumbrar, em casos um tanto obscuros, a existência da necessária correlação entre a base de cálculo da taxa e o custo da atividade estatal que constitui sua hipótese de incidência.
Um excelente exemplo disso foi o julgamento em que o Tribunal foi instado a se pronunciar sobre a taxa pela coleta domiciliar de lixo instituída pelo Município de São Carlos – SP. O ente tributante utilizou-se de uma maneira bastante curiosa de repartir os custos da prestação do referido serviço entre seus beneficiários. Foi feito um rateio proporcional à área construída de cada imóvel beneficiado.
Houve contestação da cobrança sob a alegação de que não existe qualquer correlação entre a área construída de um imóvel e os valores despendidos pelo Estado para nele coletar lixo, ou com o grau de utilização do serviço por parte dos respectivos proprietários. Entretanto, o STF, ao analisar o tema (RE 232.393-SP), entendeu que “o fato de a alíquota da referida taxa variar em função da metragem da área construída do imóvel – que constitui apenas um dos elementos que integram a base de cálculo do IPTU – não implica identidade com a base de cálculo do IPTU, afastando-se a alegada ofensa ao art. 145, § 2.º, da CF”. Na fundamentação do acórdão, o Tribunal acatou a presunção de que os imóveis maiores produzirão mais lixo que os imóveis menores, sendo justa a cobrança da taxa com valores proporcionais a essa utilização presumida do serviço. Por ser extremamente oportuno, transcreve-se o seguinte excerto do voto vencedor (Min. Carlos Velloso):
“Numa outra perspectiva, deve-se entender que o cálculo da taxa de lixo, com base no custo do serviço dividido proporcionalmente às áreas construídas dos imóveis, é forma de realização da isonomia tributária, que resulta na justiça tributária (CF, art. 150, II). É que a presunção é no sentido de que o imóvel de maior área produzirá mais lixo do que o imóvel menor. O lixo produzido, por exemplo, por imóvel com mil metros quadrados de área construída, será maior do que o lixo produzido por imóvel de cem metros quadrados. A previsão é razoável e, de certa forma, realiza também o princípio da capacidade contributiva do art. 145, § 1.º, da C.F., que, sem embaraço de ter como destinatária (sic) os impostos, nada impede que possa aplicar-se, na medida do possível, às taxas” (STF, Tribunal Pleno, RE 232.393/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.08.1999, DJ 05.04.2002, p. 55).
Registre-se que, em 4 dezembro de 2008, a nova composição do Supremo Tribunal Federal, julgando caso semelhante, desta feita relativo ao Município de Campinas-SP, reafirmou o entendimento aqui detalhado, tendo o Ministro Ricardo Lewandowski proposto a edição de Súmula Vinculante acerca da matéria. Posteriormente, foi editada a Súmula Vinculante 29, cuja redação, bastante ampla, é a seguinte:
STF – Súmula Vinculante 29 – “É constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.
O posicionamento tem sido bastante abordado em concursos públicos. A título de exemplo, o CESPE utilizou-se do acórdão do STF e, no concurso para Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados, realizado em 2002, elaborou a seguinte assertiva: “A taxa de lixo domiciliar que, entre outros elementos, toma por base de cálculo o metro quadrado do imóvel, preenche os requisitos da constitucionalidade, atendidos os princípios da isonomia tributária e da capacidade contributiva, ainda que o IPTU considere como um dos elementos para fixação de sua base de cálculo a metragem da área construída”.
Para quem conhece o acórdão, fica fácil concluir que a afirmativa é VERDADEIRA.
Um outro detalhe é digno de nota. Em tópico anterior, transcreveu-se uma questão do concurso para Advogado da DESENBAHIA, realizado em 2002, na qual a Fundação Carlos Chagas, ratificando seu apego à literalidade, considerou correta a afirmação: “É certo que o princípio da capacidade contributiva encontra-se intrinsecamente ligado ao da igualdade tributária e aplica-se apenas aos impostos, e não às taxas, empréstimos compulsórios e contribuição de melhoria”.
Em face do expresso pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que nada impede que o princípio da capacidade contributiva seja aplicado às taxas, a assertiva deveria ter sido considerada incorreta.
Percebe-se que a FCC se apegou à redação literal do citado art. 145, § 1.º. Entretanto, se a redação da questão afirmar que o princípio não pode ser aplicado às taxas, o erro torna-se evidente e, mesmo que a banca seja a FCC, a afirmação deve ser tomada por falsa.
Outro ponto de grande relevância é a aceitação, por parte do STF, da criação de taxas com valores fixos constantes em tabelas que tomem como referência grandezas que, a rigor, poderiam ser consideradas como bases de cálculo próprias para impostos.
A título de exemplo, a Lei 7.940/1989 instituiu a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários, que, em alguns casos, variava em função do patrimônio líquido dos contribuintes, o que, para alguns, além de configurar base de cálculo própria de imposto, significaria cálculo da taxa em função do capital social da empresa, prática vedada pelo parágrafo único do art. 77 do CTN.
Para as companhias abertas com patrimônio líquido de até 10 milhões de Bônus do Tesouro Nacional – BTN, a taxa equivaleria a 1.500 BTN; para as companhias abertas cujo patrimônio líquido estivesse acima de 10 milhões e abaixo de 50 milhões de BTN, a taxa equivaleria a 3.000 BTN; já para as companhias abertas cujo patrimônio líquido fosse superior a 50 milhões de BTN, a taxa seria de 4.000 BTN.
O Supremo Tribunal Federal acabou por entender que o patrimônio líquido não era a base de cálculo da taxa, mas tão somente um fator de referência para definir o valor a ser pago pelas empresas, estipulado na forma de tributo fixo.
A argumentação parece contraditória e merece esclarecimentos. A lei instituidora da taxa previu um valor fixo a ser pago para cada faixa de patrimônio líquido dos sujeitos passivos. Assim, a taxa não era calculada mediante a multiplicação de uma alíquota pelo patrimônio líquido da empresa, de forma que este não era a “base de cálculo” do tributo, mas apenas uma grandeza usada como referência para definir o valor fixo a ser cobrado.
Em 2003, sepultando as discussões o STF editou a Súmula 665, cujo teor é o seguinte:
STF – Súmula 665 – “É constitucional a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários instituída pela Lei 7.940/1989”.
Na mesma linha, em julgado de outubro de 2008, o Tribunal considerou constitucional lei do Estado de São Paulo que utilizou como fator de referência para a cobrança da taxa paga aos cartórios para a transferência de imóveis o valor do imóvel transferido, considerando-se como tal o mesmo que foi apurado na cobrança do Imposto sobre Propriedade Territorial e Urbana (IPTU).
Apesar de dois Ministros entenderem que se estava utilizando para uma taxa base de cálculo de dois impostos (IPTU e ITBI), o Tribunal, por maioria, adotou o mesmo raciocínio esposado quando do julgamento acerca da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários. Segundo o Ministro-Relator Menezes Direito, a variação do valor da taxa em função dos padrões considerados pela lei estadual “não significa que o valor do imóvel seja a sua base de cálculo”, pois tal montante “é apenas usado como parâmetro para determinação do valor dessa espécie de tributo” (ADI/3.887-SP).
Conforme estudado, as taxas são cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. Existem, portanto, taxas de polícia e taxas de serviço.
Ocorre que os serviços públicos também podem ser remunerados por preços públicos (tarifas), o que poderia gerar uma confusão conceitual entre as taxas de serviço e os preços públicos. Ambos possuem caráter contraprestacional, remunerando uma atividade prestada pelo Estado. Nos dois casos, há a exigência de referibilidade, ou seja, há de ser possível a perfeita identificação do beneficiário do serviço, que é devedor da taxa ou do preço público.
As semelhanças, contudo, param por aí. O regime jurídico a que estão submetidas as taxas é o tributário, tipicamente de direito público. Já as tarifas estão sujeitas a regime contratual, ineludivelmente de direito privado. Dessa diferença fundamental decorrem as demais.
Como receita decorrente de uma exação cobrada em regime de direito público, o produto da arrecadação da taxa é receita derivada; enquanto que a receita oriunda de preço público é originária, decorrendo da exploração do patrimônio do próprio Estado.
Como tributo, a taxa é prestação pecuniária compulsória, não havendo manifestação livre de vontade do sujeito passivo para que surja a obrigação de pagar. Isto é claramente percebido com a leitura do art. 79, I, a e b, do Código Tributário Nacional, que permite a cobrança da taxa não só pela utilização efetiva do serviço público, mas também pela utilização potencial, desde que, sendo definido em lei como de utilização compulsória, o serviço seja posto à disposição do contribuinte mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento.
Recorde-se o exemplo do particular que mantém um apartamento fechado, sem usar o serviço de coleta domiciliar de lixo, mas tem que pagar a respectiva taxa. A vontade do particular é irrelevante e a compulsoriedade salta aos olhos.
No preço público a relação é contratual, sendo imprescindível a prévia manifestação de vontade do particular para que surja o vínculo obrigacional. A prestação pecuniária é facultativa.
A título de exemplo, tem-se o preço público para a utilização do serviço público de telefonia. Os particulares que desejarem obter a prestação domiciliar do serviço manifestarão sua vontade mediante a assinatura de um contrato com uma companhia concessionária e, a partir daí, nascerão as respectivas obrigações.
Em consonância com a diferenciação apontada, o STF editou a seguinte Súmula:
STF – Súmula 545 – “Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu”.
É importante relembrar que, em virtude de o princípio da anualidade não mais ser aplicável em matéria tributária, tem-se por prejudicada a parte final do texto da Súmula, devendo ser desconsiderada a exigência de prévia autorização orçamentária para a cobrança de taxas.
Como o regime das taxas é legal, não é possível rescisão, que pode ocorrer somente no regime contratual do preço público.
O regime jurídico tributário é circundado das prerrogativas de autoridade, mas é limitado por um conjunto de restrições, como a obediência à legalidade, à anterioridade e a noventena.
Assim, por exemplo, como as custas judiciais são tributos, não é possível a qualquer Tribunal fixá-las por Resolução ou outro ato próprio, sendo necessária a edição de lei em sentido estrito estipulando o valor. Além disso, a cobrança dos valores majorados só pode ser feita a partir do exercício subsequente (anterioridade) e se decorridos ao menos noventa dias da publicação da nova lei (noventena).
Também há de se destacar que, segundo expressas disposições legais (CTN, arts. 7.º e 119), só podem figurar no polo ativo da relação jurídico-tributária pessoas jurídicas de direito público, o que é integralmente aplicável às taxas. Já no que concerne aos preços públicos, é comum o sujeito ativo ser uma pessoa jurídica de direito privado, como sempre ocorre nos serviços públicos delegados (concedidos, permitidos ou autorizados). A título de exemplo, tanto o STF quanto o STJ consideram que o valor pago pelos serviços de água e esgoto prestados por concessionária de serviço público não possui caráter tributário, possuindo natureza jurídica de tarifa ou preço público. Foi justamente por este fato que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 412 afirmando que “a ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil”. Ora, se de tributo se tratasse, a prescrição seria regida pelo Código Tributário Nacional.
Na prática, a melhor maneira de identificar se determinada exação cobrada pelo Estado é taxa ou preço público é verificar o regime jurídico a que o legislador submeteu a cobrança.
Não há de se concluir, contudo, que o legislador possui ampla e irrestrita discricionariedade para escolha entre regime tributário ou contratual.
Sobre a forma de remuneração dos serviços específicos e divisíveis, merecem destaque as palavras do Ministro Carlos Velloso, quando relatou o Recurso Extraordinário 209.365-3/SP, conduzindo o STF a adotar a seguinte classificação:
1 – Serviços públicos propriamente estatais, em cuja prestação o Estado atue no exercício de sua soberania, visualizada sob o ponto de vista interno e externo; esses serviços são indelegáveis, porque somente o Estado pode prestá-los. São remunerados, por isso mesmo, mediante taxa. Exemplos: a emissão de passaportes e o serviço jurisdicional.
2 – Serviços públicos essenciais ao interesse público: são os serviços prestados no interesse da comunidade. São remunerados mediante taxa. E porque as atividades remuneradas são essenciais ao interesse público, à comunidade ou à coletividade, a taxa incidirá sobre a utilização efetiva ou potencial do serviço. Exemplos: os serviços de coleta de lixo e de sepultamento.
3 – Serviços públicos não essenciais e que, quando não utilizados, disso não resulta dano ou prejuízo para a comunidade ou para o interesse público. Esses serviços são, em regra, delegáveis, vale dizer, podem ser concedidos e podem ser remunerados mediante preço público. Exemplos: o serviço postal, os serviços telefônicos, telegráficos, de distribuição de energia, de gás etc. (STF, Tribunal Pleno, RE 209.365-3/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04.03.1999, DJ 07.12.2000, p. 50).
Seguindo essa linha, em passagem lapidar, o Ministro Moreira Alves afirma: “como o Poder Público não pode fugir a essas restrições de seu poder de tributar, é evidente que, nos casos em que é devida taxa, não pode ele – sob pena de fraude às limitações constitucionais – esquivar-se destas, impondo, ao invés de taxa, preço público” (STF, Tribunal Pleno, RE 89.876/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, j. 04.09.1980, DJ 10.10.1980).
Feitas essas considerações, as notas distintivas entre os institutos podem ser resumidas da seguinte forma:
|
TAXA |
PREÇO PÚBLICO (TARIFA) |
|
• Regime jurídico de direito público. |
• Regime jurídico de direito privado. |
|
• O vínculo obrigacional é de natureza tributária (legal), não admitindo rescisão. |
• O vínculo obrigacional é de natureza contratual, admitindo rescisão. |
|
• O sujeito ativo é uma pessoa jurídica de direito público. |
• O sujeito ativo pode ser pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. |
|
• O vínculo nasce independentemente de manifestação de vontade (compulsório). |
• Há necessidade de válida manifestação de vontade para surgimento do vínculo (é facultativo). |
|
• Pode ser cobrada em virtude de utilização efetiva ou potencial ou do serviço público. |
• Somente pode ser cobrada em virtude de utilização efetiva do serviço público. |
|
• A receita arrecadada é derivada. |
• A receita arrecadada é originária. |
|
• Sujeita-se aos princípios tributários (legalidade, anterioridade, noventena etc.). |
• Não se sujeita aos princípios tributários. |
Em 1605, na Inglaterra, a coroa inglesa realizou uma obra de grande porte e com enorme dispêndio de dinheiro para retificar e sanear as margens do Rio Tâmisa, tornando-o mais navegável e estimulando o incremento da atividade econômica nas áreas ribeirinhas. Os proprietários dos imóveis localizados nessas áreas foram muito beneficiados, pois passaram a ter suas terras, antes sujeitas a frequentes alagamentos, bastante valorizadas. Visando a sanar o enriquecimento sem causa, foi criado, por lei, um tributo (betterment tax), a ser pago pelos beneficiários, limitado ao montante da valorização individual. Nascia a contribuição de melhoria, até hoje responsável pelo financiamento de obras de grande vulto.
A Constituição Federal de 1988, ao prever a possibilidade de a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituírem contribuições de melhoria, apenas declarou que elas decorrem de obras públicas (art. 145, III).
Conforme já ressaltado, tais contribuições são tributos vinculados, uma vez que sua cobrança depende de uma específica atuação estatal, qual seja a realização de uma obra pública que tenha como consequência um incremento do valor de imóveis pertencentes aos potenciais contribuintes.
Assim, não é todo benefício proporcionado pela obra ao particular que legitima a cobrança da contribuição. A valorização imobiliária é fundamental. Nessa linha, o CESPE, na prova para Procurador Federal, realizada em 2004, propôs a seguinte assertiva, obviamente incorreta: “A contribuição de melhoria pode ser cobrada quando a construção de obra pública trouxer qualquer benefício para o contribuinte”.
Como a contribuição é decorrente de obra pública e não para a realização de obra pública, não é legítima a sua cobrança com o intuito de obter recursos a serem utilizados em obras futuras, uma vez que a valorização só pode ser aferida após a conclusão da obra. Excepcionalmente, porém, o tributo poderá ser cobrado em face de realização de parte da obra, desde que a parcela realizada tenha inequivocamente resultado em valorização dos imóveis localizados na área de influência.
O fato gerador da contribuição de melhoria não é a realização da obra, mas sim sua consequência, a valorização imobiliária. A melhoria exigida pela Constituição é, segundo o STF, o acréscimo de valor à propriedade imobiliária dos contribuintes, de forma que a base de cálculo do tributo será exatamente o valor acrescido, ou seja, a diferença entre os valores inicial e final do imóvel beneficiado. Assim, para efeito de cobrança da exação, há de se considerar melhoria como sinônimo de valorização. Nesse sentido, segue o seguinte excerto da lavra do Tribunal (STF, 2.ª T., RE 114.069-1/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 30.09.1994, DJ 02.05.1994, p. 26.171):
“Sem valorização imobiliária decorrente de obra pública não há contribuição de melhoria, porque a hipótese de incidência desta é a valorização e a sua base de cálculo é a diferença entre os dois momentos: o anterior e o posterior à obra pública, vale dizer o quantum da valorização imobiliária”.
Também no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento tem sido o mesmo, conforme demonstra a Ementa do Acórdão proferido no REsp 169.131/SP:
“1 – A Entidade tributante ao exigir o pagamento de contribuição de melhoria tem de demonstrar o amparo das seguintes circunstâncias: a) exigência fiscal decorre de despesas decorrentes de obra pública realizada; b) a obra provocou a valorização do imóvel; c) a base de cálculo é a diferença entre os dois momentos: o primeiro, o valor do imóvel antes da obra ser iniciada; o segundo, o valor do imóvel após a conclusão da obra.
2. É da natureza da contribuição de melhoria a valorização imobiliária (Geraldo Ataliba).
3. Precedentes jurisprudenciais (...).
4. Adoção também da corrente doutrinária que, no trato da contribuição da melhoria, adota o critério da mais valia para definir o seu fato gerador ou hipótese de incidência (no ensinamento de Geraldo Ataliba, de saudosa memória)” (STJ, 1.a T., REsp 169.131/SP, Rel. Min. José Delgado, j. 02.06.1998, DJ 03.08.1998, p. 143).
É na esteira deste raciocínio que o STF considera que a “realização de pavimentação nova, suscetível de vir a caracterizar benefício direto a imóvel determinado” com incremento de seu valor pode justificar a cobrança de contribuição de melhoria, o que não acontece com o mero “recapeamento de via pública já asfaltada”, que constitui simples serviço de manutenção e conservação, não ensejando a cobrança do tributo (STF, 1.ª T., RE 116.148/SP, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 16.02.1993, DJ 21.05.1993, p. 9.768). Na mesma linha de raciocínio, levando em consideração que as taxas e contribuições de melhoria têm fatos geradores bastante diversos, o STF entende que não se pode instituir taxa quando for cabível a criação de contribuição de melhoria (RE 121.617).
Não obstante a necessidade de valorização para que reste verificado o fato gerador da contribuição, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser legítima a fixação da base de cálculo do tributo mediante a utilização de montantes presumidos de valorização, indicados pela administração pública, desde que facultada a apresentação, pelo sujeito passivo, de prova em sentido contrário. Nas palavras do próprio Tribunal, nessas hipóteses “a valorização presumida do imóvel não é o fato gerador da contribuição de melhoria mas, tão somente, o critério de quantificação do tributo (base de cálculo), que pode ser elidido pela prova em sentido contrário da apresentada pelo contribuinte” (AgRg no REsp 613.244/RS).
Em face do exposto, fica fácil concluir que a existência do tributo tem fundamento ético-jurídico no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Seria injusto o Estado cobrar impostos de toda a coletividade e utilizar o produto da arrecadação para a realização de obras que trouxessem como resultado um aumento patrimonial de um grupo limitado de pessoas, sem que esse enriquecimento seja produto do trabalho ou do capital pertencente aos beneficiários.
Assim, a contribuição de melhoria tem caráter contraprestacional. Serve para ressarcir o Estado dos valores (ou parte deles) gastos com a realização da obra. É justamente por isso que existe um limite total para a cobrança do tributo. O Estado não pode cobrar, a título de contribuição de melhoria, mais do que gastou com a obra, pois se assim fizesse, o problema apenas mudaria de lado, uma vez que geraria enriquecimento sem causa do próprio Estado.
Além do limite total, a cobrança da contribuição de melhoria encontra um limite individual, que é o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Esse segundo limite se fundamenta no fato de que a contribuição de melhoria é vinculada a uma valorização imobiliária, de forma que, caso se cobrasse de determinado contribuinte mais do que seu imóvel se valorizou, a parcela excedente poderia ser considerada um imposto, uma vez que desvinculada de qualquer atividade estatal. Em virtude de a Constituição Federal de 1988 não prever tal imposto, a cobrança não seria legítima.
Em face dos argumentos expendidos, chega-se à conclusão de que se consideram recepcionados pela atual Constituição Federal os limites individual e total estatuídos no art. 81 do Código Tributário Nacional, conforme abaixo transcrito:
“Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado”.
Existe certa controvérsia sobre a vigência desse art. 81 (assim como do art. 82, que também trata das contribuições de melhoria), defendendo alguns autores que ele teria sido revogado pelo Decreto-lei 195, de 24 de fevereiro de 1967, que teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988 como norma geral em matéria de contribuições de melhoria. O decreto-lei foi editado após a promulgação da Constituição Federal de 1967, com base em competência conferida pela Constituição Federal de 1946, que entretanto ainda não tinha perdido sua vigência, o que veio a acontecer em 15 de março de 1967.
Pacificando as controvérsias acerca desse “vacatio legis constitucional” (lapso de tempo entre a data de publicação e a de vigência), o STF editou a Súmula 496, cujo teor é o seguinte:
STF – Súmula 496 – “São válidos, por que salvaguardados pelas Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1967, os Decretos-Leis expedidos entre 24 de janeiro e 15 de março de 1967”.
Apesar do entendimento, não há contradição entre os limites estatuídos pelo CTN e a disciplina trazida pelo Decreto-lei 195/1967 que, inclusive, prevê praticamente o mesmo limite total (custo da obra) no seu art. 4.º. Já o limite individual é observado com a simples aplicação da pacífica jurisprudência no sentido de que a base de cálculo do tributo é a diferença entre os valores iniciais e finais dos imóveis beneficiados (valorização).
Em suma, estão em vigor os limites total e individual. Só se deve ter o cuidado de lembrar que esses limites não estão previstos expressamente na Constituição. Vez por outra as bancas examinadoras propõem questões com armadilhas nesse sentido. A questão cobrada pela ESAF no Concurso para Procurador da Fazenda Nacional (1998) exemplifica tal entendimento: “A Constituição de 1988 não estabelece que o limite total da contribuição de melhoria seja o valor da despesa realizada pela obra pública que lhe deu causa”.
A assertiva é VERDADEIRA, porque os limites não constam do texto constitucional, e sim da legislação infraconstitucional.
Conforme citado anteriormente, a jurisprudência tem afirmado que a base de cálculo da contribuição de melhoria é a diferença entre os valores iniciais e finais dos imóveis beneficiados (valorização). Tal afirmativa não é corroborada pelo Código Tributário Nacional, uma vez que este estipula duas regras que apontam para uma sistemática de cálculo bastante diferente, conforme exposto a seguir:
a) a lei instituidora da contribuição de melhoria deve determinar a parcela do custo da obra a ser financiada pelo tributo (CTN, 82, I, “c”);
b) a contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra (...) pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização (CTN, art. 82, § 1.º).
Não se vislumbra, portanto, a estipulação de uma alíquota a ser aplicada sobre a valorização individual, mas sim a fixação de uma parcela do custo da obra a ser rateada entre os proprietários dos imóveis beneficiados proporcionalmente aos respectivos “fatores individuais de valorização”.
Na prática, o “fator individual de valorização” é obtido pela divisão da valorização individual do imóvel pela soma das valorizações individuais dos imóveis beneficiados.
Nesse sentido, a Fundação Carlos Chagas propôs interessante questão no concurso para provimento de cargos de Fiscal de Rendas do Estado do Rio de Janeiro, realizado em 2014. No enunciado, narrava-se a realização de obras públicas que, segundo estudos da Administração, beneficiariam cinco imóveis, resultando numa valorização média de 20%, percentual utilizado para o lançamento da contribuição contra os respectivos proprietários. Afirmou-se também que “as obras foram orçadas em R$ 250.000,00, valor esse a ser integralmente financiado por contribuição de melhoria”.
Ainda segundo a questão, após a obra, a situação concretamente verificada foi a seguinte:
|
Imóvel |
Valia (R$ |
Contribuição de Melhoria Cobrada (R$) |
Valorização efetiva, constatada em razao da obra |
|
I |
100.000.00 |
20.000.00 |
não teve valorização alguma |
|
II |
200.000.00 |
40.000.00 |
passou a valer 220.000.00 |
|
III |
300.000.00 |
60.000.00 |
passou a valer 345.000.00 |
|
IV |
400.000.00 |
80.000.00 |
passou a valer 480.000.00 |
|
V |
500.000.00 |
100.000.00 |
passou a valer 625.000.00 |
Percebe-se que a valorização efetiva não foi a prevista pelo Estado e que o fato gerador da contribuição (valorização) não ocorreu quanto ao primeiro imóvel. Além disso, o valor cobrado a título de contribuição de melhoria ultrapassou o limite máximo individual no tocante aos imóveis II e III.
Uma análise mais apressada poderia levar à conclusão de que os valores cobrados dos proprietários dos imóveis IV e V estariam corretos, pois ficaram dentro dos limites estabelecidos. Tal raciocínio é equivocado, pois seria injusto cobrar do proprietário do imóvel IV 100% do valor acrescido e do proprietário do imóvel V apenas 80% (100.000,00/125.000,00). É neste ponto que ganham relevância os “fatores individuais de valorização”. O montante a ser cobrado de cada proprietário deve ser obtido pelo produto entre o fator individual e o valor total a ser custeado. Assim, para o imóvel II, por exemplo, o valor a ser pago seria o “fator individual de valorização” (20mil/270mil = 0.074 = 7,4%)1 multiplicado pelo custo a ser financiado pela contribuição (250 mil), ou seja, aproximadamente R$ 18.518,51.
Nessa linha, dentre as alternativas propostas na questão, a assertiva considerada correta afirmava o seguinte: “se o fator individual de valorização do imóvel II, apurado com base na legislação própria, fosse igual a 0,074 (ou 7,4%), a contribuição de melhoria relativa a esse imóvel poderia ser determinada e, posteriormente, lançada e cobrada, mediante o rateio do custo total da obra por esse fator individual de valorização”.
Em termos matemáticos, independentemente de eventuais fórmulas constantes da legislação própria, é possível afirmar que o valor a ser pago pode ser determinado por uma simples “regra de três”, dividindo-se o valor a ser financiado entre os proprietários dos imóveis beneficiados proporcionalmente à valorização individual de cada imóvel.
Percebe-se que a sistemática estatuída no Código garante a observância do limite total (global), pois o valor rateado entre os beneficiários é uma parcela do custo da obra (podendo chegar até 100% deste valor), mas não garante matematicamente a observância do limite individual, pois pode ocorrer de o custo da obra ser muito maior que a soma das valorizações individuais. Nesse caso, deve-se reduzir a parcela a ser rateada à soma de tais valorizações, sob pena de desobediência à própria regra do Código que impõe também o respeito ao limite individual.
Por fim, alerta-se aos que se preparam para concursos públicos que, não obstante o raciocínio ora exposto já haver sido objeto da inteligente questão da Fundação Carlos Chagas, também devem ser consideradas corretas as tradicionais afirmativas no sentido simplório de que a base de cálculo da contribuição de melhoria é a diferença entre os valores iniciais e finais dos imóveis beneficiados (valorização). É o que simploriamente afirma a jurisprudência brasileira.
Dispõe a Constituição Federal, no seu art. 148:
“Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios:
I – para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência;
II – no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, b.
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição”.
Os empréstimos compulsórios são empréstimos forçados, coativos, porém restituíveis. A obrigação de pagá-los não nasce de um contrato, de uma manifestação livre das partes, mas sim de determinação legal. Verificada a ocorrência do fato gerador, surge a obrigação de “emprestar” dinheiro ao Estado.
O fato de serem restituíveis levou alguns doutrinadores a sustentar que os empréstimos compulsórios não seriam tributos, vez que os recursos arrecadados não se incorporam definitivamente ao patrimônio estatal. Esse entendimento não merece prosperar, pois a exação se enquadra com perfeição na definição de tributo constante do art. 3.º do CTN, que não contempla nenhum requisito relativo à definitividade do ingresso da receita tributária nos cofres públicos. Também confirma o entendimento o fato de o referido art. 148 da CF/1988, que é o fundamento constitucional para a existência de empréstimos compulsórios no ordenamento jurídico brasileiro, encontrar-se inserido na seção que trata dos princípios gerais do sistema tributário nacional. A obrigatoriedade de restituição dos recursos arrecadados serve para dar fisionomia própria ao tributo, de forma a caracterizá-lo como uma espécie tributária distinta, embora não sirva como argumento para descaracterizá-lo como tributo.
Nessa linha de raciocínio, é possível afirmar, de forma convicta, que está superado o entendimento consolidado na Súmula 418 do Supremo Tribunal Federal (“O empréstimo compulsório não é tributo, e sua arrecadação não está sujeita à exigência constitucional da prévia autorização orçamentária”), uma vez que a Emenda Constitucional 18/1965, ao incluir os empréstimos compulsórios nas disposições constitucionais sobre o sistema tributário nacional, pôs fim às controvérsias.
O STF pacificou a questão, entendendo, de forma incontroversa, que os empréstimos compulsórios são tributos. Transcreve-se, a título de exemplo, um excerto do voto vencedor proferido pelo Ministro Moreira Alves (Relator), quando a Corte julgou o RE 146.733-9/SP:
“De feito, a par das três modalidades de tributos (os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria) a que se refere o art. 145 para declarar que são competentes para instituí-los a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, os arts. 148 e 149 aludem a duas outras modalidades tributárias, para cuja instituição só a União é competente: o empréstimo compulsório e as contribuições sociais, inclusive as de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas” (STF, Tribunal Pleno, RE 146.733-9/SP, Rel. Min. Moreira Alves, j. 29.06.1992, DJ 06.11.1992, p. 20.110).
Nos concursos públicos, a natureza tributária do empréstimo compulsório é pacífica, conforme demonstra a seguinte assertiva (errada), retirada da prova para provimento de cargos de Procurador Federal de 2004 realizada pela CESPE: “Os empréstimos compulsórios não têm natureza tributária, uma vez que não transferem definitivamente recursos dos particulares para o Estado, devendo ser restituídos nos termos da lei”. A ESAF, da mesma forma, no concurso para Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, promovido em 2009, após uma divulgação equivocada de gabarito, teve que se curvar aos recursos dos candidatos e considerar correta a seguinte assertiva: “Em relação aos empréstimos compulsórios, é correto afirmar que é um tributo, pois atende às cláusulas que integram o art. 3.º do Código Tributário Nacional”.
A competência para a criação de empréstimos compulsórios é exclusiva da União. Esta é uma regra sem exceções. Por mais urgente, grave, relevante que seja a situação concreta, não é possível a instituição da exação por parte dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal.
A instituição de empréstimos compulsórios só é possível mediante lei complementar. Esse ponto tem gerado equívocos. Nas situações em que é possível a instituição de empréstimos compulsórios (guerra externa ou sua iminência, calamidade pública e investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional), a relevância e a urgência saltam aos olhos. Isto tem feito com que alguns, numa análise mais apressada, recordem-se das medidas provisórias, pois sua edição depende, exatamente, da presença desses requisitos (relevância e urgência). Todavia, como a Constituição exige lei complementar para a criação dos empréstimos compulsórios e proíbe que as medidas provisórias regulamentem matérias sujeitas a reserva de lei complementar (art. 62, § 1.º, III), a conclusão é óbvia: leis ordinárias e medidas provisórias não podem criar empréstimos compulsórios.
Apesar da clareza do raciocínio, por vezes as bancas de concursos públicos elaboram questões em que se pinta um quadro de grave crise institucional, tentando induzir o candidato a aceitar a utilização de lei ordinária ou medida provisória para a criação de empréstimo compulsório. Transcreve-se, nesta linha, uma questão elaborada pelo CESPE no concurso para Auditor-Fiscal da Previdência Social, em 2000: “Se o Brasil tivesse grandes porções de seu território afetadas por violentos furacões, com a destruição de cidades e alta mortandade, e se, nessa situação, o Presidente da República baixasse decreto reconhecendo a ocorrência de calamidade pública em nível nacional, isso permitiria que a União instituísse empréstimo compulsório, mediante a aprovação de lei ordinária pelo Congresso Nacional, pois a hipótese de calamidade pública, ao lado da de guerra externa ou de iminência desta, é uma das que autorizam a criação dessa espécie de tributo”.
A assertiva é FALSA, pois, apesar da insofismável presença de relevância e urgência na situação proposta, nada justifica a instituição de empréstimo compulsório por instrumento normativo diferente da lei complementar.
Um outro ponto digno de destaque é o fato de o CTN, em seu art. 15, III, prever a instituição de empréstimos compulsórios numa terceira situação, qual seja a “conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo”. Situação muito semelhante à prevista no dispositivo ocorreu em 1990, com a edição da MP 168/1990, convertida na Lei 8.024/1990, a qual implementou parte das medidas do “Plano Collor I”, entre as quais a retenção de toda importância superior a 50.000 cruzados novos depositada nas cadernetas de poupança e nas contas correntes e de 80% das aplicações no over e demais produtos financeiros. Era uma tentativa de conter a inflação, baseando-se no raciocínio de que a absorção do poder aquisitivo diminuiria a demanda, segurando os preços.
O STF não chegou a se pronunciar sobre a matéria, pois atendeu questão de ordem e concluiu que o julgamento da ADIn 534/DF ajuizada contra a citada MP 168/1990 restara prejudicado em virtude da devolução integral dos ativos. Apesar disso, é extremamente esclarecedor o excerto abaixo, extraído de julgamento do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região:
“... III – A retenção compulsória dos ativos financeiros, em cruzados novos, determinada pela Medida Provisória 168/1990, convolada na Lei 8.024/1990, sujeita à fiscalização do BACEN, com promessa de restituição, nos prazos e condições fixados naqueles diplomas legais, configura disfarçado empréstimo compulsório, flagrantemente inconstitucional, por não encontrar adequado fundamento nos incisos I e II do art. 148 da Constituição Federal de 1988, eis que não instituído mediante lei complementar e inobservado o princípio da anterioridade tributária, previsto no art. 150, III, b [a indicação correta seria alínea c], da Carta Constitucional vigente, de vez que apenas o empréstimo compulsório previsto no art. 148, I, da Constituição Federal a ele não está sujeito” (TRF 1.ª Região, 2.ª T., AMS 91.01.06056-2, Rel. Juíza Assusete Magalhães, j. 14.04.1992, DJ 01.07.1992).
Assim, clara é a conclusão de que o citado art. 15, III, do CTN não foi recepcionado pela nova Constituição Federal, de forma que os empréstimos compulsórios só podem ser instituídos nas hipóteses constitucionalmente previstas.
Como já ressaltado, nas situações que autorizam a instituição de empréstimos compulsórios, a urgência e a relevância sempre se fazem presentes. Entretanto, o legislador foi sensível ao fato de que, nos casos de guerra externa e sua iminência e de calamidade pública, há uma necessidade bem maior de celeridade, de rapidez na instituição e cobrança do tributo. Justamente por isso, nesses casos a exação pode ser criada e cobrada de imediato, sem necessidade de obediência aos princípios da anterioridade e da noventena (a serem detalhadamente analisados quando do estudo das limitações constitucionais ao poder de tributar).
Nos termos do parágrafo único do multicitado art. 148 da CF, a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. O dispositivo visa a evitar que haja um desvirtuamento do tributo, pois se a Constituição Federal previu quais as circunstâncias que autorizam a criação do tributo, não faria sentido utilizar os recursos arrecadados em outras despesas. Assim, se o empréstimo compulsório foi criado em virtude de uma guerra externa, toda sua arrecadação deve ser carreada para fazer face aos esforços de guerra.
Novamente, reaviva-se a advertência para que não seja feita confusão entre tributo vinculado com tributo de arrecadação vinculada. O tributo é considerado vinculado quando o Estado tem de realizar alguma atividade específica relativa ao sujeito passivo para legitimar a cobrança. A exigência não tem correlação com a destinação da arrecadação. Já a principal característica dos tributos com arrecadação vinculada é a necessidade de utilização da receita obtida, exclusivamente com determinadas atividades. Assim, os empréstimos compulsórios são tributos de arrecadação vinculada. No tocante a sua classificação como tributos vinculados ou não vinculados, não há qualquer definição prévia, nem na Constituição, nem no CTN, de forma que este aspecto só poderá ser verificado por intermédio da análise pormenorizada do fato gerador definido nas leis que os instituam.
Apesar da liberdade conferida ao legislador, decorrente da não exigência de qualquer atividade estatal anterior, os empréstimos compulsórios já criados no Brasil foram todos não vinculados (sobre aquisição de combustíveis, automóveis e energia elétrica, p. ex.). O motivo é simples. Se o Estado pode optar por fazer ou não a cobrança do tributo depender da realização de uma atividade voltada ao sujeito passivo, a tendência é que se estabeleça a cobrança sem necessidade de tal contraprestação.
O parágrafo único do art. 15 do Código Tributário Nacional exige que a lei instituidora do empréstimo compulsório fixe o prazo e as condições de resgate. Assim, a tributação não será legítima sem a previsão de restituição.
Não seria nem necessária a previsão infraconstitucional para que se entendesse como exigível a fixação dos prazos e condições da restituição. A conclusão deve decorrer do simples fato de o tributo ter sido denominado empréstimo, apesar de compulsório.
O STF tem entendimento firmado no sentido de que a restituição do valor arrecadado a título de empréstimo compulsório deve ser efetuada na mesma espécie em que recolhido (RE 175.385/CE). Como o tributo, por definição, é pago em dinheiro, a restituição deve ser efetivada também em dinheiro.
Nessa linha, o CESPE, na prova do concurso público para Juiz Federal do TRF 5.ª Região, realizado em 2005, propôs a seguinte assertiva (CERTA): “A União poderá instituir empréstimo compulsório, sempre por lei complementar, vinculando os recursos às despesas que fundamentaram sua instituição, sendo que a restituição deverá ser, necessariamente, em moeda, quando esta for o objeto do empréstimo”.
Esse foi um dos fundamentos para a declaração de inconstitucionalidade dos empréstimos compulsórios sobre veículos e sobre combustíveis, surgidos conjuntamente ainda na vigência da Constituição Federal de 1969. A devolução foi prevista não em dinheiro, mas em quotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento.
Entretanto, excepcionalmente, no caso do empréstimo compulsório instituído em favor da Eletrobrás, o STF decidiu que o tributo criado havia sido recebido pela Constituição Federal de 1988, acatando a possibilidade de devolução em ações (AGRRE 193.798/PR – Rel. Min. Ilmar Galvão).
Dispõe o art. 149 da Constituição Federal:
“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6.º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo”.
Percebe-se que o legislador constituinte previu a possibilidade de a União instituir três espécies de contribuições, quais sejam: a) as contribuições sociais; b) as contribuições de intervenção no domínio econômico (CIDE); e c) as contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas (corporativas).
Neste ponto, registra-se um detalhe muito importante. A competência para a criação das contribuições do art. 149 é destinada exclusivamente à União. Entretanto, o § 1.º do mesmo artigo traz uma exceção, nos seguintes termos:
“§ 1.º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União”.
Nessa linha de raciocínio, no concurso para o Ministério Público de Tocantins (2004), o CESPE considerou CORRETA uma assertiva que afirmava taxativamente que as contribuições especiais “são de competência exclusiva da União, porém há exceção a essa regra”.
A nova redação, dada pela EC 41/2003, fixou como piso para as alíquotas das contribuições instituídas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal aquela cobrada pela União dos seus servidores titulares de cargos efetivos. Além disso, a redação anterior dispunha que tais contribuições custeariam sistemas de previdência e assistência social. A referência à assistência não fazia muito sentido, uma vez que sistemas assistenciais não possuem caráter contributivo (CF/1988, art. 203).
Esses pontos merecem atenção especial de quem se submete a concursos públicos, pois o que as bancas mais gostam de cobrar são novidades e exceções, e as Emendas 41 e 42/2003, estão repletas de ambas as coisas.
Inspirado na máxima segundo a qual não se devem exportar tributos, mas sim mercadorias e serviços, o legislador constituinte derivado, por intermédio da EC nº 33/2001, estabeleceu, no § 2º, inciso I, do multicitado art. 149 da CF/88, que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação.
Na contramão do objetivo de desonerar por completo as exportações, a Secretaria da Receita Federal do Brasil adotou uma interpretação absolutamente literal do dispositivo, entendendo que a imunidade somente impediria a cobrança de contribuições que tivessem como base de cálculo exatamente a receita. Assim, realmente não poderiam ser cobradas dos exportadores a contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e a Contribuição para Financiar a Seguridade Social – COFINS, uma vez que oficialmente incidentes sobre a receita ou faturamento. Entretanto, ainda segundo a interpretação da SRF, seria viável a cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, mesmo no que concerne ao lucro decorrente de exportações.
O Supremo Tribunal Federal chegou a rechaçar cautelarmente a sede arrecadatória federal, ao afirmar que se o lucro é a parcela da receita que resta após o abatimento das despesas dedutíveis, ele também é imune, não se podendo artificiosamente resgatar para o terreno da tributação algo que se encontra na zona morta da imunidade (Plenário, AC 1.738-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 17.09.2007, DJ de 19.10.2007).
No entanto, embarcando na literal interpretação dada pela Fazenda Pública, nossa Suprema Corte acabou por pacificar o entendimento de que o legislador constituinte claramente diferenciou a receita do lucro, tanto é que autorizou a criação de tributos distintos para gravar tais bases econômicas. Nessa linha, ainda no entender do Tribunal, ao imunizar as receitas decorrentes de exportação, a Constituição não desejou proibir a tributação do lucro (RE 474.132, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 12.08.2010).
No mesmo julgado, afirmou-se que a imunidade em questão também não impedia a cobrança da CPMF (enquanto vigorou tal contribuição), pois o tributo não incidia sobre o resultado imediato da exportação (o recebimento da receita), mas sobre operações (movimentações financeiras) realizadas posteriormente pelo exportador.
Pela importância do julgado, transcreve-se abaixo a respectiva ementa:
“Recurso extraordinário. 2. Contribuições sociais. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF). 3. Imunidade. Receitas decorrentes de exportação. Abrangência. 4. A imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição, introduzida pela Emenda Constitucional nº 33/2001, não alcança a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), haja vista a distinção ontológica entre os conceitos de lucro e receita. 6. Vencida a tese segundo a qual a interpretação teleológica da mencionada regra de imunidade conduziria à exclusão do lucro decorrente das receitas de exportação da hipótese de incidência da CSLL, pois o conceito de lucro pressuporia o de receita, e a finalidade do referido dispositivo constitucional seria a desoneração ampla das exportações, com o escopo de conferir efetividade ao princípio da garantia do desenvolvimento nacional (art. 3º, I, da Constituição). 7. A norma de exoneração tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição também não alcança a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), pois o referido tributo não se vincula diretamente à operação de exportação. A exação não incide sobre o resultado imediato da operação, mas sobre operações financeiras posteriormente realizadas. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
Não obstante a imunidade nas operações de exportações, as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidem sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços (CF, art. 149, § 2º, II). Nestas hipóteses, trata-se de regra destinada a equalizar a carga tributária incidente sobre as importações, deixando-a semelhante àquela que grava o produto nacional nas operações internas. Desta forma, o comerciante que vende uma mercadoria dentro do Brasil, está sujeito à incidência da dupla PIS/COFINS sobre sua receita; já nas importações, o recebedor da receita é o exportador estrangeiro, não sendo possível ao Brasil impor a tal agente o dever de recolher tributo aos cofres nacionais. Para que não haja um benefício fiscal ao produto estrangeiro (não onerado pelo PIS/COFINS sobre receita), criou-se, sob a autorização da norma constitucional ora analisada, a dupla PIS/COFINS-importação, com peso semelhante àquele que onera as operações internas (Lei nº 10.865/2004).
A par dessas espécies de contribuição, previstas no art. 149, a Emenda Constitucional 39/2002, acrescentou à Constituição Federal o art. 149-A, atribuindo competência aos Municípios e ao Distrito Federal para instituírem contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, a ser estudada mais adiante.
De qualquer forma, em sede doutrinária e jurisprudencial, ainda não há uma definição precisa do enquadramento da citada contribuição no quadro das espécies tributárias existentes no Brasil.
Como exemplo da indefinição, a Fundação Carlos Chagas, no concurso para Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, realizado em 2004, considerou correta assertiva afirmando que a contribuição de iluminação pública “é uma contribuição sui generis que pode ser instituída pelos Municípios ou Distrito Federal”.
Opta-se, nesta obra, pela inclusão das contribuições de iluminação pública como espécie das “contribuições especiais”, uma vez que, atualmente, tal rubrica já comporta um conjunto de contribuições com características bem diferenciadas entre si.
Seguindo esta linha, as contribuições especiais serão classificadas da seguinte forma:
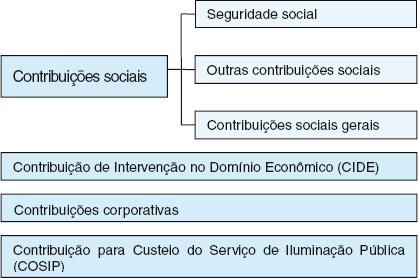
A denominação doutrinária “contribuições especiais” visa a diferençar tais espécies tributárias das já estudadas contribuições de melhoria. Já a designação “contribuições parafiscais”, em desuso, mas ainda adotada por alguns doutrinadores, decorre do fato de que essas contribuições, em sua origem, eram instituídas com o objetivo de arrecadar recursos em favor de entidades não integrantes da administração pública, mas que realizavam atividades de interesse público (atuando paralelamente ao Estado). Como atualmente as contribuições do art. 149 também podem ser destinadas à própria administração pública, perdeu o sentido a adoção de tal terminologia.
Sobre esse aspecto, um ponto é digno de nota. O fato de, via de regra, as contribuições especiais terem os produtos de suas arrecadações vinculados a determinada atividade, levou alguns autores a defender que todas as etapas relativas a tal atividade, desde a arrecadação da contribuição até a realização das despesas, deveriam ficar a cargo de uma mesma pessoa jurídica ou, ao menos, de um órgão autônomo.
Se o entendimento fosse seguido, o INSS, autarquia federal, deveria arrecadar, fiscalizar, administrar e aplicar as receitas das contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social, de forma que seria ilegítima sua cobrança pela Receita Federal do Brasil, órgão da União.
O Supremo Tribunal Federal, quando instado a se pronunciar sobre o assunto, firmou entendimento contrário a essa corrente doutrinária, conforme se pode verificar no excerto abaixo, extraído do voto (vencedor) do Ministro-Relator Moreira Alves, proferido no julgamento do RE 146.773-9:
“Para que fosse inconstitucional essa forma de arrecadação, necessário seria que a Constituição tivesse criado um sistema de seguridade social cuja realização, em todas as suas etapas, tivesse de ser da competência exclusiva de um órgão autônomo de seguridade social. E não é isso o que resulta dos textos constitucionais concernentes à seguridade social” (STF, Tribunal Pleno, RE 146.733-9/SP, Rel. Min. Moreira Alves, j. 29.06.1992, DJ 06.11.92, p. 00684).
Interessante ressaltar que, no acórdão atacado pelo RE 146.773, o juiz e famoso tributarista Hugo de Brito Machado, afirmara expressamente que “a ‘contribuição’ criada pela Lei 7.689/1988 não é uma contribuição para a seguridade social, posto que não se comporta no regime constitucional desta”. No entender dos que seguem essa corrente, em se criando, a título de contribuição para a seguridade social, um tributo cuja administração esteja afeta a órgão diferente da autarquia previdenciária, estar-se-ia criando um imposto. No caso específico da contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, a criação seria de um inconstitucional adicional de imposto de renda com receita vinculada.
O raciocínio não merece prosperar pelos motivos já aduzidos, que são sintetizados e reforçados pelas pedagógicas palavras do Ministro Carlos Velloso (RE 138.284-CE):
“o que importa perquirir não é o fato de a União arrecadar a contribuição, mas se o produto da arrecadação é destinado ao financiamento da seguridade social (CF, art. 195, I). A resposta está na própria Lei 7.689, de 15.12.88, que, no seu art. 1.º, dispõe expressamente que ‘fica instituída a contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada ao financiamento da seguridade social’. De modo que, se o produto da arrecadação for desviado de sua exata finalidade, estará sendo descumprida a lei, certo que, uma remota possibilidade de descumprimento da lei não seria capaz, evidentemente, de torná-la inconstitucional” (STF, Tribunal Pleno, RE 138.284/CE, Rel. Min. Carlos Velloso j. 01.07.1992, DJ 28.08.1992, p. 13.456).
A matéria é costumeiramente objeto de questionamento em concurso público, como demonstra o item seguinte (errado), extraído do certame para provimento do cargo de Procurador do INSS, realizado em 1996: “As contribuições devem ser arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Se, diversamente, a arrecadação for efetivada pela União, restará descaracterizada a natureza jurídica da contribuição, evidenciando, nessa hipótese, tratar-se de imposto”.
Apesar de a questão ser antiga, hoje a matéria volta a ganhar muita importância, pois a criação da Receita Federal do Brasil teve por consectário atribuir ao órgão da União a cobrança de todas as contribuições que outrora eram administradas pela autarquia previdenciária.
As contribuições sociais são a primeira das subespécies de contribuições especiais previstas no art. 149 da Constituição Federal. É terminologicamente incorreto utilizar a expressão “contribuições sociais” como gênero, pois elas são apenas a subespécie de contribuição especial utilizada pela União, quando esta quer conseguir recursos tributários para atuar na área social.
Segundo o entendimento esposado pelo STF (RE 138.284-8/CE), essa subespécie ainda está sujeita a mais uma divisão. Assim, tais contribuições podem ser classificadas como: a) contribuições de seguridade social (quando destinadas a custear os serviços relacionados à saúde, à previdência e à assistência social – vide CF, art. 194); b) outras contribuições sociais (as residuais previstas na CF, art. 195, § 4.º); ou c) contribuições sociais gerais (quando destinadas a algum outro tipo de atuação da União na área social).
Apesar de soar estranha a utilização de dois subitens denominados de maneira tão genérica (gerais e outras), segue-se aqui tal classificação, por ser a terminologia adotada pelo STF.
As contribuições sociais para o financiamento da seguridade social, apesar de previstas no citado art. 149 da CF/1988, encontram algumas regras bastante específicas no art. 195 da Magna Carta, dispositivo em que são relacionadas as bases econômicas sobre as quais podem incidir (fontes de financiamento). Contudo, além daquelas fontes, o § 4.º deste mesmo artigo permite que a União institua novas fontes destinadas à manutenção ou à expansão da seguridade social (classificadas pelo STF como “outras contribuições sociais”).
Relembre-se que o art. 154, I, autoriza que a União institua, mediante lei complementar, novos impostos, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição Federal.
Assim, é possível dizer que a União possui duas espécies de competência residual: a) para instituir novos impostos; e b) para instituir novas contribuições sociais de financiamento da seguridade social. Em ambos os casos, são necessárias a instituição via lei complementar, a obediência à técnica da não cumulatividade e a inovação quanto às bases de cálculo e fatos geradores.
Quanto ao último aspecto, o STF entende que a exigência de inovação só existe dentro da própria espécie tributária, ou seja, um novo imposto deve possuir base de cálculo e fato gerador diferentes daqueles que servem para incidência de impostos já existentes. Já uma nova contribuição só pode ser criada se o seu fato gerador e sua base de cálculo forem diferentes daqueles definidos para as contribuições já criadas. Percebe-se que, no entender do Tribunal, quando o § 4.º do art. 195 da CF exige, para a criação das contribuições residuais, obediência ao inciso I do art. 154 da mesma Carta, o cumprimento da exigência deve ser feito com as devidas adaptações.
Há quem afirme que a remissão ao art. 154, I, da CF/1988 teria sido feita apenas para exigir que a instituição da contribuição residual fosse veiculada em lei complementar. No entanto, se o legislador constituinte originário quisesse estatuir regra tão singela, teria optado por simplesmente exigir lei complementar de forma expressa no próprio art. 195, § 4.º, da Magna Carta, facilitando a tarefa do intérprete. Assim, a remissão foi feita para assemelhar a disciplina jurídica da criação dos impostos e contribuições residuais. A tese ora defendida tem sido seguida estritamente nas provas de concurso público, conforme pode ser exemplificado no seguinte item, considerado correto pelo CESPE, no concurso para provimento de cargos de Juiz Federal Substituto do TRF da 5.ª Região, cujas provas foram aplicadas em 2011: “As contribuições sociais residuais devem ser instituídas por lei complementar, ser não cumulativas e ter bases de cálculo e fatos geradores diferentes dos de outras contribuições sociais”.
A exigência de utilização de lei complementar só é aplicável para a criação de novas contribuições (não previstas expressamente na Constituição Federal de 1988). Para a criação daquelas cujas fontes já constam da Constituição, vale a regra geral: a utilização da lei ordinária. Esse entendimento é pacífico no STF.
Por bastante esclarecedor, transcreve-se o seguinte excerto de voto do Ministro Carlos Velloso:
“Todas as contribuições, sem exceção, sujeitam-se à lei complementar de normas gerais, assim ao CTN (art. 146, ex vi do disposto no art. 149). Isto não quer dizer que a instituição dessas contribuições exige lei complementar: por que não são impostos, não há exigência no sentido de que os seus fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes estejam definidos na lei complementar” (STF, Tribunal Pleno, RE 148.754/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 24.06.1993, DJ 04.03.1994).
Para que não haja confusões, deve-se ter em mente que a instituição de impostos dá-se, em regra, por meio de lei ordinária, apesar da necessidade de uma lei complementar definindo seus fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes (papel cumprido, na maioria dos casos, pelo próprio CTN).
Restringindo a análise às contribuições para o financiamento da seguridade social, é possível resumir esse ponto da seguinte forma: se a Constituição Federal já previu a base econômica sobre a qual vai incidir determinada contribuição, esta pode ser criada via lei ordinária; se não, a criação só pode ocorrer via lei complementar. O entendimento é frequentemente cobrado em provas, como se pode verificar na seguinte questão, extraída da prova do concurso para Procurador do INSS, elaborada pelo CESPE e aplicada em 1996: “A contribuição social que incida sobre o lucro deve ser instituída por meio de lei complementar, haja vista tratar-se de idêntica base de cálculo e mesmo fato gerador do Imposto de Renda”.
A assertiva é INCORRETA, uma vez que a contribuição social sobre o lucro encontra-se expressamente prevista no art. 195, I, c, da CF, o que torna possível a instituição/alteração por meio de lei ordinária ou até de medida provisória.
Afirmou-se, anteriormente, que as contribuições para o financiamento da seguridade social possuem algumas peculiaridades que as distanciam das demais contribuições sociais. Afora o fato de financiar atividades sociais diferentes, no tocante ao regime jurídico a que estão submetidas, a mais importante diferença é o fato de sua cobrança estar submetida a um prazo de noventa dias, contados da data em que for publicada a lei que as houver instituído ou aumentado (a Constituição Federal usa a expressão instituído ou modificado, mas o STF entende que não havendo “modificação substancial” da contribuição não é necessário respeitar o prazo). Esta questão é fundamental e será detalhada quando do estudo dos princípios da anterioridade – simples e nonagesimal. Por ora, guarde-se a informação: as contribuições de seguridade social obedecem à anterioridade nonagesimal (noventena), mas podem ser cobradas no mesmo exercício em que instituídas e majoradas, uma vez que o § 6.º do art. 195 da CF, ao estabelecer a regra, expressamente exclui tais contribuições da anterioridade prevista no art. 150, III, b, da CF.
Segundo o STF, são contribuições sociais gerais aquelas destinadas a outras atuações da União na área social como o salário-educação (CF, art. 212, § 5.º, com redação dada pela EC 53/2006).
Nesta subespécie, há também quem enquadre as contribuições para os Serviços Sociais Autônomos, previstas no art. 240 da CF. Contudo, tendo em vista as especificidades e controvérsias que gravitam em torno dessas contribuições, passa-se a analisá-las de forma mais detida.
Os chamados Serviços Sociais Autônomos (SESI, SESC, SENAI etc.) são pessoas jurídicas de direito privado, não integrantes da administração pública, mas que realizam atividades de interesse público e, justamente por isso, legitimam-se a ser destinatários do produto da arrecadação de contribuições, conforme previsão expressa do art. 240 da CF, nos termos abaixo transcritos:
“Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical”.
Tais contribuições, em virtude de possuírem base de cálculo idêntica à utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social, são normalmente cobradas em conjunto com estas, não obstante a diferença no tocante ao destino da arrecadação. Configuram mais um exemplo clássico de parafiscalidade.
Boa parte da doutrina entende que as contribuições para os serviços sociais autônomos são corporativas, o que teria como consequência imediata a impossibilidade de sua cobrança a instituições que não tenham por objeto social uma atividade enquadrada no âmbito de atuação do respectivo serviço social.
Assim, a título de exemplo, as contribuições destinadas ao Serviço Social do Comércio – SESC e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC somente poderiam ser cobradas de estabelecimentos estritamente comerciais. Seguindo uma interpretação exageradamente literal desta regra, muitos chegam a defender que os estabelecimentos prestadores de serviço, por não serem exatamente comerciantes, não estariam sujeitos ao tributo.
Além do apego à literalidade, tal raciocínio peca por ignorar os conceitos modernos de empresa e de atos de comércio, em que aquela abrange toda atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou para a prestação de serviços. Assim, nos atos de comércio também se enquadram os serviços, o que demanda uma análise mais cuidadosa da questão relativa aos contribuintes de SESC e SENAC.
Para entender a complexidade da questão, relembre-se que os industriais também praticam atos de comércio, mas não são sujeitos passivos das contribuições para o SESC e o SENAC, porque a atividade industrial possui serviços sociais autônomos específicos (SESI e SENAI), não sendo plausível invocar uma dupla filiação dos seus empregados.
Ao que parece, a solução da controvérsia passa pelo raciocínio de que a filiação a um serviço social custeado por contribuições dos empregadores é direito de todos os trabalhadores. Consequentemente, a restrição do conceito de uma atividade de forma a excluir os trabalhadores respectivos da lista dos beneficiários de determinado serviço social somente se justifica quando houver outro serviço, mais específico, a que tais agentes estejam vinculados.
Assim, SESC e SENAC são os mais abrangentes serviços sociais autônomos, dada a amplitude da expressão “atos de comércio”. Entretanto, como os empregados do setor industrial se filiam a instituições específicas (SENAI e SESI), acabam por não se filiarem àqueles. O mesmo se verifica com o setor de transporte, que, por possuir serviços sociais específicos (SEST e SENAT), também não está abrangido por SESC e SENAC (registre-se que, antes da criação dos serviços próprios, as empresas de transportes eram curiosamente enquadradas como sujeito passivo das contribuições para SENAI e SESI).
Não obstante, os empregados do setor de comércio que não se enquadrem em serviço social específico, acabam sendo beneficiários do SESC e SENAC, de forma que os respectivos empregadores são sujeitos passivos das contribuições que financiam tais instituições.
Seguindo exatamente essa linha de raciocínio, o STJ, julgando recurso representativo da controvérsia, afirmou, de maneira bastante didática que “os empregados das empresas prestadoras de serviços não podem ser excluídos dos benefícios sociais das entidades em questão (SESC e SENAC) quando inexistente entidade específica a amparar a categoria profissional a que pertencem. Na falta de entidade específica que forneça os mesmos benefícios sociais e para a qual sejam vertidas contribuições de mesma natureza e, em se tratando de empresa prestadora de serviços, há que se fazer o enquadramento correspondente à Confederação Nacional do Comércio – CNC, ainda que submetida a atividade respectiva a outra Confederação, incidindo as contribuições ao SESC e SENAC que se encarregarão de fornecer os benefícios sociais correspondentes” (REsp 1.255.433 – SE).
Não obstante tudo o que foi exposto, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de incluir as contribuições para os serviços sociais autônomos entre as “contribuições sociais gerais”.
A fundamentação do posicionamento é que, por visarem a benefícios às ordens social e econômica, os serviços sociais devem ser mantidos por toda a sociedade e não somente por determinadas corporações. Registre-se que o raciocínio parece bastante apropriado para o SEBRAE (um serviço que não abrange exclusivamente determinada categoria profissional ou econômica, pois as empresas beneficiárias da atuação do SEBRAE podem ser de diversos setores da economia), mas é bastante discutível no tocante a serviços voltados a setores específicos (indústria, comércio, transporte). Ao que parece, as contribuições relativas a esses casos seriam melhor enquadradas como corporativas.
Não obstante, a antiga decisão do STJ, apesar de concretamente analisar o caso do SEBRAE, foi redigida em termos exageradamente abrangentes, conforme se pode verificar do excerto abaixo transcrito (REsp 662.911/1.ª Turma):
“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AUTÔNOMA. ADICIONAL AO SEBRAE. EMPRESA DE GRANDE PORTE. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF.
1. As contribuições sociais, previstas no art. 240, da Constituição Federal, têm natureza de ‘contribuição social geral’ e não contribuição especial de interesses de categorias profissionais (STF, RE 138.284/CE), o que derrui o argumento de que somente estão obrigados ao pagamento de referidas exações os segmentos que recolhem os bônus dos serviços inerentes ao SEBRAE.
2. Deflui da ratio essendi da Constituição, na parte relativa ao incremento da ordem econômica e social, que esses serviços sociais devem ser mantidos ‘por toda a coletividade’ e demandam, a fortiori, fonte de custeio.
3. Precedentes: REsp 608.101/RJ, 2.ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ 24.08.2004, REsp 475.749/SC, 1.ª Turma, desta Relatoria, DJ 23.08.2004.
4. Recurso especial conhecido e provido” (STJ, 1.ª T., REsp 662.911, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.12.2004, DJ 28.02.2005, p. 241).
Fica bastante claro que ainda reina a controvérsia sobre a natureza jurídica das contribuições para os serviços sociais autônomos. Somente como mais um elemento a demonstrar o afirmado, registre-se que há até decisão do STF enquadrando a contribuição para o SEBRAE como “de intervenção no domínio econômico” e as demais como “gerais” (RE-AgR 404.919).
Em provas de concurso público, somente em questões subjetivas parece viável a cobrança de um posicionamento claro sobre a natureza das multicitadas contribuições, possibilitando-se ao candidato a adoção de qualquer posicionamento razoável desde que adequadamente fundamentado. Nas provas objetivas, o que pode ser objeto de abordagem é a parte mais prática e menos discutível do tema, como a obrigatoriedade dos prestadores de serviços recolherem contribuições para SENAC e SESC – caso não se enquadrem em atividade vinculada a Serviços específicos – ou a desnecessidade de o contribuinte auferir benefícios com a atuação do SEBRAE para que seja considerado devedor da respectiva contribuição. Como exemplo desta tendência, pode-se citar a seguinte assertiva, considerada incorreta pela ESAF no concurso para provimento de cargos de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com provas aplicadas em 2012: “No caso da contribuição devida ao SEBRAE, tendo em vista tratar-se de contribuição de intervenção no domínio econômico, o STF entende ser exigível a vinculação direta do contribuinte ou a possibilidade de que ele se beneficie com a aplicação dos recursos por ela arrecadados”.
Perceba-se que efetivamente há precedente do STF no sentido de que a contribuição para o SEBRAE é “de intervenção no domínio econômico” (RE-AgR 404.919). Não obstante, a assertiva é incontroversamente incorreta tendo em vista que o Supremo não exige vinculação direta do contribuinte ou que ele seja beneficiário da atuação do SEBRAE para que tenha a obrigação de recolher a respectiva contribuição (REsp 662.911/1.ª Turma).
A atribuição constitucional de competência para a criação das Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE encontra-se genericamente prevista no art. 149 da CF, conforme analisado anteriormente.
A competência é exclusiva da União, e seu exercício, por não estar sujeito a reserva de lei complementar, pode se dar na via da lei ordinária ou da medida provisória.
Como o próprio nome parece indicar, as CIDE são tributos extrafiscais. Essa conclusão decorre do fato de os tributos extrafiscais serem, por definição, exatamente aqueles cuja finalidade precípua não é arrecadar, carrear recursos para os cofres públicos, mas sim intervir numa situação social ou econômica.
As CIDE são, portanto, tributos criados com base no elemento teleológico ou finalístico, uma vez que, para serem consideradas legítimas, suas finalidades têm que ser compatíveis com as disposições constitucionais, principalmente com aquelas relativas à ordem econômica e financeira, que aparecem a partir do art. 170 da Carta Magna.
Apesar de também visarem à intervenção no domínio econômico, a técnica utilizada nas CIDE para a consecução desse desígnio tem sido, via de regra, um pouco diferente daquela vislumbrada nos exemplos estudados, quando se definiu extrafiscalidade. Neles, a intervenção se dava pela diminuição/aumento da carga tributária sobre a atividade cujo estímulo/desestímulo se desejava.
Assim, se, em determinado momento, era interesse do Estado aumentar a concorrência sobre a indústria nacional de bens de informática, uma das medidas possíveis seria a diminuição do imposto de importação incidente nas operações de aquisição destes bens no mercado externo. Já nas CIDE, a intervenção ocorre pela destinação do produto da arrecadação a uma determinada atividade, que, justamente por conta desse “reforço orçamentário”, tem-se por incentivada.
A título de exemplo, a Lei 10.168/2000 instituiu o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, “cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo” (art. 1.º). Registre-se que o desenvolvimento tecnológico é, como não podia deixar de ser, plenamente incentivado pela Constituição Federal, que, no seu art. 214, IV, deixa claro que o plano nacional de educação deve integrar ações governamentais conducentes à, entre outros objetivos, promoção científica e tecnológica do País.
Como forma de financiar o Programa, a própria Lei 10.168/2000 instituiu a CIDE-royalties, nos precisos termos de seu art. 2.º, abaixo transcrito:
“Art. 2.º Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior”.
A partir de 1.º de janeiro de 2002, por força do disposto no § 2.º do mesmo art. 2.º da Lei 10.168/2000, a contribuição teve sua incidência ampliada, passando a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título (mesmo sem transferência de tecnologia), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. São isentas da contribuição a remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, ressalvados os casos que envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
É fácil perceber que, no caso da CIDE-royalties, a “intervenção no domínio econômico” ocorre mediante a tributação de eventos que, de maneira bastante atécnica e simplificada, poderiam ser chamados de “importação de tecnologia” e, principalmente, pela destinação dos recursos arrecadados ao desenvolvimento de tecnologia no País. Não fosse pelo incremento de recursos oriundos da contribuição, tal setor da economia teria sua ampliação ou retração dependente apenas da “mão invisível do mercado”, de forma que os resultados obtidos não seriam os mesmos que aqueles atingidos quando a mão perfeitamente visível do Estado propicia um reforço de caixa para a atividade incentivada.
Esse entendimento fica ainda mais claro em face das disposições constantes do art. 4.º da mesma lei, abaixo transcrito:
“Art. 4.º A contribuição de que trata o art. 2.º será recolhida ao Tesouro Nacional e destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, criado pelo Decreto-lei 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei 8.172, de 18 de janeiro de 1991”.
A mesma linha de raciocínio pode ser adotada para a mais famosa das contribuições de intervenção no domínio econômico, a CIDE-combustíveis, a única com fatos geradores delineados na própria Constituição Federal. Nela, a intervenção também se concretiza pela destinação do produto da arrecadação a determinadas atividades. Por oportuno, transcreve-se o art. 177, § 4.º, da CF/1988, que disciplina a destinação dos recursos oriundos da contribuição:
“§ 4.º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos:
(…)
II – os recursos arrecadados serão destinados:
a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo;
b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás;
c) ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes”.
Registre-se que esse também tem sido o entendimento do STF (ver RREE 209.365-SP e 218.061-SP, ambos referentes ao Adicional de Tarifa Portuária, classificado como CIDE pelo Tribunal).
A União tem autonomia relativamente grande para instituir as CIDE, pois, desde que não se desvie do referido “elemento teleológico”, a liberdade para a criação das CIDE é bastante ampla. Isso se deve ao fato de a Constituição Federal de 1988 não ter explicitado quais as bases econômicas sobre as quais o tributo pode incidir. Confirmando a regra, a Emenda Constitucional 33/2001 trouxe uma importante exceção, ao delinear, na combinação entre os arts. 149, § 2.º, II, e 177, § 4.º, ambos da CF/1988, os fatos geradores que ensejariam a incidência da CIDE-combustíveis.
Mais recentemente, a EC 42/2003 ampliou bastante a previsão constitucional de incidência das CIDE nas operações de importação, uma vez que, originariamente, o inciso II do § 2.º do art. 149 da CF previa a cobrança do tributo apenas sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível. Atualmente, todavia, a previsão abrange a importação de produtos estrangeiros ou serviços, expressão muito mais abrangente.
Essas novidades não diminuem, contudo, a liberdade que possui a União para a criação de outras CIDE. Na realidade, para legitimar a cobrança da CIDE-combustíveis, não era necessário o delineamento material de sua hipótese de incidência no texto Constitucional. Todavia, foi necessário flexibilizar a imunidade que possuíam os combustíveis (a EC 33/2001 alterou o § 3.º do art. 155, restringindo à espécie impostos uma imunidade que era aplicável ao gênero tributos). Acredita-se que a alteração levou o legislador constituinte derivado a dar uma normatividade mais intensa à novel contribuição, como se isso tivesse o condão de afastar uma possível declaração de inconstitucionalidade fundamentada no fato de serem as limitações constitucionais ao poder de tributar – entre as quais estão as imunidades – garantias individuais do contribuinte, protegidas, portanto, por cláusula pétrea (CF, art. 60, § 4.º, IV).
São contribuições corporativas aquelas criadas pela União com o objetivo parafiscal de obter recursos destinados a financiar atividades de interesses de instituições representativas ou fiscalizatórias de categorias profissionais ou econômicas (corporações).
Os exemplos mais relevantes de tais contribuições são a contribuição sindical e a destinada ao custeio das entidades de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.
Ambas serão analisadas nos tópicos seguintes. Registre-se, contudo, a tendência de evolução na jurisprudência do STJ no sentido de passar a enquadrar como corporativas as contribuições para os serviços sociais autônomos, com a ressalva expressa para o caso daquela destinada ao financiamento do SEBRAE (ainda classificada como “geral”), conforme explanado no tópico 1.4.6.3 deste Capítulo.
A Constituição prevê, no seu art. 8.º, IV, a criação de duas contribuições sindicais, quais sejam:
a) a contribuição fixada pela assembleia-geral para o custeio do sistema confederativo do respectivo sindicato;
b) contribuição fixada em lei, cobrada de todos os trabalhadores.
A primeira é voluntária, só sendo paga pelos trabalhadores que se sindicalizaram. O entendimento é pacífico, já tendo sido, inclusive, objeto de Súmula do Supremo Tribunal Federal (Enunciado 666: “A Contribuição confederativa de que trata o art. 8.º, IV, da Constituição só é exigível dos filiados do sindicato respectivo”). A ausência de compulsoriedade aliada ao fato de a contribuição não ser criada por lei, denotam a ausência de natureza tributária da exação.
Já a segunda exação é, inequivocamente, um tributo, pois atende a todos os elementos constantes da definição de tributo (art. 3.º do CTN). Foi instituída por lei e é compulsória para todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do Sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou, inexistindo este, à Federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional (CLT, arts. 579 e 591).
Segundo o STJ, até mesmo os empregados públicos e servidores estatutários civis são obrigados a pagar a contribuição de natureza tributária. No entanto, não estão sujeitos ao Tributo os aposentados, tendo em vista a inexistência do vínculo funcional com a administração pública (REsp 1.225.944/RS).
Sobre a contribuição sindical rural e a possibilidade de sua cobrança pela Confederação Nacional de Agricultura – CNA, nos termos da Súmula 396 do STJ, aconselha-se a leitura do item 5.7.1 desta obra.
No seu art. 5.º, XIII, a CF declara livre o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão, mas prevê a possibilidade de a lei estabelecer as qualificações profissionais necessárias para o exercício de tal direito. Trata-se de norma constitucional de eficácia contida ou restringível, o que traz como consectário a possibilidade de que a lei, calcada no interesse público, restrinja legitimamente a amplitude de tal liberdade.
Com fundamento na autorização constitucional, foram criadas instituições descentralizadas que fiscalizam o exercício de determinadas profissões e atividades, além de representarem, coletiva ou individualmente, os interesses dos respectivos profissionais. A lei reputa essas atividades como de interesse público, o que legitima a possibilidade de o Estado instituir tributos cujo produto da arrecadação seja destinado a tais instituições.
Tem-se aqui uma típica utilização do tributo com finalidade parafiscal, uma vez que se está diante de um caso em que o Estado cria o tributo por lei e atribui o produto de sua arrecadação a uma terceira pessoa que realiza atividade de interesse público.
Exemplos dessas “terceiras pessoas” são os conselhos de fiscalização de profissões (CREA, CRC, CRM, CRECI, OAB), cuja natureza jurídica, bem como a das anuidades por eles cobradas, tem historicamente sido objeto de grandes controvérsias.
No que concerne à natureza jurídica das entidades, o primeiro ponto a ser destacado é que elas exercem atividade de polícia administrativa, uma vez que regulamentam e fiscalizam o exercício de profissões. Trata-se de atividade típica estatal, exercida sob claríssimo regime jurídico de direito público. Diante dessa realidade, a corrente doutrinária majoritária sempre defendeu que as referidas instituições eram verdadeiras autarquias corporativas e que as anuidades por elas cobradas enquadravam-se como tributos da espécie contribuições corporativas.
No âmbito do STF, tal doutrina foi expressamente adotada, conforme comprova o seguinte excerto (MS 28.469 AgR-segundo/DF):
“1. Os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquias, consoante decidido no MS 22.643, ocasião na qual restou consignado que: (i) estas entidades são criadas por lei, tendo personalidade jurídica de direito público com autonomia administrativa e financeira; (ii) exercem a atividade de fiscalização de exercício profissional que, como decorre do disposto nos artigos 5.º, XIII, 21, XXIV, é atividade tipicamente pública; (iii) têm o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União (art. 71, II, CRFB/88).
(...)
3. A fiscalização das profissões, por se tratar de uma atividade típica de Estado, que abrange o poder de polícia, de tributar e de punir, não pode ser delegada (ADI 1.717), excetuando-se a Ordem dos Advogados do Brasil (ADI 3.026)”.
A ressalva concernente à OAB decorre do fato de a instituição não restringir suas atividades à defesa de interesses corporativos. Para o STF, além de “promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil” (interesse corporativo previsto pela Lei 8.904/1996, art. 44, II), a OAB tem a atribuição não corporativa de “defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas” (Lei 8.904/1996, art. 44, I).
Nesse sentido, a Suprema Corte deixa clara a distinção entre a OAB e os conselhos de fiscalização de profissão no seguinte excerto, extraído do Acórdão proferido na ADI 3.026/DF (julgada em 08.06.2006):
“(...) 3. A OAB não é uma entidade da Administração Indireta da União. A Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. 4. A OAB não está incluída na categoria na qual se inserem essas que se tem referido como ‘autarquias especiais’ para pretender-se afirmar equivocada independência das hoje chamadas ‘agências’. 5. Por não consubstanciar uma entidade da Administração Indireta, a OAB não está sujeita a controle da Administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Essa não vinculação é formal e materialmente necessária. (...)” (STF, Tribunal Pleno, ADI 3.026/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 08.06.2006, DJ 29.09.2006).
A distinção da natureza jurídica das citadas entidades tem levado a um diferenciado enquadramento jurisprudencial das respectivas contribuições. Assim, conforme preconizado pela citada corrente doutrinária majoritária, tem-se entendido que as anuidades cobradas pelos conselhos de fiscalização de profissão (novamente excluída a OAB) são verdadeiras contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas (RE 138.284/CE), dada a destinação dos seus recursos exclusivamente para atividades de interesses corporativos, concernentes à fiscalização do exercício da profissão e à representação dos respectivos profissionais.
Novamente há se repisar a situação específica da OAB. Nos julgados mais recentes o STF pacificou o entendimento de que a instituição tem natureza jurídica sui generis de serviço público independente, mas não enquadrado no conceito de autarquia, o que impediria a sua caracterização como Fazenda Pública e, por conseguinte, a inclusão das anuidades cobradas no regime jurídico tributário. O principal efeito prático da decisão é que a cobrança das anuidades segue o regime do Código de Processo Civil, e não o da Lei das Execuções Fiscais. Registre-se que o STJ ainda afirma ter a OAB natureza de autarquia, mas não a caracteriza como Fazenda Pública, o que também leva ao entendimento pela natureza não tributária das anuidades (REsp 541.504/SC).
Os fundamentos da decisão carecem de maior aprofundamento técnico, pois o enquadramento ou não de determinada exação como tributo deveria ser feito mediante a comparação de seus elementos essenciais com os elementos da definição de tributo, constante do art. 3.º do Código Tributário Nacional. As questões relativas ao sujeito ativo competente para cobrança devem ser analisadas sob a ótica dos arts. 7.º e 119 do CTN, o que não deveria repercutir na análise da natureza jurídica da exação.
Não obstante o raciocínio, para efeito de provas de concurso público, o posicionamento mais seguro é realmente considerar que anuidades pagas aos conselhos de fiscalização de profissões são tributos da espécie “contribuições corporativas”, salvo as anuidades pagas à OAB que não possuem natureza jurídica tributária, sendo exação sui generis, assim como é sui generis a entidade que as cobra.
Conforme já estudado, é assente no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o serviço de iluminação pública não atende aos requisitos de especificidade e divisibilidade, necessários à possibilidade de financiamento mediante a instituição de taxa. Recorde-se que o entendimento foi cristalizado no Enunciado 670 da Súmula de jurisprudência da Corte, afirmando que “o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa”.
A solução, no tocante ao financiamento do serviço, também ficou clara nos julgados que deram origem à Súmula. Sendo um serviço uti universi, prestado a beneficiários não identificados e não identificáveis, deveria ser remunerado pelos impostos, tributos que não podem ter sua arrecadação vinculada a qualquer despesa, ressalvadas as exceções expressamente previstas no texto da Constituição Federal.
O grande problema era o argumento econômico, sempre subjacente às discussões relativas à matéria tributária. Os Prefeitos alegavam a penúria dos cofres públicos municipais. Afirmavam que os Municípios não tinham condições de utilizar uma parcela relevante da limitada arrecadação oriunda de impostos próprios (CF, art. 156) e de transferências constitucionais de impostos alheios (CF, arts. 158 e 159, I, b) para o custeio do serviço de iluminação pública. Na visão dos edis, para o Município, o valor era muito elevado, mas, se fosse dividido por toda a população, tornar-se-ia bastante razoável.
Dados os fins – transferir para os munícipes, mediante tributo específico, o custeio do serviço de iluminação pública –, restava a viabilização jurídica – meios – para a solução do problema.
Assim, para fugir às restrições a que o art. 145, II, da CF/1988 submete as taxas, foi editada a Emenda Constitucional 39/2002.
A notória manobra levada a cabo pelo legislador constituinte derivado foi percebida e rechaçada pela doutrina. Hugo de Brito Machado, em artigo publicado em seu site na internet, afirma, de maneira contundente, que “a própria emenda constitucional pode ser considerada inconstitucional na medida em que tende a abolir direitos fundamentais dos contribuintes, entre os quais o de serem tributados dentro dos limites que o Sistema Tributário Nacional estabeleceu. E a lei municipal que institui uma contribuição simplesmente mudando o nome da antiga taxa é de inconstitucionalidade flagrante, na medida em que ignora as características da contribuição como espécie de tributo” (Estudos Doutrinários, Contribuição de Iluminação Pública. Disponível em: <www.hugomachado.adv.br>. Acesso em: 26 jan 2003).
Todavia, em virtude da inexistência de declaração de inconstitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal e da presunção de constitucionalidade das normas editadas pelo parlamento (diretrizes a serem sempre observadas em provas de concurso público), passa-se a analisar o art. 149-A da CF, abaixo transcrito:
“Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III.
Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica”.
A competência constitucional foi deferida aos Municípios e ao Distrito Federal (por não ser dividido em Municípios), que podem exercê-la por intermédio de lei própria, definindo com determinado grau de liberdade seu fato gerador, base de cálculo, alíquotas e contribuintes.
Como não se trata formalmente de um imposto, não é necessária lei de caráter nacional para definir fato gerador, base de cálculo e contribuintes (CF, art. 146, III, a). Esse, aliás, é mais um dos problemas advindos da EC 39/2002, pois abre espaço para despautérios ainda maiores que a própria Emenda.
O dispositivo constitucional deixa claro que a arrecadação da contribuição é vinculada ao custeio do serviço de iluminação pública, sendo, portanto, ilegítima qualquer espécie de tredestinação.
A título de exemplo, o Município de São Paulo, no parágrafo único do art. 1.º da sua Lei 13.479, de 30 de dezembro de 2002, previu que o serviço custeado compreenderia a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública, além de outras atividades a estas correlatas.
Pairam fortes indícios de inconstitucionalidade sobre a lei paulistana, especificamente no que concerne à possibilidade de utilização dos recursos advindos da COSIP para instalação, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública, pois o legislador constituinte, ao se referir ao custeio de um serviço, usou a palavra no corriqueiro sentido de que a legislação financeira tem dado ao vocábulo, qual seja, o sentido de manter, financiar um serviço já existente.
Nessa linha, o § 1.º do art. 12 da Lei Federal 4.320/1964 classifica como Despesa de Custeio “as dotações para a manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis”.
Assim, afigura-se manifestamente inconstitucional a utilização dos recursos provenientes da COSIP para instalar, melhorar ou expandir o serviço existente, sendo legítima a cobrança apenas como uma espécie de contrapartida ao serviço efetivamente prestado.
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, ganha destaque julgamento plenário realizado em 25.03.2009, em que foram definidos importantíssimos aspectos relativos ao tributo (Pleno, RE 573.675-SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.03.2009, DJe 22.05.2009).
O caso concreto submetido à Corte era relativo à contribuição de iluminação pública criada pelo Município de São José – SC. A lei institutiva do tributo (Lei Complementar Municipal 7/2002) definia como contribuintes os consumidores residenciais e não residenciais de energia elétrica. O valor a ser pago pelo contribuinte era calculado mediante o rateio do custo do serviço entre os contribuintes, de acordo com os níveis individuais de consumo mensal de energia elétrica, seguindo-se tabelas progressivas (quanto maior o consumo, maiores as alíquotas) constantes da própria lei (art. 2.º).
Neste ponto surge uma importante discussão. Qual a correlação entre o consumo individual de energia elétrica e o valor que o consumidor verterá aos cofres públicos para contribuir com o serviço de iluminação pública?
Imagine-se, a título de exemplo, que determinado proprietário de imóvel está estudando para concurso público e cancela as saídas à noite com os amigos, permanece mais em casa, utiliza mais o computador, o condicionador de ar e os demais eletrodomésticos. É justo que ele seja obrigado a recolher um valor maior a título de contribuição, precisamente nos meses em que mais permaneceu em casa e menos “usou” individualmente do serviço de iluminação pública?
Para o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (recorrente) a situação configuraria agressão: a) ao princípio da igualdade, pois não apenas os consumidores de energia se beneficiavam do serviço de iluminação pública; e b) aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, pois os munícipes estariam vertendo contribuições diferenciadas – e, portanto, sendo discriminados – com base em um critério desarrazoado.
Com relação ao primeiro argumento, o Supremo entendeu que seria impossível identificar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública, para deles exigir uma contribuição. Relembrou que na própria regra constitucional que prevê a cobrança do tributo, é possibilitada a cobrança do tributo na fatura de consumo de energia elétrica, deixando implícito que os contribuintes seriam as pessoas físicas e jurídicas consumidoras.
Quanto à sistemática de cálculo, entendeu-se que a progressividade atendia ao princípio da isonomia e da capacidade contributiva, pois, usando as palavras do Ministro Relator Ricardo Lewandowski, “é lícito supor que quem tem um consumo maior tem condições de pagar mais”.
Um outro aspecto por demais relevante é a própria natureza jurídica do novo tributo, o que também foi discutido e pacificado no mesmo processo.
Para alguns, trata-se de um novo nome dado à inconstitucional taxa de iluminação pública, nos termos explicados anteriormente. Tal argumento, no entanto, contrasta com o fato de o legislador constituinte derivado ter incluído na Magna Carta um novo artigo (149-A) atribuindo aos Municípios e ao DF a competência para a criação de um novo tributo, não se podendo presumir que foi editada uma Emenda à Constituição para “incluir” no texto constitucional o que lá já estava presente.
Há também quem afirme que a contribuição de iluminação pública instituída nos moldes previstos pelo Município de São José – SC configuraria verdadeiro imposto, pois sendo o quantum devido calculado em face do consumo individual de energia elétrica, o fato gerador seria tal consumo, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, de forma a se enquadrar com absoluta precisão na definição legal de imposto, constante no art. 16 do CTN.
Não obstante as críticas apresentadas, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a contribuição de iluminação pública é um tributo sui generis, com peculiaridades próprias que o individualizam. Nas palavras da Corte, o tributo não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.
Ao que parece, o Supremo inverteu a ordem natural da análise. O mais adequado seria definir a natureza jurídica com base nos parâmetros legais e constitucionais já analisados nesta obra (item 1.4.1) e, a partir dessa definição, verificar se estão sendo observadas as diretrizes e restrições que informam aquela espécie tributária.
De maneira mais clara, se de acordo com os parâmetros constitucionais e legais um tributo é uma taxa de serviço, há de se exigir que o serviço remunerado seja específico e divisível, de forma que o tributo corresponda a uma “contraprestação individualizada”. Assim, se o tributo remunera um serviço, sem que haja contraprestação individualizada, aparentemente trata-se de uma taxa inconstitucional, não parecendo correto concluir que “não se trata de taxa”. Da mesma forma, se um tributo é um imposto, não pode ter sua receita vinculada a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas as exceções previstas no art. 167, IV, da CF/1988. Ao que parece, havendo vinculação fora das exceções, há imposto inconstitucional, não se devendo concluir simplesmente que “não se trata de imposto”.
Teria sido mais aceitável afirmar que a contribuição de iluminação pública é um tributo submetido a um regime jurídico totalmente diferenciado dos existentes até o advento da EC 39/2002. No entanto, tendo o Tribunal preferido analisar a matéria da maneira já explicada, torna-se de extrema importância, principalmente aos potenciais candidatos a cargos públicos, conhecer os exatos termos do histórico julgado, cuja ementa, verdadeiro resumo do pensamento da Corte, é transcrita abaixo:
“Constitucional. Tributário. RE interposto contra decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade estadual. Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública – COSIP. Art. 149-A da Constituição Federal. Lei Complementar 7/2002, do Município de São José, Santa Catarina. Cobrança realizada na fatura de energia elétrica. Universo de contribuintes que não coincide com o de beneficiários do serviço. Base de cálculo que leva em consideração o custo da iluminação pública e o consumo de energia. Progressividade da alíquota que expressa o rateio das despesas incorridas pelo município. Ofensa aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva. Inocorrência. Exação que respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso extraordinário improvido.
I – Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.
II – A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva.
III – Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.
IV – Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V – Recurso extraordinário conhecido e improvido” (Pleno, RE 573.675-SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.03.2009, DJe 22.05.2009).
A doutrina tem proposto diversas classificações para os tributos, levando em conta as peculiaridades de cada espécie considerada isoladamente em comparação com as demais.
São classificações que ajudam a melhor entender o regime jurídico a que estão submetidos os tributos, principalmente nos casos em que o próprio legislador se inspira na classificação doutrinária para restringir o alcance de determinada regra apenas a determinada espécie de tributo.
Algumas das classificações serão ou já foram analisadas em pontos específicos desta obra. Entretanto, para uma melhor sistematização e com o objetivo de facilitar a consulta, passa-se a uma síntese neste ponto do curso.
A questão aqui se relaciona à atribuição constitucional de competência para a instituição do tributo, independentemente de o produto da arrecadação estar sujeito ou não à repartição (discriminação da renda por produto). Assim, o IPVA é imposto estadual, apesar de pertencerem aos Municípios 50% do valor arrecadado relativo aos veículos automotores licenciados no seu território (CF, art. 158, III).
Ressalte-se que a competência do Distrito Federal é cumulativa, pois acumula os tributos estaduais e municipais, assim como a União, além dos tributos federais, acumula, nos Territórios, os tributos estaduais (sempre) e municipais (caso não haja divisão do Território em Municípios), tudo em consonância com o art. 147 da CF/1988.
São tributos privativos aqueles em que a Constituição Federal defere a determinado ente político competência exclusiva para sua instituição, não sendo possível delegação, quer expressa, quer tácita.
São os casos dos impostos (federais, estaduais, municipais e distritais), dos empréstimos compulsórios (federais), das contribuições especiais (federais, ressalvada a previdenciária cobrada dos servidores públicos estaduais, municipais e distritais, que são privativas de tais entes) e da contribuição de iluminação pública (municipal e distrital).
São comuns os tributos cuja competência para instituição é deferida pela Constituição Federal indiscriminadamente a todos os entes políticos.
São os casos dos tributos constitucionalmente definidos como contraprestacionais (taxas e contribuições de melhoria), que devem ser instituídos por quem exerça a atividade estatal que justifica a cobrança (serviço específico e divisível, ou exercício do poder de polícia, nas taxas; obra pública da qual decorra valorização imobiliária, nas contribuições de melhoria).
São residuais os novos impostos (CF, art. 154, I) e as novas contribuições sociais para seguridade social (CF, art. 195, § 4.º) que porventura sejam criadas pela União.
A matéria será minudenciada no capítulo relativo às competências tributárias.
O tributo possui finalidade fiscal quando visa precipuamente a arrecadar, carrear recursos para os cofres públicos. São os casos do ISS, do ICMS, do IR e de diversos outros.
O tributo possui finalidade extrafiscal quando objetiva fundamentalmente intervir numa situação social ou econômica. São os casos, entre outros, dos impostos de importação e exportação, que, antes de arrecadar, objetivam o controle do comércio internacional brasileiro, podendo, às vezes, servir de barreira protetiva da economia nacional e outras de estímulo à importação ou exportação de determinada espécie de bem.
O tributo possui finalidade parafiscal quando a lei tributária nomeia sujeito ativo diverso da pessoa que a expediu, atribuindo-lhe a disponibilidade dos recursos arrecadados para o implemento de seus objetivos. Como exemplo, podem ser citadas as contribuições previdenciárias que, antes da criação da Secretaria da Receita Previdenciária, eram cobradas pelo INSS (autarquia federal), que passava a ter, também, a disponibilidade dos recursos auferidos. Tem-se aí a finalidade parafiscal da tributação.
São vinculados os tributos cujo fato gerador seja um “fato do Estado”, de forma que, para justificar a cobrança, o sujeito ativo precisa realizar uma atividade específica relativa ao sujeito passivo. São vinculadas, portanto, as taxas e contribuições de melhoria. Nestas, o sujeito ativo precisa realizar uma obra da qual decorra valorização em imóvel dos sujeitos passivos; naquelas é necessária a prestação de um serviço público específico e divisível ou o exercício do poder de polícia.
São não vinculados os tributos que têm por fato gerador um “fato do contribuinte”, não sendo necessário que o Estado desempenhe qualquer atividade específica voltada para o sujeito passivo para legitimar a cobrança. Todos os impostos são não vinculados, uma vez que seus fatos geradores são manifestações de riqueza dos contribuintes (renda, patrimônio, consumo) independentes de atividade estatal.
Alguns autores preferem denominar os tributos vinculados de retributivos, vendo nos mesmos uma contraprestação a uma benesse estatal. Para tais autores os tributos não vinculados seriam mais bem denominados como contributivos, porque, não havendo atividade estatal, o contribuinte apenas estaria se solidarizando, mesmo que forçadamente, aos fins do Estado.
Não há definição constitucional ou legal que imponha que os fatos geradores dos empréstimos compulsórios ou das contribuições especiais sejam vinculados ou não vinculados. Assim, deve-se analisar cada tributo criado individualmente. Na prática, como é mais cômodo para o Estado cobrar o tributo sem necessitar de alguma atividade relativa ao contribuinte, nos casos de criação de tais tributos, os mesmos foram instituídos como não vinculados.
O primeiro ponto importante é não confundir esta classificação com a anterior (quanto ao fato gerador). Lá, o divisor de águas é se a situação definida em lei como necessária e suficiente para o surgimento da obrigação de pagar tributo é uma atividade do Estado ou um fato do contribuinte. Aqui, a preocupação é com a liberdade que o Estado possui para definir a aplicação do produto da arrecadação.
São tributos de arrecadação vinculada aqueles em que a receita obtida deve ser destinada exclusivamente a determinadas atividades.
As contribuições sociais para financiamento da seguridade social (COFINS, CSLL), como a própria denominação deixa entrever, têm suas receitas vinculadas às despesas com a seguridade social, sendo, portanto, tributos de arrecadação vinculada. O mesmo raciocínio vale para os empréstimos compulsórios, por força do parágrafo único do art. 148 da CF/1988.
Nos tributos de arrecadação não vinculada, o Estado tem liberdade para aplicar suas receitas em qualquer despesa autorizada no orçamento. O caso típico é o dos impostos, que, por disposição constitucional expressa, estão proibidos de ter suas receitas vinculadas a órgãos, fundos ou despesas, ressalvadas as exceções previstas no próprio texto constitucional (CF, art. 167, IV).
As taxas e contribuições de melhoria são tributos de arrecadação não vinculada, salvo as custas e emolumentos (taxas judiciárias, segundo o STF), uma vez que a EC 45/2004 introduziu um § 2.º ao art. 98 da CF/1988 estipulando que “as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça”.
São indiretos os tributos que, em virtude de sua configuração jurídica, permitem translação do seu encargo econômico-financeiro para uma pessoa diferente daquela definida em lei como sujeito passivo.
A definição aqui exposta inclui apenas os tributos que já foram tecnicamente concebidos como aptos à transferência do encargo, visto que sob o ponto de vista econômico a translação se verifica em praticamente todo tributo.
São diretos os tributos que não permitem tal translação, de forma que a pessoa definida em lei como sujeito passivo é a mesma que sofre o impacto econômico-financeiro do tributo.
Dois exemplos ajudam a esclarecer as hipóteses.
O ICMS é um tributo cujas configurações constitucional e legal estabelecem que a pessoa nomeada contribuinte (o comerciante) repassa para uma outra (o consumidor) o ônus econômico do tributo. São claras as presenças do contribuinte de direito (o comerciante) e o de fato (o consumidor), de forma que este sofre o impacto do tributo – que tem seu valor oficialmente embutido no preço pago –, enquanto aquele faz o recolhimento do valor recebido aos cofres públicos. O tributo é indireto.
No caso do imposto de renda, não há previsão de transferência oficial do encargo para os consumidores. A pessoa que obtém a renda é que teoricamente sofre o respectivo ônus. Na prática, entretanto, a empresa beneficiada pelo rendimento acaba repassando o valor do tributo a ser pago para o preço dos bens ou serviços que vende. Há a repercussão econômica do tributo, mas não o que se poderia chamar de repercussão jurídica, somente verificada nos casos em que há previsão normativa da oficial transferência do encargo. O tributo é considerado direto.
Os economistas, baseados na indiscutível tese de que praticamente todo tributo tem a possibilidade de ter seu encargo econômico repassado para o consumidor de bens e serviços, afirmam que a classificação dos tributos como diretos ou indiretos é irrelevante. Não obstante tal entendimento, existe uma profunda relevância jurídica na classificação quando se comparam as regras relativas à restituição de tributo direto com aquelas referentes aos tributos indiretos. Ademais, a inaplicabilidade de critérios econômicos para qualificação de um tributo como direto ou indireto é ponto pacífico da Jurisprudência do STJ (REsp 118.488).
São reais os tributos que, em sua incidência, não levam em consideração aspectos pessoais, subjetivos. Eles incidem objetivamente sobre coisas. A título de exemplo, se “A” e “B” possuem veículos idênticos, devem pagar o mesmo valor de IPVA, independentemente das respectivas características pessoais, pois o imposto somente leva em consideração a coisa e não a pessoa.
Em contrapartida, são pessoais os tributos que incidem de forma subjetiva, considerando os aspectos pessoais do contribuinte. Nessa linha de raciocínio, o imposto de renda é pessoal, pois sua incidência leva em consideração características pessoais do sujeito passivo, como a quantidade de dependentes, e os gastos com saúde, educação, previdência social etc.
De acordo com as tradicionais bases econômicas de incidência, os impostos podem ser:
a) sobre o comércio exterior: II e IE;
b) sobre o patrimônio ou a renda: IR, ITR, IGF, IPVA, ITCMD, IPTU e ITBI;
c) sobre a produção ou circulação: IPI, ICMS, IOF e ISS;
d) impostos extraordinários: IEG.
A classificação foi retirada do CTN e adaptada à atual nomenclatura dos impostos, excluindo-se o que já foi revogado do ordenamento jurídico.
Por fim, consoante será detalhado em momento oportuno, nos vários casos em que a Constituição Federal imuniza “patrimônio, renda e serviços” de determinadas entidades, não se pode fazer cega utilização da classificação do CTN para restringir a imunidade.
A título de exemplo, a operação de importação de um bem está sujeita à incidência do II (imposto sobre comércio exterior), do IPI e do ICMS (impostos sobre produção e circulação). Apesar de o CTN não incluir tais tributos entre aqueles incidentes sobre o patrimônio, não se pode negar que incidem sobre o bem importado, ou que o patrimônio é composto por um conjunto de bens. Na esteira desse entendimento, o STF entende que, em certas situações, tributos que o CTN não inclui entre aqueles “sobre o patrimônio” podem ter sua incidência obstada pelas citadas imunidades, visto que não se pode adotar classificações infraconstitucionais como meio de restringir a plena aplicabilidade da Constituição Federal (RE 203.755).
Em suma, as classificações estudadas podem ser resumidas da seguinte forma:2
1 O montante de R$ 20.000,00 equivale à valorização do imóvel considerado (II); o de R$ 270.000,00, à soma das valorizações dos imóveis beneficiados (20 mil + 45 mil + 80 mil + 125 mil).
2 Alguns autores sustentam a preponderância da finalidade fiscal do IPI.