Sergio Y.
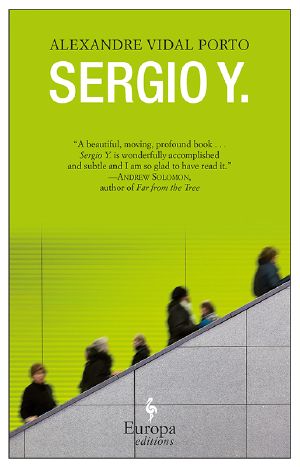
- Authors
- Porto, Alexandre Vidal & Alex Ladd
- Publisher
- Europa Editions
- ISBN
- 9781609453299
- Date
- 2013-01-01T00:00:00+00:00
- Size
- 0.88 MB
- Lang
- en
Trecho:
Como falarei da vida alheia, é justo que também fale da minha.
Meu nome é Armando. No mês passado, completei 70 anos. Em geral, pensam que eu sou mais velho. Durante toda a minha vida foi assim. É o que espero quando conheço alguém. Aparento ter mais idade do que tenho. Mas essa velhice aparente precoce é comum entre os psiquiatras. Absorvemos os problemas dos pacientes. Envelhecemos por eles.
Sou um dos melhores médicos desta cidade. Sei que soa imodesto apresentar-me nesses termos, mas é como se referem a mim quando comentam o meu trabalho. Orgulho-me do reconhecimento que me concedem. Sou vaidoso, mas isso não me incomoda. Sempre achei a modéstia uma qualidade superestimada.
Tenho consciência de que a vaidade pode ser traiçoeira. Acho, porém, que, na minha vida, ela desempenhou um papel construtivo. A vaidade impediu que eu admitisse grandes alterações no ritmo natural de minhas vontades. Como profissional, escolhi não fazer concessões. Explorei minha especialidade como quis. Podia não ter dado certo. Mas, felizmente, deu.
Meu pai também foi médico. Quando eu era criança, gostava de vê-lo entrar no carro de manhã para ir ao hospital. Na minha concepção infantil, saber que ele era médico eliminava qualquer possibilidade de morte ou de dor, para mim ou para a minha família. Dava-me segurança. Quando encontrávamos pessoas que o conheciam, me orgulhava do respeito e da deferência com que o tratavam.
Queria ser médico como ele. Cresci idolatrando-o. Meu pai morreu em um acidente de trânsito estúpido, aos 48 anos de idade. Eu tinha acabado de completar 16. Depois de sua morte, minha convicção de querer ser médico tornou-se mais firme e mais profunda.
Foi o que eu fiz.
Em 1967, formei-me na quinquagésima turma da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Desde o primeiro ano, fui o melhor aluno de minha classe. Fiz residência médica nos Estados Unidos e voltei ao Brasil para fazer meu doutoramento. Depois disso, prestei concurso para docência. Comecei como Professor-Associado de Psicologia Médica. Aposentei-me como Professor Catedrático de Psiquiatria.
Além dos compromissos acadêmicos, mantive sempre um número variável de pacientes em psicoterapia. Ao longo de minha carreira, obtive bons resultados. Acho que ajudei alguma gente.
Meu pai, Miguel, foi o primeiro namorado de minha mãe, Ondina. Ela enviuvou aos 45 anos e não voltou a se casar. Morreu com um ano a menos que a idade que eu tenho hoje. Do tempo em que ficou viúva até a minha formatura na faculdade, não houve um dia em que tenha deixado de ver as irmãs, Alba e Yeda, que moravam juntas em uma casa antiga no bairro de Moema.
Às onze e trinta da manhã, Seu Joel, o motorista, a levava à casa de minhas tias na Alameda Jauaperi. Almoçavam juntas as três. Depois, sentavam-se no sofá, em frente à televisão. Tomavam uma xícara de café e assistiam ao Jornal Hoje e ao filme da Sessão da Tarde, qualquer que fosse, diariamente.
Por volta das quatro e meia, Dona Maria José, a empregada, lhes servia mais café, com uma fatia de bolo, biscoitos ou o que houvesse de gostoso na cozinha. Às vezes, em lugar de ficarem em casa, saíam para o shopping center ou para alguma consulta médica. Seu Joel as levava. Sentavam-se juntas no banco de trás do carro.
Quando fui para Nova York fazer residência, minha mãe se mudou temporariamente para a casa das irmãs. Nunca mais saiu de lá. Ondina, Alba e Yeda viveram juntas na Alameda Jauaperi até morrerem.
Foram-se como aves, no espaço de dez meses. A primeira a falecer foi Alba, atropelada por um motoboy enquanto tentava pegar um táxi na saída da agência bancária onde recebia sua aposentadoria. Morreu em janeiro. A segunda foi minha mãe, que havia sido diagnosticada com câncer no pâncreas no final do ano anterior. Partiu em maio. Yeda foi a última. Sofreu um derrame durante a noite e jamais acordou para ver o dia 19 de agosto.
Eu também sou viúvo. Minha mulher, Heloísa, morreu faz quase sete anos. Depois de sua morte, o que eu senti de mais concreto foi alívio. Doía vê-la definhando, aos poucos, no hospital. Para me proteger da dor, cerca de um mês antes de sua morte real, desenganei-a dentro de mim. Matei-a antes que ela morresse. Mas estive ao seu lado todo o tempo, até que seu coração finalmente parasse de bater.
Hoje, já superei a perda de Heloísa. Levo uma vida normal e satisfatória. Não me sinto sozinho. Mas falar do meu estado de viuvez ainda me incomoda. Não porque isso me sensibilize ou cause tristeza. É justamente o contrário. Acho que deveria me sensibilizar mais do que me sensibilizo. É isso o que me perturba.
Tive um casamento feliz que durou trinta e sete anos. O casamento continua a ser feliz na foto sobre a cômoda no quarto que dividíamos. A existência da minha mulher nos limites daquele porta-retrato me basta. Não preciso de mais.
Posso parecer frio, desprezível até, mas exponho meus sentimentos dessa forma para reforçar minha alegação de sinceridade e boa fé ao escrever este relato.
Heloísa e eu tivemos uma única filha, Mariana, que é adulta e vive em Chicago. Casou-se com um americano que conheceu quando fazia mestrado. Ainda não tenho netos.
Desde que Mariana saiu de casa para estudar fora, quatro anos depois que a mãe morreu, vivo sozinho em um apartamento de quatro quartos na rua Ceará, em Higienópolis, na cidade de São Paulo, no mesmo lugar em que, outrora, morávamos os três.
Com minhas obrigações conjugais terminadas e as paternais arrefecidas, os pacientes passaram a ocupar um espaço maior na minha vida. Hoje, não sei o que faria sem eles. Se eles todos desaparecessem, dizimados por alguma praga, digamos, provavelmente arranjaria coisas para fazer. Não morreria de tédio. Mas a verdade é que preciso definir o que farei quando já não tenha a quem tratar.
O mais natural seria que me mudasse para a casa da praia, que é onde a maior parte dos meus livros está. No entanto, sei que, enquanto tiver pacientes em São Paulo, ficarei por aqui, porque nada na vida me dará mais prazer. Quando minha mãe se queixava de que meu pai atendia a gente demais, ele respondia: “Médico sem paciente é ninguém.” Eu concordo com ele.
É nos pacientes que encontro a matéria-prima da minha realização no mundo. Cuido-os da melhor maneira possível. Envolvo-me com seus casos. Por cada um deles, leio, reflito, dou de mim. Procuro entender o que os aflige. Pondero longamente. Sou meticuloso. Demoro a tirar conclusões.
Se eu permitisse, minha vida seria invadida e tomada por questões pessoais que não me pertencem. E eu pareceria ainda mais velho do que já pareço. Para me preservar, tenho hoje apenas cinco pacientes. Atendo a cada um em um dia da semana, de segunda a sexta. Assim, organizo o meu tempo de forma mais produtiva.
Como terapeuta, costumava tomar notas minuciosas de cada uma das sessões que fazia. Porém, desde que diagnosticaram um início de artrite na minha mão direita, esse hábito mudou. No Natal de 2003, ganhei da minha filha um gravador digital, desses que não precisam de fitas. Depois disso, comecei a fazer apenas anotações genéricas e a gravar discretamente as sessões, para posterior consulta.
Passei a reescrever minhas notas com tranquilidade, depois das sessões. Essa mudança deu mais consistência ao meu trabalho analítico. Podia repetir a gravação quantas vezes quisesse. Podia escutar as pausas, os silêncios, perceber as mudanças de ritmo na respiração. Ganhei elementos de análise que o método anterior de anotação não conseguia me dar.
Todas as vezes em que um caso clínico deixou de instigar meu interesse, procurei dispensá-lo o quanto antes. Sempre que fiz isso, a lógica a que obedeci foi mais ou menos a seguinte: não quero dedicar meu tempo a este paciente, portanto ele não precisa de mim. Estará melhor em outras mãos.
Houve vezes, no entanto, em que o caso clínico que tinha diante de mim me interessava de forma genuína, e eu, por razões que fugiam ao meu controle, não consegui despertar o interesse do paciente para o tratamento. Quando isso acontecia, o dispensado era eu.
Sempre que um paciente me abandonou, senti uma infelicidade profunda: infantil e injustificável. Algo semelhante à impotência que sente uma criança ao descobrir que seu brinquedo favorito foi quebrado por outra criança mais nova, sem que nada mais se possa fazer a respeito.
Nos casos em que eu me interessei pelo caso clínico e o paciente se interessou pela terapia, em algum momento do tratamento, invariavelmente, tornei-me obcecado. Minhas obsessões se mantiveram pelo tempo em que resistiu o mistério para mim. Duraram enquanto o caso me deixou perdido, procurando entendê-lo.
Algumas obsessões foram superadas facilmente. Outras, porém, perseguiram-me por anos a fio, mesmo depois que se encerrou a relação terapêutica. Acho que foi isso o que aconteceu com Sergio Y.
Com ele, aprendi que alguns pacientes percebem antes do médico o ponto ótimo do tratamento -a hora de parar, a partir da qual os rendimentos tornam-se decrescentes. Foi com Sergio que descobri a importância da humildade.
Nunca consegui entender, porém, se nesta história que vou contar, alguém chegou de fato a abandonar alguém.
Quero deixar claro que não gostaria, a esta altura da vida, de expor a intimidade de uma pessoa que confiou sua privacidade a mim. No entanto, se comento esse caso clínico e, de alguma maneira, falto com o meu juramento profissional, é pela mais meritória das razões.
Meus olhos não foram cegos. Minha língua não calou aos segredos que me foram revelados. Eu sei. Mas tenho princípios. Minha intenção, ao contar esta história, nada tem de nocivo. Quero tornar-me um médico melhor e um ser humano mais íntegro. Quero apenas aprender.
O paciente sobre quem falarei chegou ao meu consultório recomendado pela diretora da escola em que estudava, minha amiga dos tempos de faculdade. Em sua mensagem de email, ela me dizia que me procuraria um aluno de 17 anos, “articulado, inteligente e confuso”. Segundo ela, seria um “caso interessante”.
Eu levei suas palavras em consideração.