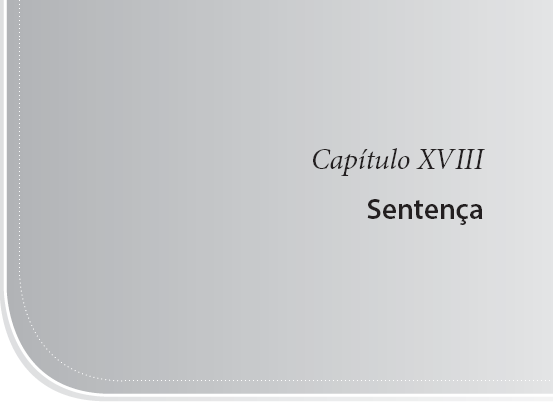
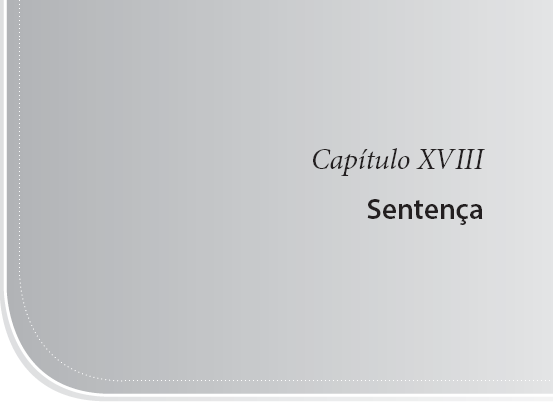
É a decisão terminativa do processo e definitiva quanto ao mérito, abordando a questão relativa à pretensão punitiva do Estado, para julgar procedente ou improcedente a imputação. Esta é considerada a autêntica sentença, tal como consta do art. 381 do Código de Processo Penal, vale dizer, cuida-se do conceito estrito de sentença. Pode ser condenatória, quando julga procedente a acusação, impondo pena, ou absolutória, quando a considera improcedente. Dentre as absolutórias, existem as denominadas impróprias, que, apesar de não considerarem o réu um criminoso, porque inimputável, impõem a ele medida de segurança, uma sanção penal constritiva à liberdade, mas no interesse da sua recuperação e cura.
No Código de Processo Penal, no entanto, usa-se o termo sentença, em sentido amplo, para abranger, também, as decisões interlocutórias mistas e as definitivas, que não avaliam a imputação propriamente dita.
Na essência, como ensina Vincenzo Cavallo, a sentença é um ato de intuição do juiz, que forma livremente a sua convicção, embora deva apresentá-la sob o formato de fundamentação. Traduz-se a sua capacidade intuitiva de captação da verdade, conforme o conjunto probatório, por meio de um juízo lógico, expresso por um ato de vontade (la sentenza penale, p. 162-163).
Além da sentença, ápice da atividade jurisdicional, há outros atos que merecem destaque:
a) despachos: decisões do magistrado, sem abordar questão controvertida, com a finalidade de dar andamento ao processo (ex.: designação de audiência, determinação da intimação das partes, determinação da juntada de documentos, entre outras);
b) decisões interlocutórias: soluções dadas pelo juiz, acerca de qualquer questão controversa, envolvendo a contraposição de interesses das partes, podendo ou não colocar fim ao processo. São chamadas interlocutórias simples as decisões que dirimem uma controvérsia, sem colocar fim ao processo ou a um estágio do procedimento (ex.: decretação da preventiva, quebra do sigilo telefônico ou fiscal, determinação de busca e apreensão, recebimento de denúncia ou queixa, entre outras). São denominadas interlocutórias mistas (ou decisões com força de definitiva) as decisões que resolvem uma controvérsia, colocando fim ao processo ou a uma fase dele (ex.: pronúncia, impronúncia, acolhimento de exceção de coisa julgada etc.);
c) decisões definitivas: são as tomadas pelo juiz, colocando fim ao processo, julgando o mérito em sentido lato, ou seja, decidindo acerca da pretensão punitiva do Estado, mas sem avaliar a procedência ou improcedência da imputação. Nessas hipóteses, somente chegam a afastar a pretensão punitiva estatal, por reconhecerem presente alguma causa extintiva da punibilidade (ex.: decisão que reconhece a existência da prescrição). Diferem das interlocutórias mistas, pois estas, embora coloquem fim ao processo ou a uma fase do mesmo, não avaliam a pretensão punitiva do Estado.
Pode ser condenatória, quando julga procedente a pretensão punitiva do Estado, fixando exatamente a sanção penal devida, até então abstratamente prevista, a ser exigida do acusado.
Pode, ainda, ser declaratória, quando absolver ou julgar extinta a punibilidade. No caso da absolvição, consagra o estado de inocência, inerente a todo ser humano, desde o nascimento. Portanto, nada constitui, nenhum direito gera ou cria, mas apenas declara o natural, ainda que fundamentado em diversas razões.
Há, também, as sentenças constitutivas, mais raras no processo penal, mas possíveis, como ocorre com a concessão de reabilitação, quando o Estado revê a situação do condenado, restituindo-lhe direitos perdidos, pela força da condenação definitiva.
Registremos, por fim, as sentenças mandamentais, que contêm uma ordem judicial, a ser imediatamente cumprida, sob pena de desobediência, encontradas no cenário do habeas corpus e do mandado de segurança. Julgamos possível haver sentenças de natureza mista, como ocorre com a concessiva de perdão judicial. Através de um raciocínio condenatório, considerando o réu culpado por determinado delito, chega o magistrado a proferir uma decisão declaratória da extinção da punibilidade. Isto significa que o direito de punir nasceu, porque crime existiu e o autor é conhecido, mas cessou, tendo em vista razões de política criminal, inspiradoras das causas de perdão judicial. Logo, declara que não há direito de punir e não confere ao Estado direito algum. Em contrário, considerando ser a sentença concessiva do perdão meramente declaratória, em qualquer hipótese, está a posição de TOURINHO FILHO (Código de Processo Penal comentado, v. 1, p. 624).
Além disso, analisando a sentença sob o prisma e efeito do recurso, seguimos orientação exposta por ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, no sentido de que “a sentença nasce com todos os requisitos necessários à sua existência mas, de ordinário, privada de sua eficácia. A não superveniência de outro pronunciamento, na instância recursal, permite à decisão recorrida irradiar os efeitos próprios. Mas se o órgão ad quem emite nova decisão (confirmatória ou de reforma), a condição vem a faltar e a decisão da jurisdição superior substitui a de grau inferior” (Recursos no processo penal, p. 50).
Encontramos na doutrina outros modos de visualizar a sentença, que, para o estudo, podem ser úteis: a) sentenças materiais, aquelas que decidem o mérito da causa (ex.: condenação ou absolvição); sentenças formais, aquelas que decidem questões meramente processuais, podendo colocar fim ao processo ou à instância (ex.: impronúncia); b) sentenças simples, as proferidas por juízo singular; sentenças subjetivamente complexas, as que são proferidas por órgãos colegiados, como o júri ou tribunais.
Conforme dispõe o art. 381 do Código de Processo Penal, a sentença deve conter os nomes das partes (quando não for possível, as indicações necessárias para identificá-las), a exposição sucinta da acusação e da defesa, a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão, a indicação dos artigos de lei aplicados, o dispositivo e a data e assinatura do juiz.
São os requisitos intrínsecos da sentença, aplicando-se o mesmo aos acórdãos, que são decisões tomadas por órgãos colegiados de instância superior, sem os quais se pode considerar o julgado viciado, passível de anulação. Aplica-se o disposto no art. 564, IV, do Código de Processo Penal (nulidade por falta de formalidade que constitua elemento essencial do ato).
Em suma, exige-se que conste na sentença três partes: relatório (descrição sucinta do alegado pela acusação, abrangendo desde a imputação inicial, até o exposto nas alegações finais, com identificação das partes envolvidas); fundamentação (motivação do juiz para aplicar o direito ao caso concreto da maneira como fez, acolhendo ou rejeitando a pretensão de punir do Estado; abrange os motivos de fato, advindos da prova colhida, e os motivos de direito, advindos da lei, interpretada pelo juiz); dispositivo (conclusão, onde consta a aplicação da pena, devidamente fundamentada, ou a absolvição).
É a consagração, no processo penal, do princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada.
Lembremos que a fundamentação da sentença com base em argumentos de terceiros provoca a sua nulidade. Com propriedade, assinala BENTO DE FARIA que “a sentença deve expressar a opinião própria do Juiz e não a de outrem, ainda quando se trate de autoridade consagrada nas letras jurídicas. (...) Assim, não é tido por fundamentada a decisão que se reporte unicamente às razões das partes ou a pareceres ou opiniões doutrinárias” (Código de Processo Penal, v. 2, p. 111). Não se quer com isso dizer não poder o magistrado referir-se a tais opiniões e pareceres, mas, sim, fazer dos mesmos as suas palavras, evitando o raciocínio e a exposição de suas razões pessoais de convicção. Por outro lado, nada impede que se baseie em jurisprudência, desde que demonstre a sua aderência expressa ao entendimento adotado nos tribunais, além de demonstrar a subsunção do caso em exame a referidos julgados.
No Tribunal do Júri, não há necessidade de relatório ou fundamentação, pois se trata de ato jurisdicional vinculado ao veredicto dado pelos jurados. Estes, por sua vez, em exceção constitucionalmente assimilada pelo princípio do sigilo das votações, decidem por livre convicção plena, sem fornecer qualquer motivação. Assim, descabe ao magistrado tecer comentários sobre a culpa ou inocência do acusado, bastando-lhe fixar a pena, que é justamente o dispositivo. Neste, entretanto, deve dar a fundamentação para a sanção penal escolhida e concretizada. Aliás, o relatório é despiciendo, visto que já foi feito na pronúncia. Por outro lado, a ata do julgamento espelha fielmente todas as ocorrências e alegações das partes no plenário.
Preceitua o art. 383 do Código de Processo Penal poder o juiz dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da peça acusatória, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, com a redação dada pela Lei 11.719/2008. É a denominada emendatio libelli.
Dar a definição jurídica do fato é promover o juízo de tipicidade, isto é, adequar o fato ocorrido ao modelo legal de conduta. Exemplo: quando A agride B, visando a matá-lo, sem conseguir o seu intento, dá-se a definição jurídica de “tentativa de homicídio”. A partir disso, surge a classificação do crime, que é o resultado desse processo mental. No exemplo apresentado, temos o réu como incurso no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
O Código de Processo Penal, no entanto, utiliza os termos “definição jurídica do fato” e “classificação” como sinônimos, sem maior precisão. Aliás, na prática, o resultado é o mesmo. Portanto, neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita.
O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu livre convencimento. Se o promotor descreveu, por exemplo, um furto com fraude (pena de dois a oito anos de reclusão), mas terminou classificando como estelionato (pena de um a cinco anos de reclusão), nada impede que o magistrado corrija essa classificação, condenando o réu por furto qualificado – convenientemente descrito na denúncia – embora tenha que aplicar pena mais grave.
Soa-nos inviável conceder a suspensão condicional do processo, por ocasião da sentença, porque houve desclassificação para infração que comportaria o benefício. Afinal, cuida-se de suspensão do processo. Se este já tramitou, alcançando-se a fase da sentença, parece-nos incabível tornar ao início, como se nada tivesse ocorrido. A suspensão condicional do processo é uma medida de política criminal para evitar o curso processual. Ora, não tendo sido possível, profere-se a decisão e o julgador fixa os benefícios que forem cabíveis para o cumprimento da pena. Não vemos sentido em retornar à fase primeira, fazendo-se “desaparecer” tanto a sentença quanto a instrução. Nesse sentido: TJSP: “A proposta de suspensão do processo prevista no art. 89 da Lei Federal 9.099/95 apresenta-se viável, exclusivamente, no momento do oferecimento da denúncia, não podendo sobrevir ao ensejo da sentença, ainda que esta tenha o teor desclassificatório” (Correição Parcial 347.301-3, Piracicaba, 2.ª C., rel. Canguçu de Almeida, 04.06.2001, v.u., JUBI 60/01). Entretanto, em posição contrária, encontra-se a Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça: “É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”.
Com o advento da Lei 11.719/2008, introduziu-se o § 1.° ao art. 383, consolidando essa possibilidade: “Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei”.
Por outro lado, a modificação da classificação do delito pode acarretar a alteração de competência. Se assim ocorrer, os autos serão encaminhados a outro juízo (art. 383, § 2.°, CPP).
É a regra segundo a qual o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consequentemente, ao devido processo legal.
GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ descreve, com precisão, tal princípio, fazendo diferença entre o fato processual – que é o concreto acontecimento na história – e o fato penal – um modelo abstrato de conduta, ou seja, o tipo penal. A violação incide justamente no campo do fato processual, que é o utilizado pelo réu para a sua defesa. E não se pode discorrer, abstratamente, sobre o tema. Torna-se impossível, segundo demonstra, debater o assunto em torno de exemplos irreais: “Inútil, portanto, discutir, por exemplo, se de uma imputação por receptação é possível passar a outra por furto, mas examinar, caso a caso, se o fato imputado, qualificado erroneamente como receptação, contém todos os elementos de fato para ser qualificado como furto. Pensar de outra forma é admitir que um mesmo fato concreto pode ser adequado, simultaneamente, ao tipo penal da receptação e do furto, o que é um verdadeiro absurdo (...) O tema da correlação entre acusação e sentença é pertinente ao fato processual, isto é, ao acontecimento histórico imputado ao réu. A importância está na relevância processual do fato. Por isso, concretamente, o que pode ser indiferente em relação a uma imputação pode ser relevante em relação à outra, ainda que se trate do mesmo tipo penal. Assim, o que é acidental em relação ao tipo penal – por exemplo, uma agravante – pode modificar o fato processual, isto é, o objeto do processo. Já a alteração do fato que se mostre relevante penalmente sempre o será para o processo penal, visto não ser possível condenar alguém sem que o fato concreto imputado apresente todos os elementos que abstratamente integram o tipo penal” (Correlação entre acusação e sentença, p. 129-130).
São ofensivas à regra da correlação entre acusação e sentença as alterações pertinentes ao elemento subjetivo (transformação do crime de doloso para culposo ou vice-versa), as que disserem respeito ao momento consumativo (transformação de crime consumado para tentado ou vice-versa), bem como as que fizerem incluir fatos não conhecidos da defesa, ainda que possam parecer irrelevantes, como a mudança do endereço onde o delito ocorreu.
Nessa ótica, confira-se a lição de Badaró: “Em síntese, o juiz não pode condenar o acusado, mudando as circunstâncias instrumentais, modais, temporais ou espaciais de execução do delito, sem dar-lhe a oportunidade de se defender da prática de um delito diverso daquele imputado inicialmente, toda vez que tal mudança seja relevante em face da tese defensiva, causando surpresa ao imputado” (Correlação entre acusação e sentença, p. 133-134). Muitas dessas situações devem ser resolvidas com base no disposto no art. 384.
Da mesma forma, pode o tribunal, ao julgar um recurso do réu, aplicar pena mais grave, desde que o fato esteja devidamente descrito na denúncia.
A violação da regra da correlação entre a acusação e a sentença é causa de nulidade absoluta, pois ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, consequentemente, o devido processo legal. Aliás, essa regra passou a ser expressa no caput do art. 383, vale dizer, o juiz não pode modificar a descrição do fato contida na peça acusatória.
 PONTO RELEVANTE PARA DEBATE
PONTO RELEVANTE PARA DEBATE
O princípio da ampla defesa e a alteração da definição jurídica do fato, promovida pelo juiz, na sentença
Atualmente, não são poucos os processualistas que passaram a sustentar a obrigatoriedade de se dar vista às partes, quando houver a possibilidade de modificação da classificação do crime, pois a defesa também estaria pautando sua tese e sua atuação, conforme o tipo penal envolvido na peça inaugural. Segundo BADARÓ, “desde que os fatos imputados permaneçam inalterados, pode o juiz dar-lhes definição jurídica diversa da constante da denúncia ou da queixa, mesmo sem aditamento dessas peças. Porém, antes de sentenciar, em respeito ao contraditório, deve o juiz convidar as partes a se manifestarem sobre a possibilidade de uma nova classificação jurídica dos fatos, evitando que sejam surpreendidas com a nova capitulação, sem que tenham tido oportunidade de debatê-la. Embora o réu se defenda dos fatos imputados e não da classificação legal dos fatos, o certo é que o tipo penal exerce influência decisiva na condução da defesa, de forma que sua alteração poderia surpreendê-la” (Correlação entre acusação e defesa, p. 162-163).
Mais enfático, BENEDITO ROBERTO GARCIA POZZER acrescenta que “tal concepção – de que o acusado se defende apenas dos fatos imputados – não é de todo correta. Situações existem em que o erro da classificação do delito, entranhado na denúncia ou queixa, pode provocar prejuízos à defesa e, consequentemente, a nulidade absoluta da sentença penal. A ampla defesa, para ser exercida em toda plenitude, implica permitir ao acusado a livre escolha do seu defensor, podendo eleger aquele que crê mais especializado, na defesa técnica da infração, pelo qual é acusado, por exemplo. A errônea capitulação, com possibilidade de condenação final, por conduta diversa daquela descrita na denúncia ou queixa, poderá causar prejuízo ao acusado, que não pode selecionar o defensor mais preparado. Mais grave ainda ocorre, quando a acusação, para determinado tipo penal, possibilita meios defensivos não previstos para aquele considerado ao final da sentença. Assim ocorrerá, quando alguém é acusado do cometimento de injúria (art. 140, do Código Penal), segundo a classificação acusatória; para, depois da instrução, ser condenado pelo crime de calúnia ou difamação (arts. 138 e 139, do Código Penal), tanto que narrados. Ninguém poderá negar os danos causados pela simples corrigenda do magistrado na sentença. Ora, se correta fosse a classificação da denúncia ou queixa, imputando-se calúnia ou difamação, o acusado poderia valer-se da exceção da verdade, ou da retratação, prevista no Código Penal, art. 138, § 3.°; art. 139, parágrafo único; e art. 143” (Correlação entre acusação e sentença no processo penal brasileiro, p. 152-153).
Assim não pensamos. A defesa – autodefesa e defesa técnica – volta-se aos fatos imputados e não à classificação feita. Não vemos praticidade na conduta do magistrado que, estando com o processo em seu gabinete para sentenciar, após verificar que não é o caso de condenar o réu por estelionato, mas sim por furto com fraude, por exemplo, paralisa seu processo de fundamentação, interrompe a prolação da sentença e determina a conversão do julgamento em diligência para o fim de ouvir as partes sobre a possibilidade – não poderá afirmar que assim fará, pois senão já estará julgando, em decisão nitidamente anômala – de aplicar ao fato definição jurídica diversa da constante nos autos.
As partes, certamente, irão renovar suas alegações finais, produzindo um burocrático e emperrado procedimento, sob o prisma de uma Justiça já considerada extremamente lenta. De que vale essa “ciência”, se o órgão acusador limita-se a expor o que vislumbra nos autos e pedir a condenação, em caráter genérico? Para a defesa técnica – a autodefesa dá-se somente no interrogatório e não torna a ocorrer, nessa hipótese – pode representar um prejulgamento indevido, mormente quando a pena puder ser aumentada, além de não trazer benefício de ordem prática, pois continuará insistindo na negativa de autoria, por exemplo, ou no reconhecimento de determinada excludente.
Enfim, apesar de ser regra existente em alguns outros sistemas normativos, parece-nos superfetação do princípio do contraditório e inócuo para a ampla defesa. Note-se a conturbação processual que pode ocorrer, dando margem à perplexidade das partes e até gerando insegurança quanto à convicção do juiz. Confira-se: “Contudo, nessa hipótese, não estará o juiz obrigado a julgar segundo a nova capitulação jurídica dos fatos, em face da qual convidou as partes a se manifestarem. O juiz comunica às partes a possibilidade de os fatos virem a ser subsumidos a um tipo penal diverso. Nesse momento há apenas a possibilidade, mas não certeza, da nova qualificação jurídica dos fatos. Tal certeza só existirá com a sentença” (BADARÓ, Correlação entre acusação e sentença, p. 164).
Quanto ao exemplo aventado por POZZER, não vemos possibilidade de tal ocorrer na prática. Explicamos: o réu se defende dos fatos a ele imputados. A defesa técnica, tão capacitada quanto o promotor e o juiz, avalia o teor da imputação à luz da definição jurídica do fato. Ora, se a acusação descreveu integralmente uma calúnia, embora tenha capitulado como injúria, é mais do que óbvio caber à defesa técnica levantar, no momento oportuno, a exceção da verdade, com fundamento nos fatos narrados e não na classificação feita. O juiz certamente determinará o seu processamento. O mesmo se diga se o réu, por exemplo, no interrogatório se retratar do que falou. Cuidando-se de calúnia – imputação fática feita na peça acusatória –, ainda que a classificação do delito baseie-se em injúria, é natural que o juiz deverá julgar extinta a punibilidade. A imputação fática realizada é a determinante, ainda, para o cálculo da prescrição (ver a nota 38 ao art. 109 do nosso Código Penal comentado), pouco interessando a classificação feita pelo órgão acusatório. Tudo isso está a demonstrar que inexiste possibilidade de prejuízo à defesa. O réu – autodefesa – apresentará a sua versão dos fatos que o juiz lhe narrar, conforme a denúncia. O seu defensor analisará, criteriosamente, os mesmos fatos e promoverá, de acordo com seu entendimento, a classificação cabível no interesse da ampla defesa, desprezando, para esse fim, o que foi capitulado na denúncia ou queixa.
O art. 384 do Código de Processo Penal acolhe a possibilidade de o juiz reconhecer nova definição jurídica ao fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal, não contida expressa ou implicitamente na denúncia ou queixa. Para tanto, deve abrir vista ao Ministério Público para que promova o aditamento da peça acusatória, no prazo de cinco dias, nos casos de ação pública. Outra alternativa, quando o aditamento for realizado oralmente, é a redução a termo. É a hipótese denominada de mutatio libelli.
Recusando-se o órgão do Ministério Público a fazer o aditamento, o juiz aplica o disposto no art. 28 do CPP, isto é, remete os autos ao Procurador-Geral de Justiça (no âmbito estadual), ou à Câmara Criminal (no âmbito federal), para que se delibere a respeito. O 2.° grau da Instituição pode insistir na mantença da peça acusatória, tal como se encontra, sem o aditamento, o que obriga o magistrado a acatar, julgando como bem lhe aprouver a causa. Pode, ainda, indicar outro membro do Ministério Público para promover o aditamento, agindo em nome da Chefia da Instituição.
Por outro lado, se houver inércia do Ministério Público para promover o aditamento, nada impediria que, valendo-se do disposto no art. 29, pudesse o ofendido fazê-lo.
Após, oferecido o aditamento, ouve-se a defesa, no prazo de cinco dias. Admitindo-se o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuar a audiência, inquirindo-se testemunhas e promovendo-se novo interrogatório do acusado. Após, realizam-se os debates e julgamento (art. 384, § 2.°).
Lembremos que, em face do aditamento proposto, as partes podem arrolar até três testemunhas, no prazo de cinco dias, para serem ouvidas (art. 384, § 4.°). Espera-se, por óbvio, que sejam testemunhas inéditas, pois ouvir exatamente o que já foi narrado por pessoas ouvidas não tem sentido. Excepcionalmente, pode-se arrolar quem já foi inquirido, para que forneça nova versão diante do aditamento da acusação.
Obviedades foram inseridas no art. 384, tais como se houver aditamento, o juiz ficará adstrito, na sentença, aos termos do referido aditamento ou não recebido o aditamento, o processo prosseguirá (art. 384, §§ 4.° e 5.°, CPP). Não havia necessidade de se expor a consequência natural dos atos processuais antecedentes.
No caso da mutatio libelli (art. 384), também é possível aplicar os benefícios da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 383, § 1.°, do CPP. E se houver alteração de competência, os autos seguem ao juízo natural da causa (art. 383, § 2.°, CPP).
Elementares são os componentes objetivos e subjetivos do tipo básico ou fundamental. Ex.: “subtrair”, “para si ou para outrem”, “coisa”, “alheia”, “móvel” são elementares do crime de furto (art. 155, caput, CP).
Circunstâncias são os componentes objetivos e subjetivos do tipo derivado. Ex.: “com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa” é uma circunstância qualificadora (art. 155, § 4.°, I, CP).
O que o art. 384 quer evidenciar é a possibilidade de nova definição jurídica do fato, porque a prova colhida ao longo da instrução demonstra estar presente alguma elementar (componente do tipo básico) ou circunstância do crime (componente do tipo derivado) não descrita, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa. Assim, já que o réu não teve oportunidade de se defender do fato novo, emergente das provas, é preciso proporcionar-lhe essa opção.
Ao deparar-se com a possibilidade de aditamento da peça acusatória, o magistrado deve baixar o processo em despacho prolatado em termos sóbrios, sem qualquer tipo de prejulgamento ou frases taxativas, indicando que irá julgar de determinada forma. Ex.: ao vislumbrar a possibilidade de definir o fato narrado na denúncia não como roubo, mas como extorsão, segundo a prova produzida, abre vista ao MP para que analise a hipótese de aditamento. O ideal é que se valha de termos neutros, como os seguintes: “vislumbrando, em tese, a possibilidade de dar nova definição jurídica ao fato, consistente em...”; “caso, hipoteticamente, leve-se em consideração determinada circunstância para dar nova definição jurídica ao fato, abra-se vista ao Ministério Público para manifestar-se e, querendo, promova o aditamento da peça acusatória”.
Aliás, como lembra ESPÍNOLA FILHO, “a referência a ‘possibilidade’ muito significativa é de não se exigir, para providenciar nesse sentido, a convicção do julgador, de que, na hipótese, o réu tem de ser condenado, e condenado por infração definida de modo diferente do que consta da denúncia; basta ao magistrado se apresente a possibilidade, naturalmente não muito remota e grandemente improvável, de operar-se a desclassificação. Daí, continuar o juiz com a maior liberdade de apreciação final da espécie, quando lhe forem os autos restituídos à conclusão, e, mesmo quando tenha sido feito o aditamento da denúncia, ou queixa, sem que a defesa haja aduzido novos argumentos ou produzido outra prova, poderá, não obstante, condenar o réu pela infração como definida na denúncia ou na queixa, e, até, absolvê-lo” (Código de Processo Penal brasileiro anotado, v. 4, p. 118).
Veda a lei que o juiz tome qualquer iniciativa para o aditamento de queixa, em ação exclusivamente privada, pois o interesse é sempre da parte ofendida, além de não viger, nesse caso, o princípio da obrigatoriedade da ação penal, cujo controle deve ser feito tanto pelo promotor, quanto pelo magistrado.
Ao contrário, regendo a ação privada exclusiva o princípio da oportunidade, não cabe qualquer iniciativa nesse sentido pelo órgão julgador. Aliás, se o querelante, por sua própria ação, desejar aditar a queixa, em ação privada exclusiva, deve levar em conta o prazo decadencial de seis meses. Haveria tal possibilidade, em nosso entender, caso surgisse prova nova, durante a instrução, desconhecida das partes e que apontasse para o querelado, demonstrando haver infração diversa daquela objeto da ação penal. Nessa hipótese, os seis meses deveriam ser computados a partir dessa ciência.
Vale destacar que não se aplica a hipótese de mutatio libelli em segundo grau, conforme dispõe a Súmula 453 do Supremo Tribunal Federal: “não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único [atualmente, art. 384, §§ 1.° a 5.°] do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”. A razão é não conturbar o feito, já encerrado com decisão de mérito, tendo em vista que as partes não requereram, nem o juiz manifestou-se no sentido de haver qualquer tipo de mudança na definição jurídica do fato, alterando-a por conta de prova surgida no decorrer da instrução. Logo, descabe ao tribunal tomar essa iniciativa, salvo se houver recurso da acusação, reclamando contra a decisão do juiz, que deixou de levar em conta a hipótese da mutatio libelli.
Do contrário, sem recurso do órgão acusatório ou havendo somente recurso da defesa, resta à instância superior decidir o caso de acordo com as provas existentes em consonância com a imputação feita. Se preciso for, o melhor caminho é a absolvição, em lugar de se alterar, em segundo grau, o teor da acusação. O disposto na Súmula referida não se aplica ao previsto no art. 383, que significa mera redefinição de fato já constante da imputação.
Do mesmo modo que está o promotor livre para pedir a absolvição, demonstrando o seu convencimento, fruto da sua independência funcional, outra não poderia ser a postura do magistrado. Afinal, no processo penal, cuidamos da ação penal pública nos prismas da obrigatoriedade e da indisponibilidade, não podendo o órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não está fadado o juiz a absolver o réu, se as provas apontam em sentido diverso (art. 385, CPP).
Ademais, pelo princípio do impulso oficial, desde o recebimento da peça inicial acusatória, está o magistrado obrigado a conduzir o feito ao seu deslinde, proferindo-se decisão de mérito. E tudo isso a comprovar que o direito de punir do Estado não é regido pela oportunidade, mas pela necessidade de se produzir a acusação e, consequentemente, a condenação, desde que haja provas a sustentá-la. Noutro prisma, confira-se o disposto no art. 60, III, do CPP, cuidando da perempção, com consequente extinção da punibilidade do réu, caso o querelante não requeira, nas alegações finais, a sua condenação. Neste caso, regida que é a ação penal privada pelo princípio da oportunidade, outra não é a conclusão a ser extraída diante do desinteresse do ofendido na condenação do agressor.
Há possibilidade legal do reconhecimento de agravantes pelo juiz, ainda que atue de ofício, uma vez que elas são causas legais e genéricas de aumento da pena, não pertencentes ao tipo penal, razão pela qual não necessitam fazer parte da imputação. São de conhecimento das partes, que, desejando, podem, de antemão, sustentar a existência de alguma delas ou rechaçá-las todas. O fato é que o magistrado não está vinculado a um pedido da acusação para reconhecê-las.
Em posição contrária, conferir o magistério de ANTONIO SCARANCE FERNANDES: “Deve-se, assim, entender que o juiz não pode, sem pedido do promotor, aplicar as circunstâncias agravantes típicas, interpretando-se o art. 385, do Código de Processo Penal, de maneira condizente com as regras do devido processo legal. O juiz poderia, com base nesse dispositivo, aplicar as circunstâncias judiciais, não as legais, sem pedido do promotor. Com essa leitura do art. 385, seria necessário debate contraditório prévio sobre as circunstâncias agravantes para serem levadas em conta pelo juiz” (Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal, p. 313).
Preferimos manter o nosso entendimento de que o magistrado não está atrelado ao pedido de reconhecimento das agravantes, feito pela acusação, para poder aplicar uma ou mais das existentes no rol dos arts. 61 e 62 do Código Penal (além de outras que, porventura, surjam em leis especiais). Se o juiz pode o mais, que é aplicar as circunstâncias judiciais, onde existe um poder criativo de larga extensão (exemplos: O que seria personalidade? O que poderia ser considerado – para o bem e para o mal – a respeito da conduta social do acusado? Qual comportamento da vítima interessaria à aplicação da pena? São todos elementos abertos constantes do art. 59 do Código Penal, dentre outros), é natural que possa o menos, isto é, aplicar expressas causas agravantes, bem descritas na lei penal.
Não há, muitas vezes, contraditório e ampla defesa acerca das agravantes e atenuantes, tanto quanto não se dá em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em face da carência de provas produzidas pelas partes e pelo desinteresse destas e do próprio magistrado, no geral, pelo processo de aplicação da pena. Lembremos que vige, no Brasil, a política da pena mínima, motivo pelo qual as circunstâncias legais e judiciais tornam-se esquecidas durante a instrução. Luta-se pela condenação (Ministério Público) ou pela absolvição (defesa), mas não pela pena justa. Maiores detalhes expomos em nosso livro Individualização da pena.
Em processo penal, quando for caso de absolvição, é preciso que o juiz vincule a improcedência da ação a um dos motivos enumerados no art. 386 do Código de Processo Penal. As causas são as seguintes: a) está provada a inexistência do fato (inciso I); b) não há prova da existência do fato (inciso II); c) não constitui o fato infração penal (inciso III); d) está provado que o réu não concorreu para a infração penal (inciso IV); e) não existe prova de ter o réu concorrido para a infração penal (inciso V); e) há excludente de ilicitude ou de culpabilidade ou fundada dúvida sobre sua existência (inciso VI); f) não há provas suficientes para a condenação (inciso VII).
A inexistência do fato (inciso I) é uma das hipóteses mais seguras para a absolvição, pois a prova colhida está a demonstrar não ter ocorrido o fato sobre o qual se baseia a imputação feita pela acusação. Assim, desfaz-se o juízo de tipicidade, uma vez que o fato utilizado para a subsunção ao modelo legal de conduta proibida não existiu. Se a acusação é no sentido de ter havido, por exemplo, um constrangimento violento de mulher à conjunção carnal (estupro), provado não ter havido nem mesmo a relação sexual, está excluído o fato sobre o qual se construiu a tipicidade, promovendo-se a absolvição do réu. Exclui-se, nesse caso, igualmente, a responsabilidade civil.
A inexistência de prova da ocorrência do fato (inciso II) não tem a mesma intensidade e determinação do primeiro caso (provada a inexistência do fato), pois, neste caso, falecem provas suficientes e seguras de que o fato tenha, efetivamente, ocorrido. Segue o rumo do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo, permitindo o ajuizamento de ação civil para, com novas provas, demonstrar a ocorrência do ilícito.
A prova da inexistência de infração penal (inciso III) quer dizer que o fato efetivamente ocorreu, mas não é típico. Assim, o juiz profere decisão no sentido de que há impossibilidade de condenação por ausência de uma das elementares do crime. Permite-se o ajuizamento de ação civil para debater-se o ilícito em outra esfera do direito.
A firme prova de que o réu não concorreu para a infração penal (inciso IV), nem como autor, nem como partícipe, elimina qualquer possibilidade de demanda no cível, posteriormente, pleiteando indenização do acusado. É uma absolvição tão segura quando a prova da inexistência do fato, prevista no inciso I.
A inexistência de prova da concorrência do réu (inciso V) evidencia a existência de um fato criminoso, embora não se tenha conseguido demonstrar que o réu dele tomou parte ativa. Pode haver coautores responsabilizados ou não. A realidade das provas colhidas no processo demonstra merecer o acusado a absolvição, por não se ter construído um universo sólido de provas contra sua pessoa. Pode-se ajuizar ação civil, para, depois, provar a participação do réu no ilícito civil.
O reconhecimento de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade (inciso VI) demonstra a inexistência de crime. Enquanto os incisos I, II e III do art. 386 dizem respeito à tipicidade, este cuida dos outros elementos do crime. Em algumas hipóteses é possível discutir a responsabilidade civil, na outra esfera, como ocorre com o estado de necessidade, mas com o reconhecimento da legítima defesa fecha-se a porta para o pleito de indenização cível.
A prova insuficiente para a condenação (inciso VII) é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, podendo indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição. Logicamente, neste caso, há possibilidade de se propor ação indenizatória na esfera cível, por parte da vítima.
Sempre que houver sentença absolutória, estando o réu preso, deve ser colocado em liberdade de imediato, em decorrência da presunção de inocência e da cessação dos motivos legitimadores da prisão cautelar. Não mais vige qualquer hipótese para se manter no cárcere o réu considerado inocente por sentença absolutória. Outras medidas cautelares (ex.: sequestro de bens, restrições descritas no art. 319 do CPP), igualmente, devem cessar (art. 386, parágrafo único, II, CPP).
Quando for cabível, aplica-se, na sentença absolutória, medida de segurança, destinada ao inimputável. É a chamada sentença absolutória imprópria, quando o juiz reconhece não ter havido crime, por ausência de culpabilidade, mas, por ter o acusado praticado um injusto penal (fato típico e antijurídico), no estado de inimputabilidade, merece ser sancionado, com a finalidade de não tornar a perturbar a sociedade. Daí por que se sustenta que a medida de segurança é uma espécie de sanção penal, cuja finalidade não é castigar ou simplesmente reeducar o acusado, mas curá-lo, pois se trata de um doente mental. Por ser medida constritiva da liberdade, não deve ser aplicada senão após o devido processo legal. Justamente em virtude disso considera-se a sentença que a aplica como absolutória imprópria.
Além do relatório, fundamentação e dispositivo, partes inerentes a toda e qualquer sentença, quando houver condenação, deve o juiz, nos termos do art. 387 do CPP, deixar claro as circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como todas as demais circunstâncias existentes para a aplicação da pena (circunstâncias judiciais dos arts. 59 e 60 do CP). A aplicação da pena deverá decorrer da análise conjunta de todas as circunstâncias do delito. É possível inserir valor mínimo referente à indenização civil pelo dano causado pela infração penal (consultar o Capítulo XI, onde mais detalhadamente tratamos da ação civil ex delicto).
 PONTO RELEVANTE PARA DEBATE
PONTO RELEVANTE PARA DEBATE
A fixação do valor mínimo para a reparação civil do dano causado pela infração penal
Inquestionavelmente, a introdução do inciso IV do art. 387, do Código de Processo Penal (“fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando-se os prejuízos sofridos pelo ofendido”), pela Lei 11.719/08, foi positiva e merece aplauso. Entretanto, o legislador deteve-se no meio do caminho, visto ter autorizado que o juiz criminal delibere a respeito da reparação civil causada pelo crime, facilitando-se a busca da indenização pela vítima, mas não proporcionou maiores detalhes acerca do procedimento. Ao contrário, deixou pendentes várias indagações relevantes: a) o magistrado pode fixar essa indenização de ofício? b) o valor mínimo abrange o dano moral? c) o Ministério Público tem legitimidade para pleitear a indenização em nome da vítima? d) como a vítima ficaria sabendo do seu direito à indenização, a ser pedida na demanda criminal?
Há quem defenda, singelamente, a fixação do valor mínimo, de ofício, sem qualquer discussão pelas partes, vedada a discussão do dano moral, pois “não é o juiz penal a melhor pessoa, mas sim o juiz cível, mais familiarizado com essas questões” (DOS SANTOS, Leandro Galluzzi, As reformas no processo penal. MOURA, Maria Thereza (coord), p. 301).
Assim não nos parece. Em primeiro lugar, deve-se salientar a prevalência do princípio do devido processo legal, cujos corolários lógicos são o contraditório e a ampla defesa. Portanto, não pode o magistrado, de ofício, fixar o valor mínimo na sentença condenatória, sem que, previamente, se tenha discutido o montante eventualmente devido. O valor mínimo deve ser, em verdade, amplo, abrangendo tanto a reparação visível (dano material) quanto a psicológica (dano moral), pois ambas são passíveis de discussão e demonstração durante o trâmite da demanda criminal. O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear reparação civil em nome da vítima, pois defende os interesses globais da sociedade e não demandas individuais; nenhuma lei lhe confere tal legitimação. A vítima será intimada a depor na audiência de instrução e julgamento; recomenda-se que, no mandado, conste o seu direito de pleitear indenização civil, o que poderá ser feito, por meio de advogado, ingressando no feito criminal com tal propósito.
Mais detalhes sobre o tema podem ser encontrados no nosso artigo “Ação civil ex delicto: problemática e procedimento após a Lei 11.719/2008” (RT 888/395).
A Lei 12.736/2012 inseriu o § 2.° ao art. 387, nos seguintes termos: “o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.
A detração é instituto penal, a ser considerado na fase da execução penal, consistente no desconto na pena final do tempo de prisão cautelar (art. 42, CP), como forma de compensação pelo tempo de detenção provisória, enquanto o processo tem o seu curso.
Por isso, como regra, a detração não representa nenhum interesse para o juiz no momento da sentença condenatória. Eis porque, até o advento da lei supra mencionada, devia o julgador estabelecer o quantum da pena e, após, escolher o regime inicial cabível. Exemplo: fixada a pena de 8 anos e seis meses de reclusão, obrigatoriamente, o regime inicial seria o fechado (art. 33, § 2.°, a, CP). A inserção do § 2.° ao art. 387 do CPP permite a consideração da detração para o fim de escolha do regime. Ilustrando: se o réu é condenado a 8 anos e seis meses de reclusão e já estiver preso cautelarmente há um ano, para a eleição do regime inicial, deve o magistrado descontar, de pronto, o período de um ano, o que resulta 7 anos e seis meses. Portanto, torna-se cabível o semiaberto (art. 33, § 2.°, b, CP).
Essa modificação tem por finalidade atender a expectativa de contornar os graves entraves ocorridos pelo lento trâmite processual, porém, não obriga o julgador a fixar, sempre, o regime mais favorável. Note-se que o juiz deve proceder o desconto da detração; após, escolher o regime compatível com a situação concreta do acusado. No exemplo supracitado, quando a pena cai para 7 anos e seis meses, torna-se possível escolher entre os regimes fechado e semiaberto, dependendo das condições concretas do art. 59 do Código Penal, conforme recomendação feita pelo art. 33, § 3.°, do mesmo Código.
A publicação da sentença em mão do escrivão (art. 389, CPP) é a transformação do ato individual do juiz, sem valor jurídico, em ato processual, pois passa a ser do conhecimento geral o veredicto dado. Nos autos, será lavrado um termo, bem como há, em todo ofício, um livro específico para seu registro. Normalmente, é composto pelas cópias das decisões proferidas pelos juízes em exercício na Vara, com termo de abertura e encerramento feito pelo magistrado encarregado da corregedoria do cartório.
É viável que o juiz profira a decisão em audiência, conforme o rito processual, bem como que o juiz presidente, ao término da sessão do júri, leia a decisão para conhecimento geral. Nesse caso, dispensa-se a certidão específica nos autos, pois ficará constando do termo da audiência ou na ata do plenário ter sido a sentença lida e publicada naquela data. Cópias delas, no entanto, serão colocadas no livro de registro do mesmo modo.
Somente há duas formas admissíveis para que a sentença, uma vez publicada, seja modificada pelo próprio juiz prolator: a) embargos de declaração acolhidos, nos termos do art. 382 do CPP; b) para a correção de erros materiais, sem qualquer alteração de mérito. Ex.: se o juiz errou o nome do réu ou o artigo no qual está incurso, pode corrigir a sentença, de ofício.
Existindo a determinação para a expedição de mandado de prisão, em decorrência da sentença condenatória ou mesmo de pronúncia, por não ter sido reconhecido o direito do réu de permanecer em liberdade, aguardando o trânsito em julgado, deve o escrivão, em primeiro lugar, ao invés de publicá-la, expedir o mandado, comunicando o fato à polícia, mesmo que por telefone. Após, certificará a expedição realizada, quando, então, ocorrerá a publicação da sentença. Não há autorização para que o escrivão dê conhecimento da sentença a terceiros ou mesmo às partes, antes da expedição da ordem de prisão.
O escrivão deve dar ciência da sentença ao Ministério Público em três dias (art. 390, CPP).
Quanto à intimação do querelante e do assistente de acusação, se o advogado é constituído, a sua intimação pode dar-se pela imprensa oficial (art. 370, § 1.°, CPP). Nada impede, ainda, que o próprio querelante ou o ofendido, consultando os autos, tome ciência e seja intimado pelo escrivão pessoalmente. O mesmo ocorre com seu advogado, quando comparecer em cartório. Logo, inexiste razão para a expedição de edital. Saliente-se que pode ocorrer a hipótese de ter o querelante hipossuficiente um advogado indicado pelo Estado, razão pela qual cabe a regra da intimação pessoal (art. 391, c.c. 370, § 4.°, CPP).
Se o réu estiver preso, deve ser pessoalmente intimado, bem como seu defensor, como consequência natural do direito à ampla defesa (autodefesa e defesa técnica). Embora o art. 392 do CPP fixe várias regras para a intimação do réu e seu defensor, podendo haver a intimação somente de um deles, em alguns casos, o ideal é que, sempre, ambos sejam intimados da decisão condenatória, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa.
Quando o acusado tiver contra si mandado de prisão expedido e não tiver sido encontrado para o devido cumprimento, intima-se da sentença somente o seu defensor. Permite-se que tal ocorra, somente no caso de defensor constituído, portanto da confiança do réu e, provavelmente, em contato com ele. A intimação dá-se pela imprensa oficial. Quando se tratar de dativo, aplica-se o disposto no inciso VI do art. 392 (por edital).
A prisão do réu em caso de condenação não é necessária. Pode ser um dos efeitos da condenação sujeita a recurso, no caso do juiz negar ao acusado o direito de permanecer em liberdade, para recorrer, como no caso de se vislumbrar presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 387, § 1.°, do CPP.
O lançamento do nome do réu no rol dos culpados nada mais é do que o registro no livro específico, existente nos ofícios criminais, denominado “Registro do Rol dos Culpados”, que se constitui de uma das vias da guia de recolhimento – enviada para a Vara das Execuções Criminais – contendo todos os dados relativos à condenação e ao processo. Deve-se frisar que este dispositivo deveria ter sido alterado há muito tempo, pelo menos desde a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, que consagra, expressamente, o princípio da presunção de inocência. Assim, não se lança o nome do réu nesse rol antes do trânsito em julgado.
Quando a sentença condenatória transita em julgado produz os seguintes efeitos: a) penais (pode gerar reincidência, impedir ou revogar o sursis, impedir, ampliar o prazo ou revogar o livramento condicional, impedir a concessão de penas restritivas de direitos e multa ou causar a reconversão das restritivas de direito em privativa de liberdade, entre outros); b) extrapenais (torna certa a obrigação de reparar o dano, gerando título executivo judicial, provoca a perda dos instrumentos do crime, se ilícitos, do produto ou proveito do crime, além de poder gerar efeitos específicos para determinados crimes, como, por exemplo, a perda do pátrio poder (ou poder familiar, segundo a denominação adotada pelo Código Civil), em crimes apenados com reclusão, cometidos por pais contra filhos).
 SÍNTESE
SÍNTESE
Sentença: é a decisão definitiva e terminativa do processo, acolhendo ou rejeitando a imputação formulada pela acusação. Cuida-se da sentença em sentido estrito. Entretanto, toda a decisão que afasta a pretensão punitiva do Estado é, igualmente, sentença, embora em sentido lato (como a que julga extinta a punibilidade do réu).
Despacho: é a decisão do magistrado que dá andamento ao processo, sem decidir qualquer controvérsia.
Decisão interlocutória: é a decisão do juiz solucionando controvérsia entre as partes, mas sem julgar o mérito (pretensão de punir do Estado). Divide-se em interlocutória simples (decide a controvérsia e o processo continua) e interlocutória mista (decidida a controvérsia, cessa o trâmite do processo ou encerra-se uma fase).
Emendatio libelli: é a possibilidade de o juiz dar nova definição jurídica ao fato, devidamente descrito na denúncia ou queixa, ainda que importe em aplicação de pena mais grave (art. 383, CPP).
Mutatio libelli: é a possibilidade de o magistrado dar nova definição jurídica ao fato, não descrito na denúncia ou queixa, devendo haver prévio aditamento da peça acusatória e, em qualquer situação, ouvindo-se a defesa (art. 384, CPP).