Tabela 3 Alguns indicadores da força industrial britânica e alemã, 1880 e 1913
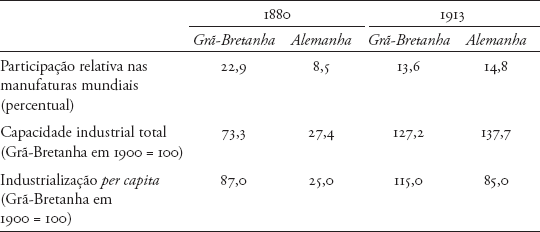
Fonte: Kennedy, Great Powers, p. 256, 259.
A resolução sobre “Militarismo e conflitos internacionais”, aprovada pela Segunda Internacional de partidos socialistas na conferência de Stuttgart de 1907, é uma clássica afirmação da teoria marxista sobre as origens da guerra:
As guerras entre os Estados capitalistas são, em geral, resultado de sua rivalidade pelos mercados mundiais, visto que cada Estado está não só interessado em consolidar o mercado interno, como também em conquistar novos mercados […] Além disso, essas guerras derivam da infindável corrida armamentista do militarismo […] Assim, as guerras são inerentes à natureza do capitalismo; só irão cessar quando a economia capitalista for abolida […].1
Quando a Primeira Guerra Mundial começou – levando desordem à Segunda Internacional –, esse argumento foi gravado a ferro e fogo pela Esquerda. O social-democrata alemão Friedrich Ebert declarou, em janeiro de 1915:
Todos os grandes Estados capitalistas registraram uma grande expansão em sua vida econômica durante a última década […] A disputa por mercados foi mais intensa. E, com a disputa por mercados, ocorreu a disputa por territórios […] Assim, os conflitos econômicos levaram a conflitos políticos, a aumentos contínuos e gigantescos em armamentos e, finalmente, à guerra mundial.2
De acordo com o “derrotista revolucionário” Lênin (um dos poucos líderes socialistas que desejaram abertamente a derrota de seu próprio país), a guerra era produto do imperialismo. A disputa entre as grandes potências por mercados ultramarinos, incitada pela queda no índice de lucratividade em sua economia doméstica, só poderia ter terminado em uma guerra suicida; por sua vez, as consequências sociais da conflagração precipitariam a tão esperada revolução proletária internacional e a “guerra civil” contra as classes dominantes, algo que Lênin urgia desde o momento em que guerra eclodiu.3
Até que as revoluções de 1989-1991 anulassem as duvidosas conquistas de Lênin e seus camaradas, os historiadores do bloco comunista continuaram argumentando nesses termos. Em um livro publicado um ano depois da queda do Muro de Berlim, o historiador Willibald Gutsche, da Alemanha Oriental, continuava dizendo que, em 1914, além dos “monopolistas da mineração e da siderurgia, representantes influentes de grandes bancos e corporações de engenharia elétrica e de transporte […] [estavam] agora inclinados a adotar uma opção não pacífica”.4 Seu colega Zilch criticou os “objetivos claramente hostis” do presidente do Reichsbank, Rudolf Havenstein, às vésperas da guerra.5
À primeira vista, há motivos para pensar que os interesses capitalistas estavam prontos para colher os benefícios da guerra. A indústria armamentista, em particular, dificilmente deixaria de fechar contratos vultosos no caso de uma grande conflagração. A filial britânica do banco dos Rothschild, que representava, tanto para os marxistas quanto para os antissemitas, o poder maligno do capital internacional, tinha ligações financeiras com a empresa Maxim-Nordenfelt, cuja metralhadora foi famosamente citada por Hilaire Belloc como a chave para a hegemonia europeia, e ajudou a financiar sua aquisição pela Vickers Brothers em 1897.6 Os Rothschild austríacos também tinham interesse na indústria armamentista: sua companhia metalúrgica Witkowitz foi uma importante fornecedora de ferro e aço para a Marinha austríaca e, depois, de balas para o Exército austríaco. Os estaleiros alemães, para dar outro exemplo, fecharam contratos importantes com o governo em consequência do programa naval do almirante Alfred von Tirpitz. Ao todo, 63 dos 86 navios de guerra encomendados entre 1898 e 1913 foram construídos por um pequeno grupo de empresas privadas. Mais de um quinto da produção dos estaleiros Blohm & Voss, de Hamburgo – que praticamente monopolizava a construção de grandes transatlânticos –, foi para a Marinha.7
No entanto, em detrimento da teoria marxista, há pouquíssimos indícios de que esses interesses fizeram que os empresários desejassem uma grande guerra na Europa. Em Londres, a esmagadora maioria dos banqueiros estava horrorizada diante dessa probabilidade, sobretudo porque a guerra ameaçava levar à bancarrota um grande número das principais instituições de aceite (senão todas) comprometidas com o financiamento do comércio internacional (ver Capítulo 7). Os Rothschild tentaram, sem sucesso, evitar um conflito entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, e por seus esforços foram acusados pelo editor do caderno internacional do The Times, Henry Wickham Steed, de “uma suja tentativa financeira internacional germano-judaica de nos intimidar em favor da neutralidade”.8 Entre os poucos empresários alemães que eram (parcialmente) informados das novidades durante a Crise de Julho, nem o armador Albert Ballin nem o banqueiro Max Warburg eram favoráveis à guerra. Em 21 de junho de 1914, depois de um banquete em Hamburgo, o próprio Kaiser, conversando com Warburg, fez uma notável análise da “situação geral” da Alemanha e concluiu “insinuando […] se não seria melhor atacar agora [a Rússia e a França], em vez de esperar”. Warburg “aconselhou decididamente contra” essa medida:
[Eu] descrevi para ele a situação política interna da Inglaterra, as dificuldades da França em manter os três anos de serviço militar, a crise financeira em que a França já se encontrava e a provável falibilidade do Exército russo. Eu [o] aconselhei a esperar pacientemente, sem chamar a atenção, por mais alguns anos. “Nós estamos mais fortes a cada ano; nossos inimigos estão se debilitando internamente.”9
Em 1913, Karl Helfferich, um diretor do Deutsche Bank, publicou um livro intitulado Deutschlands Wohlstand, 1888-1913 [A riqueza nacional da Alemanha, 1888-1913], cujo intuito era provar precisamente esse ponto de vista. A produção de ferro e de aço da Alemanha superava a da Inglaterra; sua receita nacional agora era maior que a da França. Não há indícios de que Helfferich tivesse alguma suspeita da calamidade iminente que interromperia esse crescimento de maneira tão desastrosa: ele estava preocupado com as negociações sobre a concessão da ferrovia de Bagdá (ver adiante).10 Apesar de seu interesse na questão da mobilização econômica, Walther Rathenau, presidente da Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft, não foi capaz de persuadir os oficiais do Reich a respeito de um “Estado-Maior econômico”, e Bethmann simplesmente ignorou seu argumento contra ir à guerra por causa da Áustria em 1914.11 Ao contrário, quando Havenstein convocou oito diretores dos principais bancos de capital aberto ao Reichsbank no dia 18 de junho de 1914 para pedir que aumentassem o percentual de reserva (a fim de reduzir o risco de uma crise monetária no caso de uma guerra), eles lhe disseram – de maneira educada, mas firme – para dar o fora.12 A única prova do apetite capitalista por uma guerra que Gutsche pode apresentar é uma citação de Alfred Hugenberg, diretor da empresa de armamentos Krupp, notoriamente pouco representativa. Hugo Stinnes, empresário da indústria pesada, tinha tão pouco interesse pela ideia da guerra que, em 1914, estabeleceu a Union Mining Company na cidade de Doncaster, visando levar tecnologia alemã às jazidas de carvão inglesas.13
A interpretação marxista das origens da guerra pode, portanto, ser destinada ao cesto de lixo da história, assim como os regimes que mais avidamente a promoveram. No entanto, permanece – quase intacto – outro modelo do papel da economia em 1914. O trabalho de Paul Kennedy, em particular, contribuiu muito para propagar a ideia da economia como uma das “realidades por trás da diplomacia” – um determinante de poder, capaz de ser expresso em termos de população, produção industrial, produção de aço e de ferro e consumo de energia. Nessa perspectiva, os políticos têm mais “vontade própria” para empreender a expansão imperialista sem necessariamente estar subordinados aos interesses dos negócios; mas os recursos econômicos de seus países impõem a restrição final a essa expansão, que, depois de certo ponto, se torna insustentável.14 Nesses termos, a Grã-Bretanha, em 1914, era uma potência em relativo declínio, sofrendo com a “superexpansão” imperial; a Alemanha era uma rival em franca ascensão. Kennedy e seus muitos seguidores apontaram para indicadores de crescimento econômico, industrial e das exportações para afirmar que um confronto entre a Grã-Bretanha em declínio e a Alemanha em ascensão era, se não inevitável, no mínimo provável.15
Típico dessa abordagem é o argumento apresentado por Geiss de que o desenvolvimento da “mais sólida economia industrial moderna” fez da Alemanha uma “superpotência continental”:
Em seu enorme poder em contínua expansão, a Alemanha era como um reator regenerador rápido sem a carcaça de proteção [sic] […] A sensação de poder econômico ampliou a autoconfiança adquirida em 1871 e a transformou em uma autoestima excessiva que, por meio da Weltpolitik, conduziu o Reich alemão à Primeira Guerra Mundial.16
A unificação em 1870-1871 deu à Alemanha “hegemonia latente [na Europa], literalmente da noite para o dia […] Era inevitável que a união de todos os alemães ou da maioria deles em um único Estado se tornaria a potência mais forte da Europa”. Os defensores de uma Europa dominada pela Alemanha estavam corretos, pelo menos em teoria: “Não há nada de errado com a conclusão […] de que a Alemanha e a Europa continental a oeste da Rússia só seriam capazes de fazer frente […] aos blocos gigantes de poder econômico e político que estavam por vir […] se a Europa se unisse. E uma Europa unida cairia, quase automaticamente, sob a liderança da maior potência – a Alemanha”.17 Para a maioria dos historiadores britânicos, é ponto pacífico que era preciso resistir a essa intimidação.18
Portanto, a história da Europa entre 1870 e 1914 continua sendo escrita como uma história de rivalidade econômica, com a Grã-Bretanha e a Alemanha como os principais rivais. Mas esse modelo da relação entre economia e poder também está cheio de falhas.
É verdade que entre 1890 e 1913 as exportações alemãs cresceram mais rapidamente que a de seus rivais europeus e que sua formação bruta de capital interno era a maior da Europa. A Tabela 3 resume alguns dos indícios estatísticos de Kennedy para o desafio alemão à Grã-Bretanha. Além disso, ao calcular as taxas de crescimento populacional da Alemanha (1,34% ao ano), o Produto Interno Bruto (2,78%) e a produção de aço (6,54%), não há dúvida de que entre 1890 e 1914 o país estava superando tanto a Grã-Bretanha quanto a França.19
Mas, na realidade, o fator econômico mais importante na política internacional do início do século XX não foi o crescimento do poder econômico alemão. Foi, antes, a imensa extensão do poder financeiro britânico.
Já nos anos 1850, os investimentos britânicos no exterior totalizavam cerca de 200 milhões de libras.20 Na segunda metade do século XIX, entretanto, houve três grandes ondas de exportação de capital. Entre 1861 e 1872, o investimento líquido no exterior cresceu de apenas 1,4% do Produto Nacional Bruto para 7,7%, antes de cair para 0,8% em 1877. Depois teve um crescimento mais ou menos sustentado até atingir 7,3% em 1890, antes de cair novamente para menos de 1% em 1901. Na terceira alta, os investimentos no exterior cresceram até alcançar o pico de 9,1% em 1913 – um nível que só foi superado nos anos 1990.21 Em termos absolutos, isso levou a um enorme acúmulo de ativos no exterior, aumentando em mais de dez vezes, de 370 milhões de libras em 1860 para 3,9 bilhões de libras em 1913 – cerca de um terço do total da riqueza britânica. Nenhum outro país chegou perto desse nível de investimento no exterior: como mostra a Tabela 4, o mais próximo, a França, tinha ativos no exterior que somavam metade do total britânico; a Alemanha, pouco mais de um quarto.
Tabela 3 Alguns indicadores da força industrial britânica e alemã, 1880 e 1913
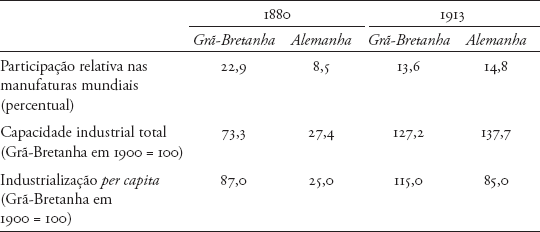
Fonte: Kennedy, Great Powers, p. 256, 259.
A Grã-Bretanha respondia por cerca de 44% do total de investimento estrangeiro às vésperas da Primeira Guerra Mundial.22 Além disso, como mostra a tabela, a maioria dos investimentos britânicos no exterior estava fora da Europa; uma proporção muito maior dos investimentos alemães estava dentro do continente. Em 1910, Bethmann Hollweg se referiu à Inglaterra como “o rival decisivo da Alemanha no que diz respeito à política de expansão econômica”.23 Isso era verdade se por expansão econômica Bethmann queria dizer investimentos ultramarinos – mas não se ele se referia ao crescimento das exportações, já que a política britânica de livre-comércio significava que não havia nada que impedisse os exportadores alemães de enfrentarem as empresas britânicas nos mercados imperiais (e, de fato, nem mesmo no mercado interno). Naturalmente, essa concorrência comercial não passou despercebida, mas seria tão absurdo entender as campanhas jornalísticas contra os produtos “Made in Germany” como prenúncios de uma guerra anglo-germânica quanto conceber o falatório dos norte-americanos sobre a “ameaça” econômica japonesa nos anos 1980 como presságio de um conflito militar.24
Tabela 4 Total de investimentos no exterior em 1913
|
|
Total (milhão de libras) |
dos quais, na Europa (percentual) |
|
Grã-Bretanha |
793 |
5,2 |
|
França |
357 |
51,9 |
|
Alemanha |
230 |
44,0 |
|
Estados Unidos |
139 |
20,0 |
|
Outro |
282 |
n/a |
|
Total |
1.800 |
26,4 |
Fonte: Kindleberger, Financial History of Western Europe, p. 225.
Alguns historiadores econômicos argumentaram que os altos níveis de exportação de capital minaram a economia britânica: a City de Londres é o bode expiatório favorito daqueles que veem a produção industrial como algo que, de alguma forma, é superior aos serviços no que se refere à geração de receita e de empregos. Na realidade, só é possível afirmar que as exportações de capital estavam privando a indústria britânica de investimentos se for demonstrado que houve uma escassez de capital que impediu as empresas de modernizarem suas instalações. Há poucas evidências que corroborem essa visão.25 Embora certamente houvesse uma relação inversa entre o ciclo de investimento estrangeiro e o de investimento interno fixo, a exportação de capital não foi um “escoamento” de capital da economia britânica; tampouco deve ser vista como uma “causa” do aumento do déficit comercial britânico.26 Na verdade, os retornos obtidos sobre esses investimentos mais do que se equiparavam à exportação de novo capital, assim como (quando associados aos ganhos por rendimentos “invisíveis”) invariavelmente excediam o déficit comercial. Na década de 1890, o investimento líquido no exterior somava 3,3% do Produto Nacional Bruto, em comparação com o rendimento líquido de capitais no exterior de 5,6%. Na década seguinte, os valores foram, respectivamente, 5,1% e 5,9%.27
Por que a economia britânica se comportava dessa forma? A maior parte dos investimentos no exterior foi do tipo “carteiras de valores” em vez de “diretos”; em outras palavras, foram mediados por bolsas de valores, pela venda de títulos e ações emitidos em nome de empresas e governos estrangeiros. Segundo Edelstein, a explicação para a “atração” dos valores mobiliários estrangeiros foi que, mesmo considerando um fator de risco mais elevado, seus rendimentos eram ainda mais altos (por volta de 1,5%) que os dos valores mobiliários internos ao calcular a média de todo o período de 1870-1913. No entanto, essa média oculta flutuações significativas. Analisando as contas de 482 firmas, Davis e Huttenback mostraram que as taxas de retorno do mercado interno às vezes eram mais altas que as do mercado externo – nos anos 1890, por exemplo.28 A obra deles também quantifica a importância do imperialismo aos olhos dos investidores, já que, no Império, as taxas de retorno sobre os investimentos eram marcadamente diferentes daquelas sobre os investimentos em territórios estrangeiros não controlados pela Grã-Bretanha: chegaram a ser 67% mais altas no período anterior a 1884, mas 40% mais baixas depois daquele ano.29 Será que o crescente volume de investimento britânico no exterior teria sido, portanto, um produto economicamente irracional do imperialismo – um caso em que o capital perseguia a bandeira em vez da maximização dos lucros? De fato, Davis e Huttenback mostram que as possessões imperiais não eram o principal destino dos investimentos britânicos como um todo: para o período entre 1865 e 1914, apenas cerca de um quarto do investimento foi para o Império, em comparação com 30% para a economia britânica e 45% para economias estrangeiras. A obra deles assinala a existência de uma elite de ricos investidores britânicos com um interesse material no Império como um mecanismo para estabilizar o mercado de capitais internacional como um todo.
O grande volume de capital exportado pela Grã-Bretanha também foi parte integral do papel global da economia britânica como exportadora de manufaturas, importadora de alimentos e outros produtos primários e uma grande “exportadora” de pessoas: no Reino Unido, a emigração líquida total entre 1900 e 1914 atingiu a surpreendente marca dos 2,4 milhões.30 O Banco da Inglaterra também foi o credor de última instância no sistema monetário internacional: em 1868, apenas Grã-Bretanha e Portugal tinham o padrão-ouro, que havia se consolidado na Grã-Bretanha durante o século XVIII; já em 1908, toda a Europa havia adotado o padrão-ouro (embora as moedas da Áustria-Hungria, da Itália, da Espanha e de Portugal não pudessem ser totalmente convertidas em espécie).31 Em muitos aspectos, portanto, o imperialismo era, no fim do século XIX, o acompanhamento político dos avanços econômicos similares ao que chamamos “globalização” no fim do século XX. Como em nossa época, a globalização estava então associada à ascensão de uma única superpotência mundial: hoje os Estados Unidos, na época a Grã-Bretanha – com a diferença de que a dominação britânica teve um caráter muito mais formal. Em 1860, a extensão territorial do Império Britânico era cerca de 24,6 milhões de quilômetros quadrados; em 1909, o total havia subido para 32,9 milhões. Por volta de 444 milhões de pessoas viviam sob alguma forma de governo britânico às vésperas da Primeira Guerra Mundial, e apenas 10% delas no Reino Unido. E esses números não levam em consideração que a Britânia praticamente dominava os mares, graças à posse da maior Marinha do mundo (medida em tonelagem de navios de guerra, mais que o dobro do tamanho da alemã em 1914), e sua maior Marinha mercante. Era, conforme colocou J. L. Garvin em 1905, “um domínio de extensão e magnificência além do natural”. Do ponto de vista das grandes potências, isso parecia injusto. “Não podemos falar de conquista e apropriação”, mesmo Carruthers admite em The Riddle of the Sands [O enigma das areias]. “Dominamos uma bela fatia do mundo, e eles têm todo o direito de ter inveja.”32
Porém, num período caracterizado por uma liberdade sem precedentes de circulação de pessoas, produtos e capitais, não estava imediatamente claro como uma potência poderia desafiar a superpotência mundial. Enquanto, nas duas décadas anteriores à guerra, a Grã-Bretanha teve um aumento na emigração e na exportação de capitais, a Alemanha parou de exportar alemães e exportou uma proporção cada vez menor do novo capital formado.33 Não está claro se essa divergência foi causa ou consequência das diferenças no desempenho econômico interno dos dois países, mas as implicações no que se refere ao poder internacional relativo são evidentes. Como Offer recentemente afirmou, o alto índice de emigração da Grã-Bretanha criou laços de afinidade que garantiram a lealdade dos governos locais para com a mãe-pátria.34 Na Alemanha, ao contrário, a queda na taxa de natalidade e um volume crescente de imigração tornaram os alemães mais cientes da superioridade da mão de obra no leste da Europa. É verdade que o sucesso cada vez maior da Alemanha como exportadora parecia apresentar uma ameaça aos interesses britânicos, mas os alemães temiam que o crescimento das exportações (e o resultado, uma dependência constante de matérias-primas importadas) poderia ser prejudicado por políticas protecionistas de potências coloniais mais poderosas.35 Embora a Grã-Bretanha continuasse a perseguir uma política de livre-comércio em todo o seu império antes de 1914, o debate sobre a “preferência imperial” e a reforma tarifária iniciado por Joseph Chamberlain levantou uma possibilidade preocupante que outras economias exportadoras dificilmente poderiam ignorar.
Por fim, as exportações de capital britânico e francês sem dúvida aumentaram a alavancagem política internacional desses países. Em uma de suas primeiras publicações, a Liga Pangermânica reclamou:
[Somos] um povo de 50 milhões, que dedica sua melhor força ao serviço militar [e] gasta mais de meio bilhão todos os anos em defesa […] Nossos sacrifícios de sangue e dinheiro seriam de fato excessivos se nosso poder militar nos permitisse […] garantir o que nos é de direito apenas onde recebemos o generoso consentimento dos ingleses.36
Mas, conforme Bülow lamentou: “A enorme influência [internacional] da França […] é, em grande medida, produto de sua abundância de capital e liquidez”.37 Os historiadores econômicos frequentemente elogiam a preferência dos bancos alemães por investimentos na indústria nacional, mas tais investimentos não contribuíram em nada para melhorar o poder ultramarino alemão. A influência internacional da Alemanha estava, portanto, circunscrita: paradoxalmente, o elevado índice de crescimento industrial registrado desde 1895 tendeu, em alguns aspectos, a enfraquecer sua capacidade de barganha no cenário internacional.
Se houve uma guerra que o imperialismo deveria ter provocado, foi a guerra que não aconteceu entre a Grã-Bretanha e a Rússia nas décadas de 1870 e 1880; ou a guerra que não aconteceu entre a Grã-Bretanha e a França nas décadas de 1880 e 1890. Essas três potências eram, afinal, os verdadeiros impérios rivais, entrando em conflito repetidas vezes, de Constantinopla a Cabul (no caso da Grã-Bretanha e da Rússia) e do Sudão ao Sião (no caso da Grã-Bretanha e da França). Poucos contemporâneos em 1895 teriam previsto que essas potências acabariam sendo aliadas em uma guerra 20 anos depois. Afinal, a memória diplomática coletiva do século anterior era de um atrito recorrente entre a Grã-Bretanha, a França e a Rússia, como mostra a Tabela 5.
É fácil esquecer como foram ruins as relações entre a Grã-Bretanha, de um lado, e a Rússia e a França, de outro, nas décadas de 1880 e 1890. Quando a Grã-Bretanha ocupou militarmente o Egito em 1882, seu principal propósito era estabilizar as finanças egípcias, defendendo os interesses não só de investidores britânicos como de investidores europeus em geral. No entanto, essa medida foi, durante muito tempo, motivo de constrangimento para a diplomacia britânica. Entre 1882 e 1922, a Grã-Bretanha se sentiu obrigada a prometer às outras potências, pelo menos em 66 ocasiões, que poria um fim à ocupação do Egito. Isso não aconteceu; e, desde o primeiro momento em que o Egito foi ocupado, a Grã-Bretanha se viu em desvantagem diplomática ao tentar controlar expansões análogas por parte de seus dois maiores rivais imperiais.
Havia pelo menos duas regiões onde a Rússia podia, legitimamente, fazer reivindicações comparáveis: na Ásia Central e nos Bálcãs. Em nenhum dos casos foi de todo aceitável que a Grã-Bretanha resistisse. Em abril de 1885, nos últimos dias do segundo mandato de Gladstone como primeiro-ministro, pairou a ameaça de um conflito entre a Inglaterra e a Rússia depois que esta última derrotou as forças afegãs em Penjdeh. A história foi similar em 1885 quando o governo russo interveio para evitar que o rei búlgaro, Alexander, unificasse a Bulgária e a Rumélia Oriental à sua maneira. A França reagiu de modo ainda mais agressivo à ocupação britânica no Egito: de fato, em muitos aspectos foi o antagonismo anglo-francês a característica mais importante da esfera diplomática nos anos 1880 e 1890. Em 1886, na época da expedição francesa a Tonkin (na Indochina), os Rothschild franceses comunicaram a Herbert, filho de Bismarck, a inquietante previsão de que “a próxima guerra europeia será entre a Inglaterra e a França”.38 Embora alguns observadores esperassem que a volta do conde de Rosebery, do Partido Liberal, como ministro das Relações Exteriores em 1892 melhorasse as coisas, logo se tornou visível que Rosebery estava propenso a manter a política francófoba do governo anterior em outras partes. Ele ficou consternado diante dos rumores de que a França pretendia ocupar o Sião depois de um confronto naval no rio Mekong em julho de 1893. E, em janeiro do ano seguinte, Rosebery reagiu às preocupações austríacas com relação aos planos russos nos Estreitos garantindo ao embaixador da Áustria que ele “não retrocederia diante do perigo de envolver a Inglaterra em uma guerra contra a Rússia”.39
Tabela 5 Alianças internacionais, 1815-1917: uma visão geral
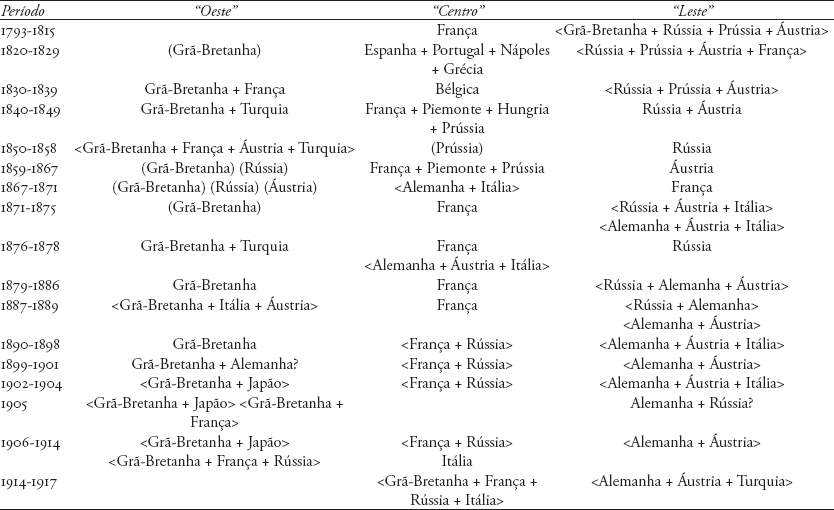
Notas: < > aliança formal ou entente; () neutra.
Como era de prever, foram o Egito e seu vizinho ao sul, o Sudão, que demonstraram ser a principal causa do antagonismo entre a Grã-Bretanha e a França – tanto que uma guerra entre as duas potências parecia uma possibilidade real em 1895. Já no início de 1894 era visível que o governo francês pretendia fazer alguma tentativa de controlar Fachoda no Alto Nilo. Temendo que o controle francês de Fachoda comprometesse a posição britânica no Egito, Rosebery – que se tornou primeiro-ministro em março daquele ano – rapidamente selou um acordo com o rei dos belgas para ceder a área ao sul de Fachoda ao Congo Belga em troca de uma faixa do Congo Ocidental, com a óbvia intenção de bloquear o acesso francês a Fachoda. Nas difíceis negociações que se seguiram, as tentativas de Gabriel Hanotaux, ministro das Relações Exteriores da França, de chegar a algum tipo de acordo com relação a Fachoda fracassaram; e, quando uma expedição liderada pelo explorador francês Marchand partiu para o Alto Nilo, o subsecretário parlamentar de Rosebery no Ministério das Relações Exteriores, sir Edward Grey, a denunciou como um “ato hostil”. Foi nesse momento crítico (junho de 1895) que Rosebery renunciou, deixando a Grã-Bretanha em uma posição de isolamento diplomático sem precedentes. No entanto, para sorte do governo de Salisbury, que acabava de ter início, a derrota da Itália pelas forças abissínias em Adowa foi um espetáculo paralelo que desviou as atenções. Para a Grã-Bretanha, esse foi um estímulo para agir depressa, e, exatamente uma semana depois, foi dada a ordem de reconquistar o Sudão. No entanto, quando o sucessor de Hanotaux, Théophile Delcassé, reagiu à vitória de Kitchener sobre os dervixes sudaneses em Omdurman ocupando Fachoda, a guerra tornou-se iminente.
A cidade de Fachoda é de interesse aqui porque nos faz recordar uma guerra que não ocorreu entre as grandes potências, mas poderia ter ocorrido. De maneira similar, é importante lembrar que, em 1895 e 1896, tanto a Grã-Bretanha quanto a Rússia flertaram com a ideia de usar suas frotas para dominar os Estreitos do mar Negro e afirmar seu controle direto sobre Constantinopla. Na ocasião, nenhum dos lados estava suficientemente convencido de seu poder naval para arriscar tal empreitada; mas, se um deles houvesse arriscado, no mínimo teria havido uma crise diplomática tão séria quanto a de 1878. Também aqui houve uma guerra não concretizada, dessa vez entre a Grã-Bretanha e a Rússia. Tudo isso demonstra que, se queremos explicar por que, afinal, eclodiu uma guerra em que a Grã-Bretanha, a França e a Rússia lutaram do mesmo lado, é pouco provável que o imperialismo forneça a resposta.
A Grã-Bretanha teve a sorte de, naquela etapa, seus dois rivais imperiais não estarem próximos um do outro o bastante para unir forças. São Peters-burgo jamais apoiaria Paris nas questões africanas, assim como Paris não apoiaria São Petersburgo com relação aos Estreitos do mar Negro. A França era uma república, com um dos sufrágios mais democráticos da Europa; a Rússia era a última das monarquias absolutistas. No entanto, uma aliança franco-russa fazia sentido em termos estratégicos e econômicos. A França e a Rússia tinham inimigos em comum: a Alemanha entre elas e a Grã-Bretanha ao redor.40 Além disso, a França era exportadora de capitais, ao passo que a Rússia, em processo de industrialização, estava faminta por empréstimos estrangeiros. De fato, já em 1880 diplomatas e banqueiros franceses começaram a discutir a possibilidade de uma entente franco-russa baseada no capital francês. A decisão de Bismarck de proibir o uso de obrigações russas como garantia para os empréstimos do Reichsbank (o famoso “Lombardverbot”) normalmente é vista como desencadeadora de uma reorientação mais ou menos inevitável.41
Houve também uma série de motivos não financeiros para um estreitamento dos laços entre a França e a Rússia, especialmente a atitude cada vez mais hostil do governo alemão depois da ascensão de Guilherme II, em 1888, e da demissão de Bismarck dois anos mais tarde. As promessas de Guilherme e do novo chanceler, o general Leo von Caprivi, de que a Alemanha apoiaria a Áustria no caso de uma guerra contra a Rússia e sua firme recusa em renovar o secreto Tratado de Resseguro tornaram supérfluos os incentivos financeiros: logicamente, a França e a Rússia estavam inclinadas a gravitar em direção uma da outra. Entretanto, é importante perceber os muitos obstáculos a uma cooperação desse tipo. Para começar, havia dificuldades financeiras. A instabilidade recorrente na Bolsa de Paris – a crise da Union Générale em 1882 foi seguida da falência do Comptoir d’Escompte em 1889 e da crise do canal do Panamá em 1893 – colocou em dúvida a capacidade básica da França para lidar com operações russas em grande escala. Do lado russo também havia problemas financeiros. Foi só em 1894-1897 que o rublo finalmente passou ao padrão-ouro, e o mercado de obrigações da França continuou desconfiando das obrigações russas; foi só depois da queda brusca dos preços em 1886, 1888 e 1891 que teve início uma valorização estável.
O primeiro grande empréstimo da França à Rússia foi cotado na Bolsa no outono de 1888.42 No ano seguinte, os Rothschild de Paris concordaram em garantir duas grandes emissões de obrigações do governo russo, com um valor nominal total de cerca de 77 milhões de libras, e uma terceira emissão de 12 milhões de libras no ano seguinte.43 Em 1894, mais um empréstimo no valor aproximado de 16 milhões de libras foi concedido;44 e houve outro da mesma quantia em 1896.45 Naquela época, o aumento dos fundos russos estava começando a parecer sustentado, embora a obtenção de um segundo empréstimo com investidores tenha sido mais lenta – mesmo com o auxílio oportuno de uma visita do czar a Paris.46 Agora os bancos alemães estavam sendo encorajados pelo Ministério das Relações Exteriores alemão a participar dos empréstimos russos de 1894 e 1896, precisamente para evitar que a França exercesse um monopólio sobre as finanças russas.47 Era tarde demais. Na virada do século, nenhuma relação diplomática tinha bases mais sólidas do que a aliança franco-russa. É, até hoje, o exemplo clássico de uma combinação internacional baseada em crédito e dívida. Ao todo, os empréstimos franceses à Rússia em 1914 totalizaram mais de 3 bilhões de rublos, 80% do total da dívida externa do país.48 Cerca de 28% de todo o investimento francês no exterior estava na Rússia, sendo a quase totalidade em títulos da dívida pública.
Os historiadores econômicos costumavam criticar a estratégia do governo russo de obter empréstimos no exterior para financiar a industrialização do país. Mas é muito difícil criticar os resultados. Não há dúvida de que a economia russa se industrializou com extraordinária velocidade nas três décadas que antecederam 1914. De acordo com os números de Gregory, o Produto Nacional Líquido cresceu a uma taxa média anual de 3,3% entre 1885 e 1913. O investimento anual subiu de 8% para 10% da receita nacional. Entre 1890 e 1913, a formação de capital per capita aumentou 55%. A produção industrial cresceu a uma taxa anual de 4-5%. No período 1898-1913, a produção de ferro-gusa cresceu mais de 100%; a malha ferroviária aumentou de tamanho em cerca de 57%; e o consumo de algodão cru cresceu 82%.49 Nas zonas rurais também houve progresso. Entre 1860 e 1914, a produção agrícola cresceu a uma taxa média anual de 2%. Isso era significativamente mais rápido que a taxa de crescimento populacional (1,5% ao ano). A população cresceu em torno de 26% entre 1900 e 1913; e a receita nacional total quase dobrou. Conforme mostra a Tabela 6, não era a economia alemã, e sim a russa, a que registrava o crescimento mais acelerado antes de 1914.
Os historiadores das revoluções de 1917 na Rússia tendem a começar seus relatos nos anos 1890. Mas o historiador econômico encontra poucos indícios de uma calamidade iminente. Em termos per capita, os russos eram, em média, mais ricos em 1913 do que 15 anos antes: a renda per capita aumentou por volta de 56% naquele período. A taxa de mortalidade caiu de 35,7 por mil no fim dos anos 1870 para 29,5 por mil (1906-1910), assim como a taxa de mortalidade infantil (de 275 por mil para 247 por mil). O índice de alfabetização subiu de 21% para 40% da população entre 1897 e 1914. Certamente, a rápida industrialização tendeu a aumentar as brechas sociais na Rússia urbana sem reduzir as brechas na Rússia rural ávida por terras (onde ainda vivia 80% da população). Por outro lado, a industrialização parecia ter o resultado que os líderes da Rússia desejavam mais ardentemente: um poder militar cada vez maior. Com incrível rapidez, o Império Russo se expandiu para o leste e para o sul. Entre as conhecidas derrotas da Crimeia e de Tsushima, os generais russos acumularam incontáveis vitórias obscuras na Ásia Central e no Extremo Oriente. Em 1914, o Império Russo cobria 22,2 milhões de quilômetros quadrados e se estendia dos Cárpatos à fronteira com a China.
O que é notável (e, para a Grã-Bretanha, uma sorte) é que a aliança entre a França e a Rússia nunca foi usada seriamente contra o principal inimigo imperial dos dois países: a Grã-Bretanha. A possibilidade foi levada a sério pela Grã-Bretanha, e não só por fantasistas como William Le Queux (ver Capítulo 1). Refletindo, em 1888, sobre os desafios que as Forças Armadas britânicas poderiam ter de enfrentar no futuro, o político liberal sir Charles Dilke mencionou “apenas a Rússia e a França” como inimigos em potencial. “Entre a França e nós as diferenças são frequentes, e entre a Rússia e nós a guerra é quase certa”.50 Foi apenas em 1901 que o Primeiro Lorde do Almirantado, o conde de Selborne, sentiu necessidade de alertar que, combinadas, as frotas de couraçados da França e da Rússia logo equivaleriam às da Marinha Real.51
Tabela 6 Aumento percentual no Produto Nacional Líquido, 1898-1913
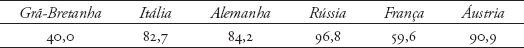
Fonte: Hobson, “Wary Titan”, p. 505.
A ideia de uma guerra mundial alternativa, com a Grã-Bretanha combatendo a França e a Rússia em palcos tão distantes quanto o Mediterrâneo, o estreito de Bósforo, o Egito e o Afeganistão, hoje nos parece inconcebível. Mas, na época, um cenário como esse era menos implausível do que a noção de alianças britânicas com a França e a Rússia, que durante anos pareceram impossíveis – “fadadas ao fracasso”, nas palavras de Chamberlain.
Poderosas forças econômicas e políticas impeliram, assim, a França e a Rússia em sua aliança fatídica. É claro que não se pode dizer o mesmo da Grã-Bretanha e da Alemanha; mas tampouco se pode afirmar que houve forças insuperáveis gerando um antagonismo fatal entre esses dois países. De fato, precisamente o resultado oposto parecia não só desejável como possível: um entendimento entre a Grã-Bretanha e a Alemanha (se não uma aliança direta). Afinal, Dilke não estava sozinho ao pensar que a Alemanha não tinha “nenhum interesse suficientemente divergente do nosso para que terminasse em disputa”.
Para os historiadores, sempre há uma forte tentação de ser condescendente com iniciativas diplomáticas que fracassam presumindo que estavam fadadas a fracassar. Os esforços para obter alguma espécie de entendimento entre a Grã-Bretanha e a Alemanha nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial muitas vezes foram objeto de condescendências desse tipo. Quando muito, a ideia de uma aliança anglo-germânica era vista como pouco atraente para os banqueiros da City de Londres, em particular os de origem alemã e judaica – uma visão que, sem dúvida, os germanófobos da época não hesitaram em expressar.52 Mas, em retrospecto, não devemos atribuir uma multiplicidade de causas à deterioração das relações anglo-germânicas que acabou culminando em guerra. Em muitos aspectos, os argumentos em favor de alguma espécie de entendimento se baseavam em interesses internacionais comuns. A priori, não há uma razão óbvia pela qual uma potência “superexpandida” (como a Grã-Bretanha acreditava ser) e uma potência “subexpandida” (como a Alemanha acreditava ser) não devessem cooperar em termos diplomáticos. É incorreto afirmar que “as prioridades fundamentais das políticas de cada país eram mutuamente excludentes”.53 Isso não significa ressuscitar o velho argumento sobre “oportunidades perdidas” nas relações entre os dois países que poderiam ter evitado a carnificina nas trincheiras, um raciocínio que, com demasiada frequência, se apoiou em conhecimentos posteriores e em memórias pouco confiáveis;54 significa meramente afirmar que o fracasso na formação de uma entente anglo-germânica foi mais uma consequência acidental do que predeterminada.
A possibilidade de uma entente anglo-germânica tem raízes profundas. A Grã-Bretanha, afinal, manteve-se à parte em 1870-1871, quando a Alemanha infligiu uma derrota humilhante à França. As dificuldades da Grã-Bretanha com a Rússia nos anos 1880 também tiveram implicações positivas para as relações com a Alemanha. Embora a proposta de Bismarck em favor de uma aliança entre os dois países em 1887 tenha dado em nada, a Tríplice Entente secreta de Salisbury com a Itália e a Áustria, para preservar o status quo no Mediterrâneo e no mar Negro, criou uma ligação indireta com Berlim por meio da Tríplice Aliança alemã, da qual a Itália e a Áustria também eram membros.
Isso explica, em parte, por que, quando a Alemanha começou a reivindicar colônias nos anos 1880, a Grã-Bretanha apresentou pouca resistência. Obviamente, os planos do chanceler alemão para a África não passavam de uma sombra de seus planos para a Europa (e, talvez, também seus planos para a política interna); entretanto, ele exagerou as ambições alemãs no continente a fim de explorar a vulnerabilidade da Grã-Bretanha com relação ao Egito. Começando em 1884, Bismarck usou o Egito como pretexto para uma série de intervenções alemãs audaciosas na região, ameaçando a Grã-Bretanha com uma “Liga de Neutralidade” franco-germânica na África, afirmando o controle alemão sobre Angra Pequeña no Sudoeste Africano e reivindicando todo o território entre a Colônia do Cabo e a África Ocidental Portuguesa. A reação inglesa foi, com efeito, apaziguar a Alemanha aceitando a colônia no Sudoeste Africano e concedendo outras aquisições territoriais em Camarões e na África Oriental. A questão de Zanzibar, levantada pelo embaixador alemão Paul von Hatzfeldt em 1886, foi típica: a Alemanha não tinha nenhum interesse econômico relevante em Zanzibar (e, de fato, preferiu Heligolândia, no mar do Norte, em 1890); mas valia a pena reivindicar a àrea para si quando a Grã-Bretanha estava tão disposta a, literalmente, ceder terreno. O acordo de 1890 entre as duas potências deu Zanzibar à Grã-Bretanha em troca da ilha de Heligolândia, no mar do Norte, e de uma faixa estreita de terra que garantiu o acesso do Sudoeste Africano, sob domínio alemão, ao rio Zambezi.
Foi com relação à China que alguma forma de cooperação anglo-germânica pareceu mais propensa a se desenvolver. Como ocorre com tanta frequência, isso teve origem nas finanças. Desde 1874, ano do primeiro empréstimo estrangeiro concedido à China imperial, a principal fonte externa de finanças do governo chinês eram duas empresas britânicas com sede em Hong Kong: a Hong Kong & Shanghai Banking Corporation e a Jardine, Matheson & Co.55 O governo britânico, representado por sir Robert Hart, também controlava as Alfândegas Marítimas Imperiais. Em março de 1885, o banqueiro alemão Adolph Hansemann apresentou ao Hong Kong & Shanghai Bank uma proposta de dividir igualmente as finanças do governo chinês e da malha ferroviária entre os membros britânicos e alemães de um novo consórcio. As negociações culminaram na criação do Deutsch-Asiatische Bank em fevereiro de 1889, um empreendimento conjunto envolvendo mais de 13 importantes bancos alemães.56
Ao alimentar o fantasma da crescente influência russa no Extremo Oriente, a derrota da China na guerra contra o Japão, de 1894-1895, criou uma oportunidade perfeita para a cooperação entre Berlim e Londres. Em essência, os banqueiros (Hansemann e Rothschild) visavam promover uma parceria entre o Hong Kong & Shanghai Bank e o novo Deutsch-Asiatische Bank que, esperavam, se recebesse apoio oficial adequado de seus respectivos governos, impediria a Rússia de exercer uma influência excessiva sobre a China. Sem dúvida, as aspirações dos banqueiros estavam longe de ser as mesmas que as dos diplomatas e políticos. Friedrich von Holstein, a “eminência parda” no Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, queria que a Alemanha, em vez de se aliar à Grã-Bretanha, se unisse à Rússia e à França e, com estas, se opusesse à anexação de Liaotung pelos japoneses sob o tratado de Shimoneseki, em abril de 1895. Mas as circunstâncias confirmaram a perspicácia dos banqueiros.57 A declaração, em maio, de que a China financiaria o pagamento de sua indenização ao Japão com um empréstimo russo foi um golpe tanto para o governo britânico quanto para o governo alemão. O empréstimo, é claro, não poderia ser financiado pela própria Rússia, já que esta era uma devedora internacional; com efeito, era um empréstimo francês com benefícios divididos igualmente entre a Rússia e a França, a primeira obtendo o direito de ampliar sua ferrovia transiberiana na Manchúria, a segunda obtendo concessões de ferrovias na China. Houve até mesmo um novo banco sino-russo, também financiado por capital francês, e uma aliança formal entre a Rússia e a China em maio de 1896.58 Diante dessa reviravolta, a proposta de Hansemann, de que o Hong Kong & Shanghai Bank unisse forças com o Deutsch-Asiatische Bank, pareceu mais atraente, e um acordo entre os dois bancos foi firmado em julho de 1895. O principal propósito da aliança era acabar com a competição entre as grandes potências colocando os empréstimos estrangeiros da China nas mãos de um único consórcio multinacional, como havia sido feito no passado para a Grécia e a Turquia, embora com uma implícita predominância anglo-germânica. Depois de muitas manobras diplomáticas, isso finalmente foi alcançado quando um segundo empréstimo foi concedido à China em 1898.
Devemos admitir que dificuldades continuaram existindo. Salisbury se recusou a dar uma garantia estatal ao empréstimo; em consequência, a participação britânica ficou embaraçosamente prejudicada. Em novembro de 1897, os alemães cercaram Kiao-Chow, o principal porto da província de Shantung, e esse fato foi seguido de uma disputa entre o Hong Kong & Shanghai Bank e Hansemann por uma concessão ferroviária em Shantung.59 Mas o episódio logo foi esquecido quando a Rússia exigiu a “concessão” de Port Arthur em março de 1898, levando a Grã-Bretanha a exigir como “consolo” Wei-hai-wei (o porto em frente a Port Arthur).60 Numa conferência de banqueiros e políticos ocorrida em Londres no início de setembro desse ano, concordou-se em dividir a China em “esferas de influência” para alocar concessões ferroviárias, deixando o vale do Yang-Tsé aos bancos britânicos, Shantung aos alemães e dividindo a rota Tientsin-Chinkiang.61 As disputas por ferrovias continuaram, mas o modelo de colaboração estava definido.62 Quando os alemães enviaram uma expedição à China depois do Levante dos Boxers e da ocupação da Manchúria pela Rússia em 1900, garantiram a Londres que “os russos não arriscariam uma guerra”, e em outubro a Grã-Bretanha assinou um novo acordo para manter a integridade do Império Chinês e um regime comercial de “Portas Abertas”.63 Esse foi o ápice da cooperação política anglo-germânica na China; mas é importante reconhecer que a cooperação nos negócios continuou por alguns anos. Desacordos posteriores (incitados pela intromissão do chamado “Consórcio de Pequim” na região do rio Amarelo) foram resolvidos em outra conferência de banqueiros em Berlim, em 1902.64
Ao que parece, foi depois de um jantar na época da crise de Port Arthur que o embaixador Hatzfeldt levantou a possibilidade de uma aliança anglo-germânica com Joseph Chamberlain. Conforme lembra Arthur Balfour:
Joe é muito impulsivo: e a discussão do Gabinete sobre os dias anteriores [a respeito de Port Arthur] havia chamado sua atenção para nossa posição diplomática isolada e, portanto, ocasionalmente difícil. Ele decerto foi longe demais ao expressar sua própria inclinação pessoal em favor de uma aliança com a Alemanha; ele combateu a noção de que nossa forma de governo parlamentar tornava precária uma aliança desse tipo (uma noção que, pelo visto, assombra os alemães), e acredito que até chegou a insinuar vagamente a forma que um acordo entre os dois países poderia assumir.
A reação do ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Bülow, lembra Balfour, foi “imediata”:
Sua resposta telegráfica […], mais uma vez, insistiu na dificuldade parlamentar – mas também expressou com total franqueza a visão alemã acerca da posição da Inglaterra no sistema europeu. Ao que parece, eles acreditam que somos mais do que um páreo para a França, mas não mais do que um páreo para a França e a Rússia juntas. A consequência de uma disputa como essa seria imprevisível. Eles não poderiam se dar ao luxo de nos ver sucumbir – não porque nos amam, mas porque sabem que seriam as próximas vítimas – e assim por diante. Todo o teor da conversa (tal como me foi apresentada) era em favor de uma união mais próxima entre os países.65
Seguiram-se outras conversas em abril de 1898 entre Chamberlain e o barão Hermann von Eckardstein, o primeiro secretário na embaixada alemã, a quem o Kaiser havia instruído a “manter a opinião oficial na Inglaterra favorável a nós e otimista”. Eckardstein agora propôs, em nome do Kaiser, “uma possível aliança entre a Inglaterra e a Alemanha […] [cuja] base seria a garantia, por ambas as potências, das possessões da outra”. Como parte do pacote, ele ofereceu à Grã-Bretanha “liberdade de ação no Egito e na Transvaal” e insinuou que “uma aliança defensiva direta […] poderia vir mais tarde”. “Tal tratado”, detalhou Chamberlain a Salisbury, “contribuiria para a paz e poderia ser negociado no momento presente”.66 A ideia ressurgiu em forma similar em 1901.67
Sendo assim, por que a ideia de uma entente anglo-germânica acabou fracassando? Uma resposta um tanto simplista associa tal fracasso às personalidades envolvidas. A francofilia de Eduardo VII é citada ocasionalmente, ou a absoluta falta de seriedade de Eckardstein.68 Sem dúvida, Bülow e Holstein exageraram a fraqueza da posição britânica nas negociações.69 Mas um obstáculo político mais sério (conforme os alemães previam) foi, provavelmente, a absoluta falta de entusiasmo de Salisbury.70 Chamberlain também contribuiu para o fracasso de seu próprio projeto. Em particular, ele falou de um “Tratado ou Acordo [limitado] entre a Alemanha e a Grã-Bretanha por um prazo de anos […] de caráter defensivo baseado em um entendimento mútuo quanto às políticas na China e em outras partes”.71 Em público, no entanto, falou eloquentemente de uma “Nova Tríplice Aliança entre a raça teutônica e os dois grandes ramos da raça anglo-saxônica” e – de maneira um tanto irrealista – esperou que os alemães reagissem no mesmo espírito efusivo. Quando, em um discurso em 11 de dezembro de 1899 no Reichstag, Bülow expressou sua prontidão “com base na total reciprocidade e consideração mútua para conviver [com a Inglaterra] em paz e harmonia”, Chamberlain, numa atitude petulante, desdenhou isso como um gesto de “indiferença”.72 Quando as dificuldades surgiram, Chamberlain perdeu a paciência: “Se eles são tão cegos, […] incapazes de enxergar que se trata da ascensão de uma nova constelação no mundo, não se pode ajudá-los”.73
Houve, entretanto, outros fatores possivelmente mais decisivos do que fraquezas pessoais. Uma objeção comum é que as disputas coloniais pesaram contra uma reconciliação anglo-germânica. É citado com frequência o artigo de 1899 do historiador Hans Delbrück, em que ele declarou: “Podemos seguir com políticas [coloniais] com a Inglaterra ou sem a Inglaterra. Com a Inglaterra significa paz; contra a Inglaterra significa – por meio da guerra”.74 Mas a realidade era que a Alemanha era capaz de seguir com suas políticas coloniais, em grande medida, com a Inglaterra (e a inferência correta a ser feita com base no artigo de Delbrück é que ela precisaria fazer isso). Assim, a demorada negociação com Portugal com relação ao futuro de suas colônias africanas (em especial a baía da Lagoa) finalmente resultou em um acordo em 1898, pelo qual a Grã-Bretanha e a Alemanha, juntas, emprestariam dinheiro a Portugal assegurado por sua propriedade colonial, mas com uma cláusula secreta dividindo o território português em esferas de influência.75 Tampouco houve um conflito de interesse na África Ocidental.76 No Pacífico, a crise de Samoa que estourou em abriu de 1899 foi resolvida antes do fim do ano.77 Os dois países até cooperaram (apesar dos ruidosos protestos na imprensa britânica) no caso da dívida externa venezuelana em 1902.78
Outra região estrategicamente mais importante em que a parceria anglo-germânica parecia viável era o Império Otomano, uma área de interesse cada vez maior para os negócios alemães mesmo antes da primeira visita do Kaiser a Constantinopla em 1889. Enquanto a Rússia representou uma ameaça aos Estreitos, as perspectivas de alguma espécie de cooperação entre a Inglaterra e a Alemanha na região foram boas. Assim, os dois países trabalharam em conjunto depois da derrota militar da Grécia pela Turquia em 1897, acertando os detalhes de um novo controle financeiro sobre Atenas. Uma oportunidade de cooperação mais conhecida surgiu em 1899 – um ano depois da segunda visita do Kaiser ao Bósforo –, quando o sultão concordou com a proposta da Ferrovia de Bagdá no Império Otomano, uma invenção de Georg von Siemens, do Deutsche Bank (por conseguinte, “Ferrovia Berlim-Bagdá”). Siemens e seu sucessor Arthur von Gwinner sempre tiveram a intenção de garantir as participações britânica e francesa no empreendimento; o problema era a falta de interesse dos investidores da City de Londres, que, em grande medida, haviam perdido a fé no futuro do regime otomano.79 Em março de 1903, criou-se um acordo para uma extensão da linha ferroviária até Basra, que teria dado 25% aos membros britânicos de um consórcio – liderado por sir Ernest Cassel e por lorde Revelstoke; mas o fato de que os investidores alemães deteriam 35% incitou um bombardeio de críticas em jornais de direita, como o Spectator e o National Review, e Balfour – a essa altura primeiro-ministro – decidiu se retirar.80
Houve, no entanto, uma região de possível conflito entre a Inglaterra e a Alemanha: a África do Sul. O telegrama de Guilherme II depois da infrutífera invasão de Jameson, parabenizando o presidente Kruger por repelir os invasores, certamente atiçou os ânimos em Londres; e as manifestações alemãs de simpatia pelos bôeres durante a guerra que eclodiu com a República do Transvaal em 1899 foram mais um motivo de tensão entre Londres e Berlim. O propósito do acordo de 1898 com a Alemanha sobre a colônia portuguesa de Moçambique foi, em parte, desencorajar os alemães de se alinharem com Kruger, mas a eclosão da guerra pareceu levantar dúvidas sobre esse plano. As coisas não ficaram melhores quando os alemães voltaram a falar em uma “liga continental” contra a Grã-Bretanha no fim de 1899 e quando a Grã-Bretanha interceptou navios mensageiros alemães nos mares sul-africanos em janeiro de 1900. Mas a Guerra dos Bôeres não foi tão nociva às relações entre as duas potências como alguns haviam temido. Os bancos alemães não hesitaram em requerer uma participação no empréstimo britânico ao Transvaal depois da guerra. Possivelmente mais importante, ao minar a autoconfiança britânica, a guerra fortaleceu os argumentos a favor de pôr um fim no isolamento diplomático. A retórica sobre “eficiência nacional” e os esforços das “ligas” militaristas não foram capazes de compensar as angústias que a guerra havia provocado com relação aos custos de manter um vasto Império britânico ultramarino – exemplificado pela hiperbólica afirmação de Balfour de que “para todos os fins práticos no momento presente, não passávamos de uma potência inferior”.81 Do marco cada vez mais complexo em que a estratégia imperial foi concebida (e que o novo Comitê de Defesa Imperial e o Estado-Maior Imperial pouco fizeram para melhorar),82 surgiu um consenso. Como parecia impossível para os britânicos, em termos financeiros e estratégicos, defender simultaneamente o Império e seu próprio país, o isolamento passou a ser insustentável – e, portanto, era preciso chegar a acordos diplomáticos com uma ou mais das potências rivais. De fato, foi durante a Guerra dos Bôeres – nos primeiros meses de 1901 – que houve um novo esforço de colocar Chamberlain e o novo ministro das Relações Exteriores, lorde Lansdowne, em contato com representantes alemães com base na “cooperação com a Alemanha e adesão à Tríplice Aliança” (nas palavras de Chamberlain).83
O território então trazido à discussão – Chamberlain o havia mencionado pela primeira vez em 1899 – foi o Marrocos. Por causa de acontecimentos posteriores, é fácil presumir que havia algo de inevitável nos desacordos entre a Grã-Bretanha e a Alemanha com relação ao Marrocos, mas isso parecia muito improvável em 1901. De fato, os projetos franceses em toda a região do noroeste da África (levados adiante por um acordo secreto com a Itália em 1900) pareciam favorecer alguma espécie de ação conjunta. A Grã-Bretanha já estava preocupada com as fortificações espanholas em Algeciras, que pareciam apresentar uma ameaça a Gibraltar, esse imprescindível portal no Mediterrâneo. A possibilidade de uma “liquidação” conjunta do Marrocos por parte da França e da Espanha era real. A alternativa óbvia era dividir o Marrocos em esferas de influência britânica e alemã, com a Grã-Bretanha assumindo Tânger e a Alemanha, a costa atlântica. Esse foi o impulso fundamental de um possível acordo discutido em maio e outra vez em dezembro. As discussões continuaram de maneira esporádica durante 1902. Foi, de fato, a falta de interesse da Alemanha no Marrocos – conforme Bülow e o Kaiser expressaram claramente no início de 1903 – o que evitou que um esquema desse tipo se concretizasse.84
A verdadeira explicação para o fracasso do projeto de uma aliança anglo-germânica não era a força da Alemanha, e sim sua debilidade. Afinal, foram os britânicos que desistiram da ideia de aliança tanto quanto os alemães.85 E o fizeram não porque a Alemanha passou a representar uma ameaça à Grã-Bretanha, mas, ao contrário, porque esta percebeu que aquela não representava uma ameaça.
Obviamente, o principal interesse dos britânicos era reduzir, e não aumentar, a possibilidade de um conflito ultramarino custoso. Apesar da paranoia alemã, um conflito como esse era muito mais provável entre potências que já tinham grandes impérios do que com uma potência que apenas aspirava a ter um. Por essa razão, não é de surpreender que foi entre a França e a Rússia que acabaram ocorrendo as aproximações diplomáticas mais frutíferas. Como afirmou o subsecretário assistente no Ministério das Relações Exteriores, Francis Bertie, em novembro de 1901, o melhor argumento contra uma aliança anglo-germânica era que, se tal aliança fosse firmada, “jamais [poderíamos] manter boas relações com a França, nossa vizinha na Europa e em muitas partes do mundo, ou com a Rússia, cujas fronteiras são adjacentes às nossas, ou quase, em grande parte da Ásia”.86 Salisbury e Selborne tinham uma opinião muito similar sobre os méritos relativos da França e da Alemanha. A relutância alemã em apoiar a política britânica na China em 1901 com medo de se opor à Rússia só confirmou a visão britânica: apesar de tanto esbravejar, a Alemanha era fraca.87
Em comparação, a França era capaz de oferecer uma lista muito mais atraente de questões imperiais sobre as quais se poderiam firmar acordos.88 Por exemplo, os franceses tinham para oferecer à Grã-Bretanha uma concessão que era maior e melhor do que qualquer coisa que a Alemanha poderia ter oferecido: a aceitação definitiva da posição britânica no Egito. Depois de mais de 20 anos de atritos recorrentes, esta foi uma importante mudança de posição diplomática por parte de Delcassé, e é fácil entender por que Lansdowne se apressou em colocá-la no papel. O preço desse acordo foi que a França obteve o direito de “preservar a ordem no Marrocos e prover assistência a todas as reformas administrativas, econômicas, financeiras e militares que fossem necessárias para tal” – uma concessão que, na percepção dos franceses, lhes outorgava uma posição de poder de facto no Marrocos que era equivalente à que a Grã-Bretanha ocupava no Egito desde 1882. Nas disputas subsequentes pelo Marrocos, os alemães, com efeito, muitas vezes estavam em seu direito; mas a Grã-Bretanha havia optado pela França e, portanto, estava obrigada a apoiar as reivindicações francesas mesmo quando estas iam além dos acordos então em vigor.
A Entente Cordiale anglo-francesa de 8 de abril de 1904 equivaleu, portanto, a escambo colonial (o Sião também foi ocupado);89 mas mostrou ter implicações mais amplas. Em primeiro lugar, reduziu a importância, para a Grã-Bretanha, das boas relações com a Alemanha, como se fez notar durante a primeira crise marroquina, que teve início quando o Kaiser aportou no Tânger em 31 de março de 1905 e exigiu uma conferência internacional para reafirmar a independência do Marrocos. Longe de corroborar os argumentos alemães em favor de uma “Porta Aberta” no Marrocos, Lansdowne temeu que a crise poderia derrubar Delcassé e culminar na retirada francesa.90
Em segundo lugar, devido à proximidade dos vínculos entre Paris e São Petersburgo, a entente anglo-francesa significava melhores relações com a Rússia.91 Sem demora, a Grã-Bretanha demonstrou sua prontidão para apaziguar os interesses da Rússia na Manchúria e no Tibete, e evitar um atrito desnecessário por causa dos Estreitos do mar Negro, da Pérsia – e até mesmo (para consternação de lorde Curzon, o vice-rei indiano) do Afeganistão.92 Esse ímpeto por boas relações possivelmente teria antecipado um acordo formal, como ocorreu no caso da França, não fosse pela derrota russa infligida pelo Japão. (Por outro lado, se a Grã-Bretanha tivesse continuado a se sentir ameaçada pela Rússia no Oriente – se a Rússia houvesse derrotado o Japão em 1904, por exemplo –, os argumentos a favor de uma entente anglo-alemã poderiam ter ganhado força.) Mas o advento do Japão como um efetivo contrapeso às ambições russas na Manchúria introduziu uma nova variável na equação. O governo alemão sempre estivera desconfortável diante da perspectiva de um acordo com a Grã-Bretanha, que poderia ter significado que a Alemanha travaria uma guerra contra a Rússia na Europa em nome dos interesses britânicos na China: isso explica por que, em 1901, Bülow e o Kaiser garantiram a neutralidade alemã no caso de um conflito entre a Grã-Bretanha e a Rússia no Extremo Oriente. Já o Japão tinha todos os motivos para procurar um aliado europeu. Quando o governo russo se recusou a firmar um acordo sobre a Manchúria, Tóquio se voltou prontamente para Londres, e em janeiro de 1902 uma aliança defensiva foi firmada. É um bom exemplo da lógica da política britânica – apaziguar o mais forte – o fato de que essa aliança passou a ser vista como prioritária sobre qualquer negociação colonial com a Rússia.93
Pode-se dar outro exemplo de uma potência agressiva que apresentou uma ameaça direta à Grã-Bretanha no Atlântico e no Pacífico; uma potência que partilhava uma fronteira de quase 5 mil quilômetros com um dos territórios mais prósperos do Império: os Estados Unidos.
Embora as duas potências não se enfrentassem desde 1812, são facilmente esquecidas as inúmeras razões que elas tiveram para se enfrentar na década de 1890. Os Estados Unidos tiveram um confronto com a Grã-Bretanha pela fronteira entre a Venezuela e a Guiana Britânica, uma disputa só resolvida em 1899; foram para a guerra contra a Espanha por causa de Cuba e, no processo, adquiriram as Filipinas, Porto Rico e Guam em 1898; anexaram o Havaí no mesmo ano; travaram uma guerra colonial sanguinária nas Filipinas entre 1899 e 1902; adquiriram algumas das ilhas de Samoa em 1899; e participaram avidamente da partilha econômica da China. A etapa seguinte da expansão imperial norte-americana foi construir um canal através dos istmos da América Central. Em comparação com os Estados Unidos, a Alemanha era uma potência pacífica. Mais uma vez, a Grã-Bretanha apaziguou o mais forte. Pelo Tratado Hay-Pauncefote, de 1901, concordou em reconhecer a fortificação e o controle norte-americano do futuro canal do Panamá; além disso, permitiu que o presidente Theodore Roosevelt agisse com total desconsideração para com as objeções colombianas ao auxiliar uma revolta panamenha na zona escolhida do canal. Em 1901-1902, Selborne tomou a decisão de reduzir a capacidade naval da Grã-Bretanha para enfrentar os Estados Unidos no Caribe e no Atlântico.94 Esse apaziguamento teve resultados previsíveis. Em 1904, os norte-americanos assumiram o controle financeiro da República Dominicana; e também o fizeram na Nicarágua em 1909 (com apoio militar em 1912). Woodrow Wilson afirmou deplorar a “diplomacia do dólar” e a política do “Big Stick”, mas também foi ele quem enviou a Marinha para dominar o Haiti em 1915 e a República Dominicana em 1916, e foi ele quem autorizou a intervenção militar no México, primeiro em 1914, para substituir o governo mexicano, e depois em março de 1912, para punir “Pancho” Villa por ter invadido o Novo México.95 Mas ninguém na Grã-Bretanha disse uma palavra. Os Estados Unidos eram poderosos; portanto, não poderia haver um antagonismo anglo-americano.
A política estrangeira britânica entre 1900 e 1906, então, era apaziguar essas potências que pareciam apresentar a maior ameaça à sua posição, mesmo à custa de boas relações com potências menos importantes. A questão é que a Alemanha caiu na última categoria; a França, a Rússia e os Estados Unidos, na primeira.

1. Joll, Second International, p. 196s.
2. Buse, “Ebert”, p. 436.
3. Lênin, Imperialism, passim.
4. Gutsche, “Foreign Policy”, p. 41-62.
5. Zilch, Die Reichsbank, p. 79.
6. Ferguson, World’s Banker, Capítulo 29.
7. Ferguson, Paper and Iron, p. 84.
8. Steed, Through Thirty Years, vol. II, p. 8s.
9. Jahresbericht 1914, p. 1s., Hamburg, Brinckmann, Wirtz & Co.-M. M. Warburg (MMW), Max Warburg Papers, “Jahresbericht 1914”. Cf. Warburg, Aus meinen Aufzeichnungen, p. 29.
10. J. Williamson, Karl Helfferich, p. 105s, 111ss. Ver também Feldman, “Deutsche Bank”, p. 129ss. E sobre diplomacia e bancos alemães, ver, em geral, Barth, Die deutsche Hochfinanz.
11. Pogge von Strandmann, Walther Rathenau, p. 183. Ver também Rathenau, Briefe, vol. I, p. 156ss.
12. Cf. Zilch, Die Reichsbank.
13. Feldman, “War Aims”, p. 2s.
14. Kennedy, Rise and Fall of the Great Powers, esp. p. 269-277; Kennedy, “First World War”, p. 7-40.
15. Ver Henig, Origins, p. 8ss.
16. Geiss, Der lange Weg, p. 54, 116, 123.
17. Geiss, “German Version of Imperialism”, p. 114.
18. Ver e.g. Wilson, Policy of the Entente, p. 96s; T. Wilson, “Britain’s ‘Moral Commitment’”, p. 381ss.
19. Calculado com base em estatísticas de Mitchell, European Historical Statistics; Economist, Economic Statistics; Bairoch, “Europe’s Gross National Product”, p. 281, 303.
20. E. Morgan e Thomas, Stock Exchange, p. 88s.
21. Financial Times, 6 de maio de 1997, p. 18: no período de 1990-1995, os investimentos diretos brutos e os investimentos de portfólios correspondiam a pouco menos de 12% do PIB.
22. Pollard, “Capital Exports”, p. 491s.
23. Gutsche, “Foreign Policy”, p. 50.
24. Ver Buchheim, “Aspects of Nineteenth-Century Anglo-German Trade Policy”, p. 275-289. Ver também Kennedy, Rise of the Anglo-German Antagonism, p. 46ss, 262ss; Cain e Hopkins, British Imperialism, vol. I, p. 461s; Steiner, Britain and the Origins of the First World War, p. 60-63.
25. Para uma discussão sobre o assunto, ver Pollard, Britain’s Prime; Floud, “Britain 1860-1914”, p. 1-26.
26. Cain, Economic Foundations, p. 43ss.
27. Edelstein, Overseas Investment, p. 24ss., 48, 313ss.
28. Davis e Huttenback, Mammon, p. 81-117; Pollard, “Capital Exports”, p. 507.
29. Davis e Huttenback, Mammon, p. 107.
30. Offer, First World War, p. 121.
31. Eichengreen, Golden Fetters, p. 29-66; Eichengreen e Flandreau, “Geography of the Gold Standard”.
32. Reader, At Duty’s Call, p. 71.
33. Ver especialmente Hentschel, Wirtschaft und Wirtschaftspolitik, p. 134. Cf. Sommariva e Tullio, German Macroeconomic History, p. 41-50.
34. Offer, First World War, p. 121-135.
35. Geiss, Der lange Weg, p. 188s.
36. Förster, Der doppelte Militarismus, p. 64.
37. Kaiser, “Germany and the Origins of the First World War”, p. 454s.
38. E. Dugdale, German Diplomatic Documents, vol. I, p. 284.
39. A. J. P. Taylor, Struggle for Mastery, p. 342.
40. Kennan, Fateful Alliance.
41. Stern, Gold and Iron, p. 442.
42. Girault, Emprunts russes, p. 159-162; Kennan, Franco-Russian Relations, p. 382s; Stern, Gold and Iron, p. 446s. Cf. Kynaston, City, vol. I, p. 312.
43. Kennan, Decline of Bismarck’s European Order, p. 387-390; Poidevin, Relations économiques, p. 46-50. Cf. Davis, English Rothschilds, p. 230-232.
44. Poidevin, Relations économiques, p. 46-50.
45. Girault, Emprunts russes, p. 314-320.
46. Ibid., p. 73s.
47. Poidevin, Relations économiques, p. 46-50; Girault, Emprunts russes, p. 73.
48. Lyashchenko, History of the National Economy, p. 714.
49. Números de Mitchell, European Historical Statistics, p. 218, 253-255, 318.
50. Reader, At Duty’s Call, p. 61. Ver também p. 67 para a alusão de H. M. Stanley a “este pesadelo de guerra” com a Rússia e a França.
51. Monger, End of Isolation, p. 10.
52. Kennedy, Rise of the German Antagonism, p. 47s.
53. Koch, “Anglo-German Alliance Negotiations”, p. 392; Kennedy, “German World Policy”, p. 625. Ver também Grey, Twenty-Five Years, vol. I, p. 245.
54. Ver esp. Eckardstein, Lebenserinnerungen; Meinecke, Die Geschichte.
55. Kynaston, City, vol. I, p. 351.
56. Barth, Die deutsche Hochfinanz, p. 39s.
57. Ibid., p. 142ss.; Kynaston, City, vol. II, p. 125ss.
58. Poidevin, Relations économiques, p. 77-79.
59. Garvin, Life of Joseph Chamberlain, vol. III, p. 248s; Barth, Die deutsche Hochfinanz, p. 160s.
60. Garvin, Life of Joseph Chamberlain, vol. III, p. 250ss.
61. Barth, Die deutsche Hochfinanz, p. 163.
62. Ibid., p. 166s.
63. Amery, Life of Joseph Chamberlain, vol. IV, p. 139s, 150; Monger, End of Isolation, p. 15, 19s. Cf. Rich e Fisher, Holstein Papers, vol. IV, p. 197.
64. Barth, Die deutsche Hochfinanz, p. 280s. Ver também G. Gooch e Temperley, British Documents, vol. II, p. 72.
65. B. Dugdale, Arthur James Balfour, vol. I, p. 258s. Para as notas das conversas do próprio Chamberlain, ver Garvin, Life of Joseph Chamberlain, vol. III, p. 259-264.
66. Garvin, Life of Joseph Chamberlain, vol. III, p. 270-280.
67. Amery, Life of Joseph Chamberlain, vol. IV, p. 144ss, 153ss; Monger, End of Isolation, p. 30, 35-38.
68. Rich e Fisher, Holstein Papers, vol. IV, p. 275.
69. Garvin, Life of Joseph Chamberlain, vol. III, p. 503ss; Amery, Life of Joseph Chamberlain, vol. IV, p. 147ss.
70. Garvin, Life of Joseph Chamberlain, vol. III, p. 281, 340s, 505; Amery, Life of Joseph Chamberlain, vol. IV, p. 138; E. Dugdale, German Diplomatic Documents, vol. III, p. 50; Monger, End of Isolation, p. 37.
71. Jay, Chamberlain, p. 219.
72. Garvin, Life of Joseph Chamberlain, vol. III, p. 498, 507s, 510-515.
73. Amery, Life of Joseph Chamberlain, vol. IV, p. 157. Ver também p. 169-180, 191s, 199.
74. Steinberg, “Copenhagen Complex”, p. 27.
75. Langhorne, “Anglo-German Negotiations”, p. 364ss; G. Gooch e Temperley, British Documents, vol. I, p. 44-48; Egremont, Balfour, p. 139; Steiner, Foreign Office, p. 38s.
76. Rich e Fisher, Holstein Papers, vol. IV, p. 71.
77. Garvin, Life of Joseph Chamberlain, vol. III, p. 331-339.
78. Amery, Life of Joseph Chamberlain, vol. IV, p. 201; Monger, End of Isolation, p. 105ss; Kennedy, Rise of the Anglo-German Antagonism, p. 259.
79. Barth, Die deutsche Hochfinanz, p. 134; Gall, “Deutsche Bank”, p. 67-77.
80. Monger, End of Isolation, p. 119-123. Cf. Steiner, Foreign Office, p. 186s. Para aqueles cujas memórias remontam aos anos 1870, essa foi uma decisão estranha: a compra de ações do canal de Suez do Quediva por parte de Disraeli teria sido desaprovada porque os acionistas franceses estavam em maioria.
81. Monger, End of Isolation, p. 13. Cf. Trebilcock, “War and the Failure of Industrial Mobilisation”, p. 141ss; Cain e Hopkins, British Imperialism, vol. I, p. 452; Barnett, Collapse of British Power, p. 75-83.
82. J. Gooch, Plans of War, p. 42-90; D’Ombrain, War Machinery, p. 5s, 9s, 14, 76.
83. Amery, Life of Joseph Chamberlain, vol. IV, p. 144.
84. Rich e Fisher, Holstein Papers, vol. IV, p. 257, 260; Monger, End of Isolation, p. 39-42; Amery, Life of Joseph Chamberlain, vol. IV, p. 163, 182s.
85. Kennedy, “German World Policy”, p. 613.
86. K. Wilson, Policy of the Entente, p. 5.
87. Amery, Life of Joseph Chamberlain, vol. IV, p. 151; Monger, End of Isolation, p. 23-34.
88. Monger, End of Isolation, p. 17, 39s, 113, 129, 132ss, 144s; Andrew, “Entente Cordiale”, p. 11, 19ss.
89. Garvin, Life of Joseph Chamberlain, vol. III, p. 275; Amery, Life of Joseph Chamberlain, vol. IV, p. 180, 184ss, 202-206.
90. Monger, End of Isolation, p. 186-98, 223.
91. K. Wilson, Policy of the Entente, p. 71, 74; Andrew, “Entente Cordiale”, p. 20ss; Monger, End of Isolation, p. 129-133, 192.
92. B. Williams, “Strategic Background”, p. 360-366; Monger, End of Isolation, p. 2, 5ss, 33s, 108ss, 115ss, 123s, 132, 140ss, 185, 216-220; J. Gooch, Plans of War, p. 171, 175.
93. Monger, End of Isolation, p. 200-202, 214-221.
94. R. Williams, Defending the Empire, p. 70ss.
95. M. Jones, Limits of Liberty, p. 396-411.