Tabela 7 Proporção entre a tonelagem de guerra britânica e a alemã, 1880-1914
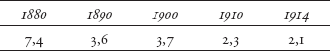
Fonte: Kennedy, Great Powers, p. 261.
No início de 1914, o secretário de Bethmann Hollweg, Kurt Riezler, publicou (sob um pseudônimo) um livro intitulado Characteristics of Contemporary World Politics [Características da política mundial contemporânea], no qual argumentou que os níveis sem precedentes de armamentos na Europa eram, “talvez, o problema mais difícil, urgente e controverso do momento”. Sir Edward Grey, que sempre apreciou as explicações da guerra que minimizavam a ação humana, mais tarde concordaria. “O enorme crescimento dos armamentos na Europa”, escreveu em suas memórias depois da guerra, “[…] a sensação de medo e de insegurança provocada por eles – foi isso o que tornou a guerra inevitável. Do meu ponto de vista, essa é a verdadeira leitura da história […], a explicação real e definitiva das origens da Grande Guerra.”1
Os historiadores em busca de grandes causas para grandes acontecimentos são naturalmente atraídos para a corrida armamentista do pré-guerra como uma possível explicação para a Primeira Guerra Mundial. Conforme expressou David Stevenson: “Um ciclo autoalimentado de militarização cada vez maior […] foi um elemento essencial na conjuntura que levou ao desastre […] A corrida armamentista […] foi uma precondição necessária para a eclosão de hostilidades”.2 David Herrmann vai mais longe: ao criar uma sensação de que “as portas de oportunidade para uma guerra vitoriosa” estavam se fechando, “a corrida armamentista, com efeito, precipitou a Primeira Guerra Mundial”. Se o arquiduque Francisco Ferdinando tivesse sido assassinado em 1904 ou mesmo em 1911, especula Herrmann, poderia não ter havido guerra nenhuma; foram “a corrida armamentista […] e a especulação sobre guerras preventivas ou iminentes” que fizeram que sua morte em 1914 desencadeasse a guerra.3
Porém, como Stevenson e Herrmann reconhecem, não há uma lei da história afirmando que todas as corridas armamentistas terminam em guerras. A experiência da Guerra Fria mostra que uma corrida armamentista pode evitar que dois blocos inimigos entrem em guerra e, finalmente, culminar no colapso de um dos lados sem a necessidade de um conflito em grande escala. Por outro lado, os anos 1930 ilustram o perigo de não haver uma corrida armamentista: se a Grã-Bretanha e a França tivessem acompanhado o rearmamento alemão depois de 1933, teria sido muito mais difícil para Hitler persuadir seus generais a remilitarizarem a Renânia ou a arriscarem uma guerra pela Checoslováquia.
O ponto crucial da corrida armamentista antes de 1914 é que um lado perdeu, ou acreditou estar perdendo. Foi essa crença que persuadiu seus líderes a apostar na guerra antes de ficarem muito para trás. Riezler errou ao afirmar que “[…] quanto mais as nações se militarizam, maior deve ser a superioridade de uma com relação à outra para que a balança penda a favor da guerra”. Ao contrário: a margem de desvantagem precisou ser muito pequena – talvez, de fato, apenas uma margem projetada de desvantagem – para que o lado perdedor na corrida armamentista arriscasse uma guerra. O paradoxo é que a potência que se encontrava nessa posição de derrota incipiente era a potência com a maior reputação por militarismo excessivo – a Alemanha.
Além das rivalidades econômicas e imperiais discutidas nos capítulos anteriores, o programa naval alemão é tradicionalmente visto pelos historiadores como a principal causa de deterioração das relações anglo-germânicas.4 A reação britânica, entretanto, logo demonstrou que essa ameaça tinha poucas chances de se concretizar. De fato, tão decisiva foi a vitória britânica na corrida armamentista naval que é difícil concebê-la, em algum sentido, como causa da Primeira Guerra Mundial.
Em 1900, o Primeiro Lorde do Almirantado, o conde de Selborne, havia comentado sombriamente que uma “aliança formal com a Alemanha” era “a única alternativa para uma Marinha cada vez maior e estimativas navais cada vez mais altas”.5 Mas, em 1902, ele mudou completamente de opinião, tendo se “convencido de que a nova Marinha alemã está sendo construída com base na perspectiva de uma guerra contra nós”.6 Essa foi uma conclusão compreensível. Já em 1896, o Korvettenkapitän (mais tarde, almirante) Georg von Müller havia resumido o objetivo da Weltpolitik alemã como sendo: impedir “o domínio do mundo por parte da Grã-Bretanha e, assim, tornar disponíveis as propriedades coloniais necessárias para que os Estados da Europa Central possam se expandir”.7
No entanto, o programa naval de Tirpitz não significava necessariamente guerra. O propósito era, em parte, defensivo – e longe de ser irracional, considerando-se o perigo de um bloqueio naval britânico no caso de uma guerra contra a Alemanha.8 A capacidade ofensiva das frotas alemãs planejadas também era limitada. Quando muito, Tirpitz visava construir uma esquadra grande o suficiente (60 navios) para que o risco de uma guerra anglo-germânica fosse tão elevado que a Marinha Real britânica o consideraria inaceitável. Isso, conforme Tirpitz explicou ao Kaiser em 1899, faria a Grã-Bretanha “conceder à Sua Majestade tal escala de influência marítima que Sua Majestade poderá conduzir uma excelente política ultramarina” – em outras palavras, sem uma guerra.9
O que a esquadra alemã fez, então, foi representar uma ameaça ao poder naval quase monopólico da Grã-Bretanha; ou melhor, teria representado uma ameaça se tivesse sido concluída sem que ninguém em Londres percebesse. Enquanto a esquadra estava sendo construída, conforme observou Bülow, a Alemanha era “como a lagarta antes de se transformar em borboleta”.10 Mas a crisálida era demasiado transparente (até mesmo a inteligência militar amadora da Grã-Bretanha era capaz de identificar um navio de guerra sendo construído, sobretudo um que havia sido autorizado pelo Reichstag).
Em 1905, ao término das primeiras reformas navais de Fisher, o diretor de Inteligência Naval pôde descrever com segurança a “preponderância marítima” da Grã-Bretanha sobre a Alemanha como “avassaladora”.11 Isso era certo: o número de navios de guerra aumentou de 13 para 16 entre 1898 e 1905, ao passo que a frota de guerra britânica cresceu de 29 para 44 navios. Isso não estava à altura do padrão naval combinado das duas maiores potências rivais, tal como definia a lei de 1889, mas era suficiente para controlar uma ameaça exclusivamente alemã; de fato, foi, para Berlim, um lembrete da ameaça britânica à Alemanha – daí o pânico de um ataque naval britânico preventivo que tomou conta da cidade em 1904-1905.12 A meta original de Tirpitz era que a proporção entre o poder naval britânico e o alemão fosse de 1,5 para 1. Como mostra a Tabela 7, ele nunca chegou lá.
Tabela 7 Proporção entre a tonelagem de guerra britânica e a alemã, 1880-1914
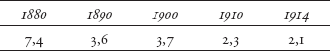
Fonte: Kennedy, Great Powers, p. 261.
A campanha orquestrada pela imprensa direitista na Grã-Bretanha em 1909 se assegurou disso. Os alarmistas britânicos – aqueles que clamavam “We want eight and we won’t wait”, isto é, “Queremos oito [novos encouraçados] e queremos já” – acreditavam que os alemães visavam aumentar tanto o ritmo de construção que, em alguns anos, teriam mais encouraçados do que a Marinha Real.13 De fato, o total alemão em 1912 era 9, contra 15 da Grã-Bretanha.14 Quando veio a guerra, a Tríplice Entente tinha 43 dos maiores navios de guerra; os Impérios Centrais, apenas 20 (Tabela 8).15
Os alemães sabiam que haviam perdido. Já em novembro de 1908, o respeitável Marine-Rundschau publicou um artigo anônimo que admitia isso:
a Grã-Bretanha só poderia ser derrotada por uma potência que assumisse o comando permanente do mar britânico. Tal potência precisaria ter não só uma frota do mesmo tamanho daquela da Marinha Real, como também um maior número de grandes navios de guerra. Encurralada entre a França e a Rússia, a Alemanha deve manter o maior Exército do mundo […] Obviamente, está além do alcance da economia alemã financiar, ao mesmo tempo, uma frota capaz de superar a britânica.16
Tabela 8 O poder naval das potências em 1914
|
País |
Pessoal |
Grandes embarcações navais |
Tonelagem |
|
Rússia |
54.000 |
4 |
328.000 |
|
França |
68.000 |
10 |
731.000 |
|
Grã-Bretanha |
209.000 |
29 |
2.205.000 |
|
TOTAL |
331.000 |
43 |
3.264.000 |
|
Alemanha |
79.000 |
17 |
1.019.000 |
|
Áustria-Hungria |
16.000 |
3 |
249.000 |
|
TOTAL |
95.000 |
20 |
1.268.000 |
Fonte: Reichsarchiv, Weltkrieg, erste Reihe, vol. I, p. 38s.
Assim, à pergunta de Bülow, em junho de 1909 – “quando seríamos capazes de encarar, com segurança, uma guerra contra a Inglaterra” –, Tirpitz só pôde responder que “em cinco ou seis anos, o perigo já não existiria”. Com base nessa resposta inepta, o então chefe do Estado-Maior, Helmuth Johann Ludwig von Moltke, “o Jovem”, concluiu que “não havia nenhuma chance de [a Alemanha] sair vitoriosa em um conflito com a Inglaterra” e, portanto, clamou por “um acordo honroso” entre os dois países.17 O chamado “conselho de guerra” de chefes militares convocado pelo Kaiser em dezembro de 1912 na verdade não foi nada do tipo. Embora Moltke defendesse uma “guerra o mais cedo possível”, Tirpitz pediu outros 18 meses porque sua esquadra ainda não estava pronta. O resultado das negociações, como o almirante Müller observou em seu diário, foi “praticamente nulo”.
A preservação da supremacia marítima da Grã-Bretanha encorajou a autoconfiança exacerbada no Almirantado. Os temores alemães de uma nova Copenhague eram mais do que meras fantasias: Fisher garantiu a lorde Lansdowne em abril de 1905 que, com apoio francês, a Marinha “poderia ter a frota alemã, o canal de Kiel e Schleswig-Holstein em duas semanas”. Da mesma maneira, Fisher tinha uma confiança inabalável na capacidade de a Grã-Bretanha impor um bloqueio comercial efetivo à Alemanha. “É tão peculiar que a Providência tenha colocado a Inglaterra como uma espécie de quebra-mar gigantesco contra o comércio alemão”, observou Fisher em abril de 1906. “Nossa superioridade naval é tanta que, no dia da guerra, ‘exterminamos’ 800 navios mercadores alemães. Imaginem o golpe esmagador ao comércio e às finanças da Alemanha. Digno de Paris!”18 Essa crença de que era possível decidir uma guerra impedindo a Alemanha de importar alimentos esteve muito arraigada nos círculos navais em 1907:19 foi por isso que houve tanta oposição às resoluções formuladas na Segunda Conferência de Paz de Haia naquele ano para restringir o uso do bloqueio durante as hostilidades.20 Como sir Charles Ottley, ex-presidente da Inteligência Naval e secretário do Comitê de Defesa Imperial, explicou em dezembro de 1908, a visão do Almirantado era de que:
(numa guerra prolongada) as engrenagens da nossa potência marítima (embora, talvez, oprimissem lentamente a população alemã) a triturariam “em pedacinhos” – mais cedo ou mais tarde, o mato tomaria conta das ruas de Hamburgo e haveria escassez e ruína em toda parte.21
A superioridade britânica pareceu tão avassaladora que, para devotos do “navalismo” como Esher, era difícil imaginar a Alemanha arriscando uma guerra marítima.22 Tirpitz estava bem ciente do perigo: em janeiro de 1907, ele alertou que a Alemanha sofreria sérios déficits de alimentos em uma guerra que, segundo suas previsões, duraria um ano e meio.23
Os políticos britânicos também se recusaram a reconhecer a legitimidade de qualquer ameaça à sua “supremacia absoluta” no mar. Para Haldane, o padrão de duas potências parecia sacrossanto, e o custo crescente de mantê-lo era culpa da Alemanha, por tentar diminuir a brecha.24 Para Churchill, a Marinha britânica era “uma necessidade” da qual dependia a “existência” da Grã-Bretanha, ao passo que a Marinha alemã não passava de “um luxo”, cujo propósito era unicamente a “expansão” – uma tremenda impostura, considerando-se os planos britânicos de bloqueio.25 Depois de entrar para o Almirantado em outubro de 1911, Churchill até elevou a aposta, visando manter um novo “padrão de 60% […] não só com relação à Alemanha, como também com relação ao resto do mundo”.26 “A Tríplice Aliança está sendo superada pela Tríplice Entente”, ele vociferou para Grey em outubro de 1913.27 No mês seguinte, perguntou, sem meias-palavras: “Por que devemos supor que não seríamos capazes de derrotar [a Alemanha]? Um estudo do poder marítimo comparativo na linha de batalha seria reconfortante”.28 Em 1914, como Churchill lembrou, “a rivalidade naval havia […] deixado de ser motivo de atrito […] Estávamos agindo de maneira inflexível […] era certo que não podíamos ser superados”.29 Mesmo Asquith mais tarde admitiu que “a competição nos gastos com a Marinha, por si só, não representava um perigo imediato. Nós estávamos determinados a manter nossa preponderância necessária no mar e estávamos capacitados para levar tal determinação adiante”.30 Lloyd George chegou a ponto de declarar que a corrida naval havia chegado ao fim em uma entrevista ao Daily News em janeiro de 1914:
As relações com a Alemanha são infinitamente mais amigáveis agora do que foram durante anos […] A Alemanha não tem nada que a aproxime do nível [de poder naval] de duas potências [rivais combinadas] […] É por isso que estou convencido de que, mesmo se a Alemanha algum dia teve a intenção de desafiar nossa supremacia no mar, as exigências da situação atual a levaram a abandonar totalmente essa ideia.31
A confiança dos “navalistas” britânicos em sua superioridade com relação à Alemanha também se faz notar no modo como avaliaram a ameaça de uma invasão alemã – o pesadelo favorito dos alarmistas. O Comitê de Defesa Imperial foi despersuadido pelo documento alarmista de William Robertson de 1903 (ver Capítulo 1), e um documento do Estado-Maior em 1906 também foi cético quanto à viabilidade de uma invasão alemã.32 Quando (depois que lorde Roberts confirmou publicamente a “ameaça” de invasão) um Subcomitê de Defesa Imperial foi instaurado para investigar o assunto em 1907, o relatório concluiu de maneira inequívoca: “[…] deve-se rejeitar a ideia arraigada de que a Alemanha poderia assumir o controle do mar do Norte por um período longo o suficiente para permitir a travessia imperturbável dos transportes; isso é impraticável”.33 Quando a possibilidade de uma invasão alemã foi, mais uma vez, posta em discussão em 1914, pareceu igualmente improvável.34 Isto era certo: de fato, os alemães haviam abandonado a ideia mais de dez anos antes.35
Os alemães enfrentavam uma desvantagem similar em terra, sobretudo depois que a aliança franco-russa foi consolidada. Mesmo antes disso, a experiência de uma resistência francesa desesperada depois da derrota em Sedan em 1870 havia persuadido Helmuth Karl Bernhard von Moltke, o “jovem Moltke”, de que, no caso de uma guerra contra ambas as potências, a Alemanha “não poderia esperar se livrar rapidamente de um inimigo por meio de uma ofensiva breve e bem-sucedida, o que a deixaria livre para lidar com o outro inimigo”.36 Seu discípulo, Colmar von der Goltz, ecoou essa opinião em seu livro Das Volk in Waffen [O povo em armas], afirmando: “a guerra, no futuro próximo, deve perder grande parte do elemento de mobilidade que tanto caracterizou nossas últimas campanhas”.37 Possivelmente o alerta mais devastador de que os dias de guerras breves e limitadas haviam chegado ao fim veio em 1895 do intendente do Estado-Maior, o major-general Köpke. No caso de uma guerra em duas frentes, ele previu (em um memorando secreto, cujo original não foi conservado):
mesmo com o espírito mais ofensivo […] nada pode ser alcançado além de um lento, tedioso e sanguinário avanço – em certas ocasiões, por meio de um ataque comum ao estilo do cerco – para, pouco a pouco, obter algumas vantagens […] Não podemos esperar vitórias rápidas e decisivas. O Exército e a nação terão de se acostumar com essa ideia logo no início, a fim de evitar um pessimismo alarmante bem no começo da guerra […] A guerra de posicionamento de maneira geral, o conflito ao longo das fortificações de campanha, o cerco de grandes fortalezas, devem ser realizados com sucesso. Do contrário, não seremos capazes de obter vitórias contra os franceses. Com sorte, então, não careceremos dos necessários preparos intelectuais e materiais e, no momento decisivo, estaremos bem treinados e equipados para essa forma de combate.38
A análise de Köpke foi substancialmente confirmada pelo uso de entrincheiramento na guerra russo-japonesa. Foi a crença de que as fortificações russas eram inferiores às francesas – e sua mobilização, mais lenta – que levou Moltke e Waldersee a adotarem a ideia de atacar a Rússia primeiro se a guerra viesse.39
Como é bem sabido, Schlieffen, quando sucedeu Waldersee como chefe do Estado-Maior alemão, procurou resolver o problema das defesas francesas driblando-as, atacando a França pelo norte. Já em 1897, ele teve a ideia de um rápido avanço por Luxemburgo e pela Bélgica; em 1904-1905, ele tinha esboçado os principais elementos de um grande movimento de flanco, agora passando também pela Holanda; e, em dezembro de 1905, pouco antes de se aposentar, concluiu seu famoso Grosse Denkschrift. Nesse documento, Schlieffen vislumbrou uma grande ofensiva com aproximadamente dois terços do Exército alemão (33,5 divisões), que atravessariam a Bélgica e a Holanda e chegariam ao norte da França. Os territórios da Alsácia-Lorena e do leste da Prússia mal seriam defendidos: apenas uma divisão permaneceria neste último para resistir ao esperado avanço russo. O objetivo era nada menos que a “aniquilação” (Vernichtung) do Exército francês em seis semanas, e depois disso toda tropa inimiga que tivesse entrado em território alemão seria eliminada.40
Mas desde o princípio, e até a eclosão da guerra em 1914, houve um defeito no plano: oito das divisões que Schlieffen planejava usar não existiam. Os historiadores há muito estão familiarizados com os argumentos da elite militar contra a expansão do Exército: Kehr detalhou-os nos anos 1920.41 Como afirmou Stig Förster, houve, de fato, um “duplo militarismo” na Alemanha – ou melhor, dois militarismos: um militarismo “de cima”, reacionário, “tradicional, prussiano, conservador”, que predominou entre 1890 e 1905, e um militarismo “de baixo”, “burguês”, que “tendeu à direita radical” e triunfou a partir daí.42 Para o primeiro, a aspiração essencial era, como Waldersee afirmou em 1897, “manter o Exército intacto”.43 Em outras palavras, isso significava tentar manter o percentual de oficiais oriundos de famílias aristocráticas em torno de 60%; e o percentual de suboficiais e de outros escalões de áreas rurais no mesmo nível, de modo a excluir aqueles “elementos democráticos e outros, inadequados para o Estado [militar]”, contra os quais posteriormente alertou o ministro da Guerra prussiano, Karl von Einem.44 Nesse aspecto, os militares conservadores podiam se unir a Tirpitz e aos demais defensores da construção de uma grande frota alemã. Sucessivos ministros da Guerra não hesitaram em aceitar a subordinação do Exército à Marinha nos aumentos orçamentários para a defesa e em concordar com um crescimento modesto no tamanho do Exército. Entre 1877 e 1889, o efetivo do Exército alemão em tempos de paz havia estagnado em torno de 468.400 homens. Nos sete anos subsequentes, cresceu apenas para 557.430, apesar de duas tentativas de implementar o serviço militar obrigatório (que teria acrescentado 150.200 homens em 1890). Depois disso, houve aumentos mínimos, de modo que o efetivo em tempos de paz era pouco mais de 588.000 em 1904 (ver Figura 1). Talvez a melhor prova dos limites do militarismo alemão seja o conservadorismo do próprio Exército alemão.
No entanto, em dezembro de 1912 – quase 20 anos depois da tentativa fracassada de Caprivi, o chanceler do Reich, de implementar o serviço militar obrigatório –, muita coisa havia mudado no Exército, apesar dos esforços dos conservadores. Sem dúvida, a proporção de generais que eram aristocratas havia diminuído só um pouco, e os cargos mais altos continuavam abarrotados de Von Bülows e Von Arnims.45 Mas a proporção de todos os oficiais do Exército que eram aristocratas caiu de 65% para apenas 30%. A mudança foi mais perceptível no Estado-Maior, que, em 1913, era 70% não aristocrata, com alguns departamentos – em particular a importante Divisão de Ferrovias – quase totalmente compostos de oficiais vindos da classe média.46 Aqui, o espírito era tecnocrático em vez de conservador, e a maior preocupação era com inimigos externos, e não internos – acima de tudo, com a ameaça representada pelos Exércitos francês e russo. A figura mais dinâmica da nova “meritocracia” militar era Erich Ludendorff, que já em julho de 1910 afirmara que “qualquer Estado envolvido em uma luta pela sobrevivência […] deve usar todas as suas forças e recursos”.47 Em novembro de 1912, ele defendeu a implantação do serviço militar obrigatório em uma linguagem que remetia à era das Guerras de Libertação: “Precisamos, mais uma vez, nos tornar o povo em armas”.48 O “Grande Memorando” de Ludendorff de dezembro de 1912 instava a convocar outros 30% dos elegíveis para o serviço militar (elevando a taxa de recrutamento de 52% para 82%, isto é, ao nível francês), um aumento total de 300 mil recrutas em dois anos.49 Até mesmo Bethmann pareceu persuadido: “Não podemos nos dar ao luxo de deixar de fora nenhum recruta capaz de usar um capacete”, declarou ele.50 Para os militares conservadores no Ministério da Guerra, as conotações radicais do plano de Ludendorff eram claras. O general Franz von Wandel retorquiu: “Se continuar assim com suas exigências, levará o povo alemão à [beira da] revolução”.51 Quando o Kaiser pareceu apoiar a ideia de uma nova lei das Forças Armadas no “conselho de guerra” de dezembro de 1912, o ministro da Guerra Josias von Heeringen objetou, “porque nem toda a estrutura do Exército, instrutores, quartéis, etc. seria capaz de absorver mais recrutas”. De fato, Heeringen chegou a ponto de culpar explicitamente a “agitação da Liga do Exército e os Pangermânicos” pelas “dúvidas […] a respeito da capacidade de combate” que haviam surgido em “seções do Exército”.52 Ao denunciar o plano de Ludendorff como “democratização” do Exército, Heeringen conseguiu que este fosse rebaixado a um comando de regimento em Dusseldorf e redigiu uma lei alternativa para aumentar para apenas 117 mil tropas.53
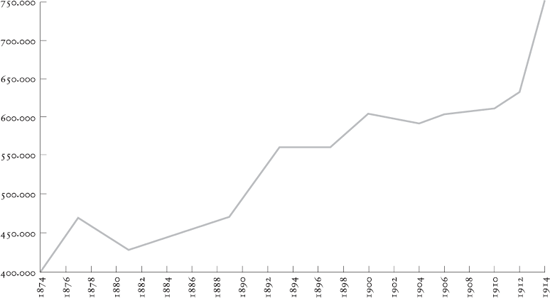
Figura 1 Efetivo do Exército alemão em tempos de paz, 1874-1914
Nota: Os números não incluem Landsturm (milícia) nem Landwehr (territoriais).
Fonte: Förster, Doppelte Militarismus.
Ludendorff estava certo. As leis de 1912 e 1913 aumentaram o efetivo do Exército alemão em tempos de paz para 748 mil homens. Mas as forças da Rússia e da França haviam crescido mais rapidamente nos anos anteriores. Em 1913-1914, os Exércitos russo e francês tinham um efetivo total em tempos de paz de 2,17 milhões de homens, em comparação com um efetivo alemão e austríaco combinado de 1,242 milhão: uma discrepância de 928 mil homens. Em 1912, a diferença havia sido de apenas 794.665; e, em 1904, somente 260.982.54 Isso significava que, em tempos de guerra, o Exército alemão totalizava cerca de 2,15 milhões de soldados, aos quais poderiam se somar 1,3 milhão das tropas de Habsburgo; ao passo que os Exércitos combinados da Sérvia, Rússia, Bélgica e França em tempos de guerra totalizavam 5,6 milhões de homens (ver Tabela 9).55
A desvantagem cada vez maior também fica clara se considerarmos os números totais convocados em 1913-1914: 585 mil contra 383 mil. De acordo com o Estado-Maior alemão, 83% dos elegíveis para o serviço militar obrigatório na França desempenhavam a função; em comparação com 53% na Alemanha (ver Tabela 10).56 É verdade que apenas 20% da coorte anual na Rússia foi convocada, mas, considerando-se os gigantescos números absolutos envolvidos, isso era um parco consolo para Berlim.57 Como o próprio Schlieffen colocou em 1905, “Nós continuamos nos gabando de nossa população numerosa […] mas essas massas não estão treinadas e armadas à altura dos que estão aptos [para o serviço militar]”.58 “Embora o Império Alemão tenha 65 milhões de habitantes, em comparação com 40 milhões do Império Francês,” comentou Bernhardi sete anos mais tarde, “esse excesso populacional representa capital morto, a menos que uma maioria proporcional de recrutas seja alistada anualmente, e a menos que, em tempos de paz, configure-se o dispositivo necessário para sua organização”.59 “Farei o que estiver a meu alcance”, Moltke disse ao chefe do Estado-Maior do Império Austro-Húngaro, o barão Franz Conrad von Hötzendorf, em maio de 1914. “Nós não somos superiores aos franceses.”60
Tabela 9 As forças militares dos Estados europeus em 1914
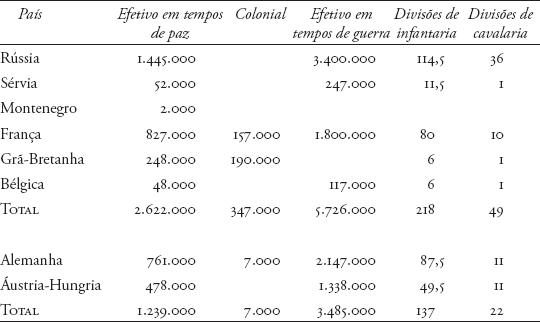
Fonte: Reichsarchiv, Weltkrieg, erste Reihe, vol. I, p. 38s.
Tabela 10 Os potenciais militares dos Estados europeus em 1914
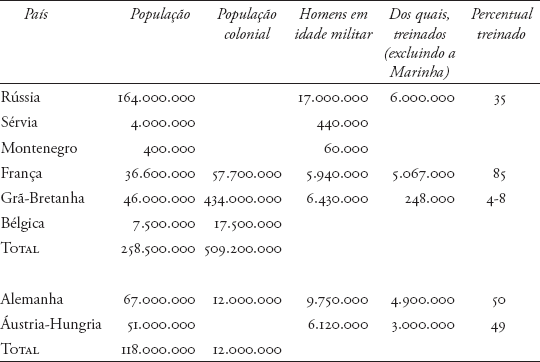
Fonte: Reichsarchiv, Weltkrieg, erste Reihe, vol. I, p. 38s.
A Figura 2 resume o problema, mostrando quão maiores eram os Exércitos francês e russo combinados em comparação com os da Alemanha e Áustria-Hungria às vésperas da guerra. Considerando-se as divisões (um termo que tinha significados distintos nos diferentes países), a situação era ainda pior.61
Como mostra a Tabela 11, a sociedade mais militarizada da Europa – isto é, com a maior proporção da população nas Forças Armadas – no período que antecedeu a guerra era, sem dúvida, a França: 2,29% da população estava no Exército e na Marinha. A Lei dos Três Anos em serviço militar, aprovada em julho de 1913, só fez consolidar uma liderança de longa data.62 A Alemanha vinha em segundo lugar (1,33%), mas a Grã-Bretanha não ficava muito atrás (1,17%). Esses números, sozinhos, confirmam que Norman Angell estava certo quando disse que a Alemanha só tinha a “fama (injusta, por sinal) de ser a nação mais militarizada da Europa”.63
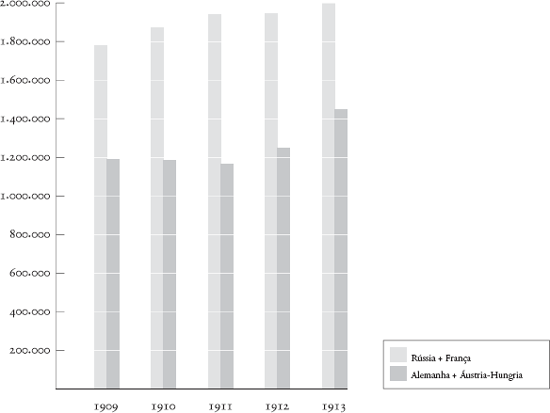
Figura 2 Os Exércitos das quatro principais potências europeias, 1909-1913
Nota: Os números referentes à Áustria-Hungria em 1913 foram obtidos em outra fonte, já que a fonte de Herrmann (von Loebells
Fonte: Herrmann, Arming of Europe, p. 234.
É claro, os números não são tudo. É verdade que, quando outros fatores (em particular a proporção de oficiais, suboficiais e armamentos) são levados em conta, a discrepância era menos pronunciada. No Exército alemão, o debate entre os conservadores e os radicais era tanto sobre tecnologia militar quanto sobre força humana. Estavam em discussão questões sobre a utilidade da cavalaria, a necessidade de uma artilharia de campo de maior qualidade e a necessidade de equipar o Exército com metralhadoras. Em particular, os radicais no Estado-Maior se distinguiam por sua preocupação com o papel das ferrovias.
Tabela 11 Percentual da população nas Forças Armadas (Exército e
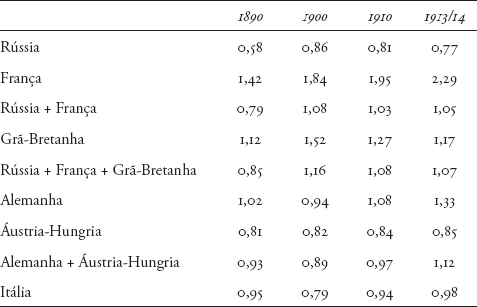
Nota: Os números populacionais fornecidos por Kennedy se referem ao ano de 1913; os números das Forças Armadas, ao ano 1914.
Fonte: Kennedy, Great Powers, p. 255, 261.
Nesse aspecto, certamente, muito se havia avançado. Em 1870, eram necessários 27 dias para mobilizar o Exército prussiano contra a França; até 1891, a mobilização alemã nas fronteiras do Reich ainda ocorria em cinco fusos horários diferentes. Nas décadas seguintes, o Estado-Maior se dedicou a melhorar isso. Embora seu trabalho incluísse jogos de guerra, a confecção de mapas, o ensino de história militar e “cavalgadas” rurais,64 era responsabilidade do Estado-Maior conceber e aperfeiçoar o Plano de Locomoção Militar – a quinta etapa da mobilização alemã –, o que era crucial. Em uma das versões posteriores de seu plano, Schlieffen havia tomado a Batalha de Canas como modelo para uma futura “guerra de aniquilação” contra a França; mas foram os tecnocratas como Wilhelm Groener que tiveram de descobrir como fazer o Exército alemão chegar ao campo decisivo no momento oportuno. Aqui, um conhecimento dos clássicos importava menos que um conhecimento dos mapas ferroviários e dos horários de partida e chegada dos trens. Às vésperas da guerra, o Plano de Locomoção Militar havia sido reduzido a um exercício de 312 horas, e envolvia 11 mil trens transportando 2 milhões de homens, 600 mil cavalos e os suprimentos necessários.65
Mas nem mesmo com esse notável feito de logística os alemães se sentiram satisfeitos. Além dos números russos e da artilharia russa, as ferrovias russas eram um grande motivo de apreensão em Berlim em 1914.66 Tais temores se generalizaram em decorrência do depoimento de Groener no Comitê Orçamentário do Reichstag em abril de 1913, em que ele afirmava que a Alemanha havia ficado para trás da Rússia e da França na construção ferroviária desde 1870.67 Isso era verdade. Entre 1900 e 1914, o número de trens que podiam partir da Rússia rumo ao oeste em um único dia aumentou de 200 para 360. Em setembro de 1914, os russos tentaram implementar um novo plano de mobilização (o Plano 20), que teria reduzido de 30 para 18 dias o tempo necessário para colocar 75 divisões de infantaria em campo.68
Não há dúvida de que os alemães superestimaram seus inimigos em alguns aspectos. Os russos certamente eram mais numerosos, mas estavam muito mal equipados. Os franceses, apesar de todo o seu comprometimento militar, viam-se prejudicados por sua estratégia absurda: o Plano XVII, a ofensiva sobre a Alsácia-Lorena concebida por Joffre e aprovada em maio de 1913, baseava-se no pressuposto de que a ofensiva (por meio de cargas de cavalaria e avanços em formação fechada com baionetas fixas) era a melhor forma de defesa.69 Em particular, a crença dos generais franceses de que, nas palavras do especialista em artilharia Hippolyte Langlois em 1904, “o crescimento constante do poder da artilharia sempre facilita o ataque” os levou a perder homens em tal escala durante os primeiros meses da guerra que eles por pouco não entregaram a vitória aos alemães.70 Ainda mais obtuso foi o fato de que os franceses não fizeram nada para evitar que a área de Briey, economicamente vital (responsável por cerca de três quartos da produção de minério de ferro da França), caísse em mãos inimigas.71
Por outro lado, é incorreto afirmar que os temores alemães de um declínio relativo de seu poder militar eram infundados. Parece cada vez mais evidente que aqueles que sabiam das coisas no Estado-Maior perceberam que o Plano Schlieffen não poderia ser implementado tal como fora concebido. A fim de resistir à ofensiva francesa antecipada em Lorena, Moltke julgou necessário afastar as tropas da ala direita, cujo propósito era cercar Paris, para canalizar seu avanço pelo território belga, deixando a Holanda incólume, e, para apoiar os austríacos, usar o 8º Exército no ataque inicial contra a Rússia. Tal como se encontrava o plano em 1914, era quase certo que não aniquilaria o Exército francês, sobretudo porque nenhum exército poderia ter marchado tanto e tão rapidamente quanto se esperava que o 1º Exército na ala à extrema direita marchasse – quase 500 quilômetros em um mês – sem sucumbir à exaustão física.72 Pode ter sido por isso que Moltke decidiu evitar a Holanda, para que pudesse continuar a agir como uma “garganta” neutra para as importações alemãs. Moltke já havia alertado o Kaiser em janeiro de 1905 que uma guerra contra a França não poderia ser “vencida em uma batalha decisiva, transformando-se num longo e tedioso combate com um país que não desistirá enquanto a força de todo o seu povo não houver se esgotado. Nosso povo também estará totalmente exausto, mesmo que sejamos vitoriosos”. Essa análise havia sido confirmada por um relatório do Terceiro Departamento do Estado-Maior em maio de 1910. Moltke e Ludendorff haviam até mesmo escrito ao ministro da Guerra em novembro de 1912, alertando:
Precisamos estar preparados para travar uma longa campanha com uma série de batalhas difíceis e demoradas, até derrubarmos um de nossos inimigos; a tensão e o consumo de recursos aumentarão, já que teremos de ganhar em várias frentes, no Ocidente e no Oriente, uma após outra e […] lutar com inferioridade contra a superioridade. Será absolutamente necessário contar com muita munição por um longo período […]73
Essa foi sua segunda solicitação por um aumento no estoque de munição. Em 14 de maio de 1914, Moltke alertou explicitamente o ministro do Interior, Delbrück, de que “uma guerra duradoura contra duas frentes só poderia ser mantida por um povo economicamente forte”.74
Os historiadores muitas vezes se perguntaram por que os líderes políticos e militares da Alemanha estavam tão pessimistas nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Em 1909, por exemplo, Tirpitz temeu que a Marinha britânica fizesse um ataque-relâmpago contra sua frota; ao passo que Schlieffen, já aposentado, tinha pesadelos com um “ataque aos Impérios Centrais” por parte da França, da Rússia, da Grã-Bretanha e da Itália:
Chegado o momento, as pontes levadiças descerão, as portas se abrirão e os exércitos de milhões de homens sairão, avançando e destruindo, pelos Vosges, o Meuse, o Niemen, o Bug e até mesmo o Isonzo e os Alpes Tiroleses. O perigo parece gigantesco.75
Moltke também estava consciente da “cabeça de Medusa da guerra arreganhando os dentes” para ele já em 1905. “Todos vivemos sob uma terrível pressão que aniquila a alegria da conquista”, confessou em seu diário, “e quase nunca podemos começar alguma coisa sem escutar a voz interior dizendo: ‘Para quê? É tudo em vão!’.”76 Para Moltke, mesmo quando a ofensiva alemã teve início, a guerra significava “a fragmentação mútua das nações civilizadas da Europa” e a “destruição [da] civilização em quase toda a Europa durante as próximas décadas”.77 “A guerra”, ele declarou dolorosamente depois de seu fracasso e demissão em setembro de 1914, “demonstra como as épocas de civilização seguem-se umas às outras de maneira progressiva, como cada nação tem de cumprir seu papel predeterminado no desenvolvimento do mundo […] Presumindo que a Alemanha seja aniquilada nesta guerra, isso significaria a destruição da vida intelectual alemã, da qual depende o desenvolvimento da humanidade, e da cultura alemã; todo o desenvolvimento da humanidade seria freado da forma mais desastrosa […].”78 O mesmo fatalismo é perceptível nas observações posteriores de Conrad, chefe do Estado-Maior do Império Austro-Húngaro.79 Inclusive um militarista entusiasta como Bernhardi precisou racionalizar a possibilidade de um fracasso “na próxima guerra”: “Até a derrota pode render bons frutos”.80 Isso foi exatamente o que o general Erich von Falkenhayn, o homem que sucederia Moltke, afirmou em 4 de agosto de 1914: “Mesmo se formos arruinados por ela, ainda assim era bela [Wenn wir auch darüber zugrunde gehen, schön war’s doch]”.81 Às vésperas da guerra, os líderes militares da Alemanha se sentiam vulneráveis, e não poderosos.
E não só seus líderes militares. Pois ninguém sentiu esse pessimismo com mais intensidade do que Bethmann Hollweg, o chanceler do Reich. Conforme confessou em 1912, ele estava “muitíssimo aflito quanto à força relativa [da Alemanha] no caso de uma guerra. É preciso ter uma boa dose de confiança em Deus e contar com a Revolução Russa como aliada para conseguir dormir um pouco”.82 Em junho de 1913, ele admitiu estar “farto da guerra, do clamor pela guerra e das preparações eternas. Já passou da hora de as grandes nações se aquietarem novamente […] do contrário, ocorrerá uma explosão que ninguém merece, e que machucará a todos”.83 Para o líder do Partido Nacional Liberal, Bassermann, ele disse, com “resignação fatalista: ‘Se houver uma guerra contra a França, até o último inglês marchará contra nós’”.84 Seu secretário, Kurt Riezler, lembrou alguns dos pensamentos de Bethmann nas anotações que fez em seu diário em 7 de julho de 1914:
O chanceler prevê que uma guerra, qualquer que seja o desfecho, resultará no extermínio de tudo que existe. O [mundo] existente totalmente antiquado, sem ideias […] Névoa espessa sobre o povo. O mesmo em toda a Europa. O futuro pertence à Rússia, que não para de crescer, e pesa sobre nós como um pesadelo cada vez mais terrível […] O chanceler [está] muito pessimista quanto ao estado intelectual da Alemanha.85
Em 20 de julho, Bethmann voltou a falar da Rússia: “As reivindicações da Rússia [estão] crescendo [junto com sua] força extremamente explosiva […] Em alguns anos já não será detida, em particular se a presente constelação europeia persistir”. Uma semana depois, ele disse a Riezler que sentia haver “uma sina [Fatum] maior do que a capacidade humana pendendo sobre a Europa e sobre o nosso povo”.86 Esse clima de quase desespero, que os historiadores culturais por vezes atribuíram a uma excessiva exposição às obras de Nietzsche, Wagner e Schopenhauer, torna-se mais compreensível quando a realidade militar da Europa em 1914 é levada em consideração.
O que tornou mais plausível a análise alemã de que sua estratégia estava se deteriorando foi a situação ainda pior dos Exércitos de seus aliados. Conrad alertou Moltke em fevereiro de 1913 que a “inimizade” entre a Áustria-Hungria e a Rússia assumiu “a forma de um conflito racial”:
Dificilmente podemos esperar que nossos eslavos, que correspondem a 47% da população, mostrem entusiasmo em lutar contra seus semelhantes. Hoje, o Exército ainda está impregnado da sensação de que historicamente é um só, e se mantém coeso graças à disciplina; mas não sabemos se […] continuará sendo assim no futuro.87
Isso não era muito reconfortante. Já em janeiro de 1913, o Estado-Maior começou a contemplar a “necessidade de que a Alemanha se defendesse sozinha da França, da Rússia e da Inglaterra”.88 De fato, foi a Áustria-Hungria que teve de lutar praticamente sem ajuda na fase inicial da guerra, porque o Plano Schlieffen empregou a maior parte do Exército alemão na Frente Ocidental. Em um grande fiasco habsburgo, Conrad inicialmente enviou à Sérvia quatro divisões de sua reserva de 12, mas precisou trazê-las de volta e enviá-las à Galícia quando ficou claro que o 8º Exército alemão não os ajudaria contra os russos.89
Além disso, a incompetência da Marinha e do Exército da Itália foi exposta pela invasão de Trípoli (Líbia) – nada tranquila – em 1911.90 Mesmo antes disso, diplomatas britânicos gracejavam, afirmando ser “ótimo que a Itália permanecesse na Tríplice Aliança e fosse motivo de debilidade”.91 Visivelmente, os alemães não tinham sérias expectativas de que os italianos lutariam em 1914.92
Havia duas respostas possíveis a essa sensação de poder militar diminuído. Uma era evitar a guerra e impedir que o outro lado atacasse: esta havia sido a conclusão final do velho Moltke. A outra era começar uma guerra preventiva antes que as coisas ficassem piores. Esse foi o argumento defendido repetidas vezes por generais alemães. O próprio velho Moltke havia instado Bismarck a atacar a França novamente em 1875 e, 12 anos mais tarde, defendeu que essa medida fosse tomada contra a Rússia.93 Seu sucessor, Waldersee, foi ainda mais devoto da ideia de um primeiro ataque. Até mesmo Schlieffen encorajou um ataque à França enquanto a Rússia estava distraída pela guerra contra o Japão.94 Conrad também era adepto da mentalidade preventiva: ele propôs um ataque contra a Itália em 1907 e em 1911, e em 1913 instou a Áustria a “separar os eslavos do sul e do oeste, em termos culturais e políticos, dos eslavos do leste, para retirá-los da influência russa”: em outras palavras, um primeiro ataque à Sérvia.95 Em todas as ocasiões antes de 1914, os políticos rejeitaram essas propostas. Em 1914, no entanto, a questão parecia ter se tornado irrefutável. Em abril daquele ano, o príncipe herdeiro disse ao diplomata norte-americano Joseph Grew “que a Alemanha combateria a Rússia em breve”.96 Mas o jovem Moltke disse para Conrad em Carlsbad, em 12 de maio de 1914: “Esperar mais significava uma diminuição de nossas chances; no que depende de nossos homens, não podemos entrar em um confronto com a Rússia”; e, oito dias mais tarde, repetiu isso a Gottlieb von Jagow, ministro das Relações Exteriores da Alemanha, enquanto eles dirigiam de Potsdam a Berlim:
A Rússia estaria totalmente militarizada em dois ou três anos. A superioridade militar de nossos inimigos seria tanta que ele [Moltke] não fazia ideia de como poderíamos lidar com eles. Do seu ponto de vista, não havia outra alternativa senão travar uma guerra preventiva a fim de derrotar o inimigo enquanto ainda éramos mais ou menos capazes de fazê-lo.97
Um mês depois, após um banquete em Hamburgo, o imperador alemão Guilherme II reproduziu essa análise em uma conversa com o banqueiro Max Warburg:
Ele estava preocupado com os armamentos russos, com a construção da ferrovia planejada, e detectou [nisso] os preparativos para uma guerra contra nós em 1916. Reclamou da nossa carência de ligações ferroviárias até a Frente Ocidental contra a França; e insinuou […] se não seria melhor atacar agora, em vez de esperar.98
Isso foi exatamente uma semana antes dos assassinatos em Sarajevo. Em outras palavras, os argumentos a favor de um ataque preventivo já estavam bem consolidados em Berlim antes de a crise diplomática fornecer um pretexto quase perfeito (um casus belli que Viena não ignoraria). Os historiadores há muito estão cientes disso; eles nem sempre admitiram como válidos os temores do Estado-Maior alemão. Curiosamente, foi o jornal britânico Nation que acertou em março de 1914: “O Exército prussiano”, dizia, “não seria humano se não sonhasse em se antecipar à acumulação esmagadora de força.”99 No mês seguinte, Grey discordou; ele duvidava “que a Alemanha faria um ataque agressivo e ameaçador à Rússia” porque, “ainda que tivesse sucesso no início, os recursos da Rússia eram tão grandes que, a longo prazo, a Alemanha estaria exaurida […]”.100 Mas lorde Bryce, que mais tarde se tornaria famoso por ser o autor do relatório oficial britânico sobre as atrocidades alemãs na Bélgica, observou em junho que a Alemanha estava “certa de se armar e […] precisaria de todos os homens” contra a Rússia, que estava “rapidamente se tornando uma ameaça para a Europa”.101
A questão continua a ser debatida: a Alemanha pretendia apenas uma vitória diplomática em 1914, dividindo as potências da Entente, ou sempre teve a intenção de iniciar uma guerra europeia, quer fosse “preventiva”, quer fosse mais deliberadamente expansionista? Nesse contexto, vale notar que, na época em que o príncipe herdeiro fez sua previsão para Joseph Grew, o Estado-Maior estava preocupado sobretudo com um aumento em sua malha ferroviária estratégica; estimava-se que levaria vários anos para que as obras fossem concluídas e, como observou o chanceler em abril, elas não começariam até 1915.102 Em todo caso, o que parece claro é que, ao contrário da lenda arraigada da “ilusão de uma guerra breve”, os líderes militares alemães não foram para a guerra em agosto de 1914 na expectativa de celebrar o Natal na avenida Champs Elysées.103
Só havia um consolo para os alemães: parte de seus possíveis inimigos estava ainda menos capacitada para a guerra. O Exército belga, por exemplo, estava lamentavelmente despreparado para resistir a uma ofensiva alemã. Seus oficiais francófonos estavam para seus subalternos flamengos como os oficiais austríacos estavam para o Bom Soldado Švejk*. Os cálculos da época mostra vam que, em 1840, o Exército belga era cerca de um nono do tamanho do da Prússia e um quinto do da França, mas em 1912 os números respectivos eram um quadragésimo e um trinta e cinco avos. Em termos per capita, os suíços gastavam 50% mais em defesa; os holandeses, 100% mais; e os franceses, quatro vezes mais. Em 1909, apesar da firme resistência dos católicos flamengos, o serviço militar se tornou obrigatório para um filho em cada família. No entanto, o período de serviço foi reduzido para 15 meses, e o orçamento do Exército manteve-se inalterado. Finalmente, em 30 de agosto de 1913, aprovou-se a Lei da Milícia, o que aumentou a entrada anual de recrutas de 15 mil para 33 mil ao eliminar a exceção para filhos mais novos; a meta era um Exército que pudesse contar com 340 mil homens no caso de uma guerra. Isso foi acompanhado de uma reorganização da estrutura de divisões do Exército. Mas as reformas tiveram pouco tempo para ser efetivadas: as forças mobilizadas em julho de 1914 totalizavam 200 mil homens, e entre estas havia apenas 120 metralhadoras e nenhuma artilharia pesada.104
Não muito mais preparada estava a potência que se comprometeu publicamente a defender a neutralidade da Bélgica. Apesar da experiência da Guerra dos Bôeres, que havia trazido à tona graves deficiências no Exército britânico, muito pouco foi feito para remediá-las antes de 1914.105 Aos olhos dos liberais, o alistamento obrigatório – recomendado por três investigações oficiais sucessivas – era uma abominação; as propostas de lorde Roberts em favor de um Exército Nacional eram apenas a ponta do iceberg. Como ministro da Guerra, o máximo que Haldane pôde fazer foi criar o Exército Territorial, uma unidade reserva composta de voluntários. Considerando estes, mais os reservistas, a Marinha e os soldados britânicos no Exército indiano, o número de homens britânicos “comprometidos com o serviço militar em tempos de paz” chegava a cerca de 750 mil.106 Beckett afirmou que em torno de 8% da população masculina havia passado por alguma forma de serviço militar, incluindo as unidades Yeomanry e, mais tarde, os Exércitos Territoriais; e que, às vésperas da guerra, cerca de dois quintos de todos os adolescentes estavam alistados em organizações de jovens semimilitares, como a Brigada de Garotos ou os Escoteiros. Mas isso dificilmente poderia ser considerado uma reserva séria para o Exército regular, sobretudo porque apenas 7% dos soldados dos Exércitos Territoriais estavam preparados para servir no exterior.107 Quando Eyre Crowe propôs a Henry Wilson que os Exércitos Territoriais poderiam ser enviados à França no caso de uma guerra, este explodiu: “Que absoluta ignorância da guerra! Sem oficiais, sem transporte, sem mobilidade, sem coerção para ir, sem disciplina, armas obsoletas, sem cavalos etc. Até mesmo Haldane disse que não serviriam”.108 O Exército regular, do qual dependia o compromisso continental da Grã-Bretanha, continuava sendo uma força diminuta – apenas sete divisões (incluindo uma de cavalaria), em comparação com as 98,5 divisões da Alemanha. Como sir Henry Wilson disse a Roberts, aquilo era “muito pouco”. O lorde chanceler Earl Loreburn apresentou o mesmo argumento em janeiro de 1912: “Se a guerra começasse, não poderíamos evitar que [a França] fosse invadida. Se quisermos prosseguir com a política atual, precisaremos enviar não 150 mil homens, mas pelo menos meio milhão de homens para ser de alguma utilidade”.109 Além do mais, os soldados continuavam a ser recrutados daquela que, em 1901, o embaixador alemão chamou de “escória da população […] seres desprezíveis, de estatura menor do que a média, idiotas e moralmente degradados”.110 Dito nesses termos, foi uma grande grosseria, mas é inegável que o Exército regular britânico recrutou principalmente jovens semiletrados e não qualificados da classe trabalhadora.111 Apesar das melhorias no Estado-Maior, o corpo de oficiais estava dominado por homens cujo grande mérito era uma “boa postura” na montaria.112 Havia considerável resistência à adoção da metralhadora, e as reservas de munição continuavam a se basear na experiência sul-africana.113 Também se fez muito pouco esforço para aprender com as lições econômicas da Guerra dos Bôeres: apesar dos alertas do Comitê Murray, o Gabinete de Guerra continuou a contar com um pequeno “círculo mágico” de fornecedores para suprir suas necessidades.114 Em suma, quase nada foi feito para garantir que a Grã-Bretanha fosse capaz de contribuir de maneira efetiva ao lado dos franceses na esperada guerra franco-germânica. A Grã-Bretanha estava simplesmente “despreparada” para a guerra.115 Aos poucos, e apesar (ou talvez por causa) dos esforços de Esher para enfraquecer o acordo continental, o Comitê de Defesa Imperial deixou de ser um foro para debates estratégicos importantes. Em seu lugar, surgiu uma obsessão tecnocrata com a logística tal como definida nos “Manuais de Guerra” de cada departamento – com a consequência de que os desentendimentos dos ramos rivais das Forças Armadas não foram devidamente solucionados até que a guerra começou.116
Considerando-se tudo isso, os argumentos de Wilson no “Conselho de Guerra” de agosto de 1911 no Comitê de Defesa Imperial haviam sido calculistas. Como o Kaiser, ele não acreditava realmente que a diminuta Força Expedicionária Britânica pudesse fazer uma “diferença notável” em uma futura guerra europeia contra a Alemanha; ele apenas esperava fortalecer o Gabinete de Guerra para um futuro confronto interdepartamental contra o Almirantado.
Durante e após a crise de julho de 1914, o governo francês sempre argumentou que uma declaração inequívoca de apoio britânico à França em uma etapa inicial teria sido suficiente para deter a Alemanha – uma afirmação posteriormente repetida por críticos de Grey, incluindo Lloyd George e Lansdowne, bem como pelo maior cronista das origens imediatas da guerra, Albertini.117 Mas permanece o fato de que a Força Expedicionária Britânica não era grande o suficiente para preocupar o Estado-Maior alemão.118 Como afirmou J. M. Hobson, só um grande compromisso continental – no sentido de um Exército regular britânico mais numeroso – poderia ter impedido os alemães de atacarem a França primeiro.119 Mas isso equivale ao argumento da época a favor do serviço militar obrigatório, e – conforme veremos – pode ser considerado um evento contrafatual sem plausibilidade política sob um governo liberal.120 Conforme Lloyd George disse a Balfour em agosto de 1910 (quando começaram a flertar com a ideia de um governo de coalizão), o serviço militar obrigatório estava fora de cogitação “por causa dos fortes preconceitos que seriam incitados diante da mera suposição de que um governo contemplava a possibilidade de implementar alguma coisa do tipo”.121 Ainda em 25 de agosto de 1914, os argumentos de Churchill no Gabinete a favor da “necessidade de um serviço militar obrigatório” foram rejeitados por todos os presentes, incluindo Asquith e Lloyd George, porque “o povo não daria ouvido a tais propostas”.122 A política britânica era, portanto, como Grey afirmou, “aspirar a uma política europeia sem manter um grande Exército”.123 A ideia de que isso era possível foi, talvez, a maior de todas as ilusões britânicas.

1. Grey, Twenty-Five Years, vol. 1, p. 90.
2. Stevenson, Armaments, p. 412, 415, 421.
3. Herrmann, Arming of Europe, p. 228ss.
4. Steinberg, “Copenhagen Complex”, p. 27ss; Kennedy, “German World Policy”, p. 610s, 619s.
5. Monger, End of Isolation, p. 12.
6. Amery, Life of Joseph Chamberlain, vol. IV, p. 197.
7. F. Fischer, “Foreign Policy of Imperial Germany”, p. 21.
8. Offer, First World War, p. 291. Ver também Steinberg, “Copenhagen Complex”, p. 32-38.
9. Berghahn, Germany and the Approach of War, p. 40s, 53.
10. Kennedy, “German World Policy”, p. 618, 621, 625.
11. Marder, British Naval Policy, p. 503.
12. Steinberg, “Copenhagen Complex”, p. 31-38; Monger, End of Isolation, p. 189.
13. O Dreadnought, lançado em 1906, foi o primeiro encouraçado com armamento de calibre único e movido a turbina a vapor. Sobre o pânico de 1908-1909, ver Stevenson, Armaments, p. 166s.
14. Howard, “Edwardian Arms Race”, p. 91s; Berghahn, Germany and the Approach of War, p. 59s; Mackay, Fisher of Kilverstone, p. 398s.
15. Bond, War and Society, p. 103. No entanto, os da Rússia não eram verdadeiros dreadnoughts.
16. I. Clarke, Great War, p. 295.
17. Berghahn, Germany and the Approach of War, p. 254.
18. Offer, First World War, p. 252. Ver também Mackay, Fisher of Kilverstone, p. 370.
19. Offer, First World War, p. 237s; D. French, British Economic and Strategic Planning, p. 28.
20. PRO FO 800/87, de Tweedmouth para Grey, 17 e 24 de agosto de 1907; 1º de janeiro de 1909; de Beresford para Grey, 26 de junho de 1911; de Grey para Churchill, 23 de dezembro de 1911. Cf. Hankey, Supreme Command, vol. I, p. 88, 91, 97-100; Offer, First World War, p. 252, 274-280, e o relatório da delegação britânica em G. Gooch e Temperley, British Documents, vol. VIII, p. 295s. Desdenhosamente, Fisher previu que as resoluções “cairiam por terra assim que as armas disparassem”.
21. Offer, First World War, p. 232.
22. Ibid., p. 298s.
23. Förster, “Dreams and Nightmares”, p. 19.
24. Langhorne, “Great Britain and Germany”, p. 293.
25. W. S. Churchill, World Crisis, vol. I, p. 100.
26. Churchill se referia à Tríplice Aliança, e não ao resto do mundo. Ver os comentários céticos de McKenna em 1912, PRO CAB 2/2, reunião do Comitê de Defesa Imperial, 4 de julho de 1912: “Esta estimativa foi baseada no pressuposto de que era necessário ter 60% de superioridade sobre a Alemanha e condições de igualdade com a Áustria e a Itália no Mediterrâneo; em outras palavras, um padrão de três poderes, mais uma margem de 60%”. O retorno alemão ao “ritmo binário” de 1912 prometia uma vantagem cada vez maior aos britânicos.
27. PRO FO 800/87, de Churchill para Grey, 24 de outubro de 1913.
28. W. S. Churchill, World Crisis, vol. I, p. 168; R. Churchill, Winston S. Churchill, vol. II, parte III, p. 1820, 1825-1837, 1856s. Cf. K. Morgan, Lloyd George Family Letters, p. 165s; Lloyd George, War Memoirs, vol. I, p. 5.
29. W. S. Churchill, World Crisis, vol. I, p. 178s.
30. Asquith, Genesis, p. 143s.
31. Rowland, Last Liberal Governments, vol. II. p. 278s. Isso não foi tão engenhoso quanto parece: Lloyd George estava deliberadamente tentando atenuar as estimativas navais de Churchill (ver Capítulo 5). Cf. PRO FO 800/87, de Churchill para Grey, 8 de janeiro de 1914; PRO FO 800/55, de Bertie para Grey, 8 de janeiro de 1914.
32. PRO CAB 38/11/15, artigo do Estado-Maior, “Possibility of a Raid by a Hostile Force on the British Coast”, 26 de março de 1906. Cf. D’Ombrain, Military Machinery, p. 86s.
33. PRO CAB 38/13/27, Comitê de Defesa Imperial (CID), notas do secretário do subcomitê, “Invasion”, 20 de julho de 1907; PRO CAB 3/14/7, declaração de Balfour, 29 de maio de 1908; PRO CAB 3/2/1/44A, relatório do subcomitê do CID, 22 de outubro de 1908.
34. PRO CAB 38/26/13, Comitê de Defesa Imperial (CID), relatório do subcomitê, “Attack on the British Isles from Overseas”, 15 de abril de 1914; PRO CAB 38/28/40, nota do secretário do CID, “Attack on the British Isles from Overseas”, 14 de setembro de 1914.
35. Andrew, Secret Service, p. 71.
36. Förster, “Dreams and Nightmares”, p. 8.
37. Ibid., p. 9.
38. Ibid., p. 11.
39. Embora a possibilidade de um Ostaufmarsch contra a Rússia sozinha não tenha sido totalmente abandonada até 1913.
40. Ritter, Der Schlieffenplan; Turner, “Significance of the Schlieffen Plan”, p. 199-221; Rothenberg, “Moltke, Schlieffen”, p. 296-325.
41. Kehr, “Klassenkämpfe und Rüstungspolitik”, esp. p. 98s, 110.
42. Förster, Der doppelte Militarismus, p. 1-10, 297-300; Förster, “Alter und neuer Militarismus”, p. 122-145.
43. Förster, Der doppelte Militarismus, p. 92.
44. Ibid., p. 26s, 91s, 133, 147.
45. Bucholz, Moltke, Schlieffen, p. 133.
46. Ver Craig, Politics of the Prussian Army, p. 232-238; Trumpener, “Junkers and Others”, p. 29-47. Cf. Demeter, Das deutsche Offizierkorps; Kitchen, German Officer Corps.
47. Berghahn, Germany and the Approach of War, p. 113.
48. Förster, Der doppelte Militarismus, p. 251.
49. Ritter, Sword and the Sceptre, vol. II, p. 223ss; F. Fischer, War of Illusions, p. 180ss.
50. Jaurausch, Enigmatic Chancellor, p. 96.
51. Förster, Der doppelte Militarismus, p. 268s.
52. Kroboth, Finanzpolitik, p. 211.
53. Dukes, “Militarism and Arms Policy”, p. 19-35.
54. Números de Reichsarchiv, Weltkrieg, erster Reihe, vol. I, p. 38s; Statistisches Jahrbuch, p. 343. Ver também Förster, Der doppelte Militarismus, p. 28, 37, 96s, 129, 190, 248; Bucholz, Moltke, Schlieffen, p. 62, 67, 159; Berghahn, Germany and the Approach of War, p. xii; Joll, Origins, p. 72; Snyder, Ideology of the Offensive, p. 42, 107.
55. Reichsarchiv, Weltkrieg, erster Reihe, vol. I, p. 22.
56. Förster, Der doppelte Militarismus, p. 205.
57. Stone, Eastern Front, p. 39; Kennedy, Rise and Fall of the Great Powers, esp. p. 261, 307. Cf. Rothenberg, Army of Francis Joseph; Rutherford, Russian Army.
58. Förster, Der doppelte Militarismus, p. 164.
59. Bernhardi, Germany and the Next War, p. 124s.
60. Ritter, Sword and the Sceptre, vol. III, p. 246.
61. Stone, Europe Transformed, p. 327s.
62. Ver E. Weber, Nationalist Revival in France.
63. Angell, Great Illusion, p. 153. Ver também p. 190s. sobre “a onda de socialismo alemão”.
64. Bucholz, Moltke, Schlieffen, p. 106, 128, n. 40.
65. Ibid., p. 316.
66. Ver os comentários de Jagow em julho de 1914, citados em Geiss, July 1914, doc. 30.
67. Bucholz, Moltke, Schlieffen, p. 306s.; Stone, Eastern Front, p. 17-42.
68. Stone, Europe Transformed, p. 334.
69. Porch, “French Army”, vol. I, p. 117-143.
70. Herrmann, Arming of Europe, p. 25. Joffre foi uma escolha infeliz de generalissimo: seu predecessor, o general Michel, havia concebido uma estratégia muito mais realista para se opor ao Plano Schlieffen. No entanto, é verdade que só alguns poucos oficiais franceses tinham uma perspectiva realista da guerra que estava por vir: Henri Mordacq foi um dos raros pessimistas que achava que a guerra duraria mais do que umas poucas semanas: Bond, War and Society, p. 83. A melhor maneira de entender os vários planos é estudar os mapas em Banks, Arthur, Military Atlas, p. 16-32.
71. Ver, em geral, Challener, French Theory.
72. Creveld, Supplying War, p. 119-124, 138-141.
73. Förster, “Dreams and Nightmares”, p. 17s, 24. Grifo meu.
74. Ibid., p. 23. Ver também Förster, “Der deutsche Generalstab”, p. 61-95.
75. M. Gilbert, First World War, p. 7; Geiss, July 1914, p. 36s.
76. Steinberg, “Copenhagen Complex”, p. 41.
77. Förster, “Dreams and Nightmares”, p. 20.
78. Moltke, Generaloberst Helmuth von Moltke, p. 13s.
79. Joll, Origins, p. 186.
80. Ver Bernhardi, Germany and the Next War.
81. Stern, “Bethmann Hollweg”, p. 97. Cf. Afflerbach, Falkenhayn, p. 147-171.
82. Jarausch, Enigmatic Chancellor, p. 96.
83. Ibid., p. 99.
84. Mommsen, “Topos of Inevitable War”, p. 23-44.
85. Erdmann, “Zur Beurteilung Bethmann Hollwegs”, p. 536s; Stern, “Bethmann Hollweg”, p. 91. Questionou-se a confiabilidade do diário de Riezler para esse período.
86. Berghahn, Germany and the Approach of War, p. 203.
87. F. Fischer, War of Illusions, p. 172.
88. Schulte, Europäische Krise, p. 22s, 48.
89. Stone, Eastern Front, p. 73-82; Stone, “Moltke and Conrad”, p. 222-251; Herwig, First World War, p. 87ss.
90. Bond, War and Society, p. 86, 94.
91. K. Wilson, Policy of the Entente, p. 112.
92. F. Fischer, War of Illusions, p. 170.
93. Förster, “Facing ‘People’s War’”, p. 209-230.
94. Förster, “Dreams and Nightmares”, p. 16s.
95. F. Fischer, War of Illusions, p. 172; Bond, War and Society, p. 86.
96. Seligmann, “Germany and the Origins”, p. 317.
97. F. Fischer, War of Illusions, p. 164-167, Geiss, July 1914, docs. 3, 4. Grifo meu.
98. MMW, documentos de Max Warburg, “Jahresbericht 1914”, p. 1s; Warburg, Aus meinen Aufzeichnungen, p. 29.
99. Weinroth, “British Radicals”, p. 680.
100. Ibid., p. 512.
101. T. Wilson, “Lord Bryce’s Investigation”, p. 370s.
102. Trumpener, “War Premeditated”, p. 84.
103. L. Farrar, Short-War Illusion.
104. Kossmann, Low Countries, p. 518s; Stevenson, Armaments, p. 301.
105. Summers, “Militarism in Britain”, p. 111.
106. Offer, “Going to War”, p. 231.
107. Beckett, “Nation in Arms”, p. 5ss; Reader, At Duty’s Call, p. 107.
108. Collier, Brasshat, p. 117.
109. K. Wilson, Policy of the Entente, p. 69.
110. Frase de Metternich, citada em Amery, Life of Joseph Chamberlain, vol. IV, p. 151.
111. Dallas e Gill, Unknown Army, p. 17, 24; Bourne, “British Working Man in Arms”, p. 338; Beckett, “Nation in Arms”, p. 7; Fuller, Troop Morale, p. 47; Sheffield, “Officer – Man Relations”, p. 413. Cf. Morris, Scaremongers, p. 225-232.
112. J. Gooch, Plans of War, p. 47, 71-89.
113. Travers, “Offensive”, p. 531-553; Travers, “Technology”, p. 264-286.
114. Trebilcock, “War and the Failure of Industrial Mobilisation”, p. 150-161. Sobre a falta de preparações de artilharia, ver Adams, Arms and the Wizard, p. 170.
115. K. Wilson, Policy of the Entente, p. 63s. Cf. J. Gooch, Plans of War, p. 289; D’Ombrain, War Machinery, p. 102.
116. PRO CAB 4/3, Comitê de Defesa Imperial (CID), documento 121-126, 4 novembro de 1910; PRO CAB 2/2, reunião do CID, 25 de abril de 1912; PRO CAB 2/3, reunião do CID, 5 de agosto de 1913. Cf. J. Gooch, Plans of War, p. 97ss, 265, 289, 294f; D’Ombrain, War Machinery, p. 17, 109ss, 265, 271ss; D. French, British Economic and Strategic Planning, p. 18, 74-84. Cf. Hankey, Supreme Command, vol. I, p. 122, 178.
117. Albertini, Origins, vol. III, p. 331, 368, 644; Lloyd George, War Memoirs, vol. I, p. 57s; Hazlehurst, Politicians at War, p. 41. Para abordagens similares, ver Gordon, “Domestic Conflicts and the Origins of the First World War”, p. 195s.
118. Grey, Twenty-Five Years, vol. II, p. 42; Asquith, Genesis, p. 202; Trevelyan, Grey of Falloden, p. 257. Ver Nicolson, “Edwardian England”, p. 145-148.
119. J. M. Hobson, “Military-Extraction Gap”, p. 461-506. O argumento também é apresentado em Friedberg, Weary Titan, p. 301s.
120. McKeown, “Foreign Policy”, p. 259-272.
121. D. French, British Economic and Strategic Planning, p. 10.
122. Hazlehurst, Politicians at War, p. 301.
123. K. Wilson, “Grey”, p. 177.